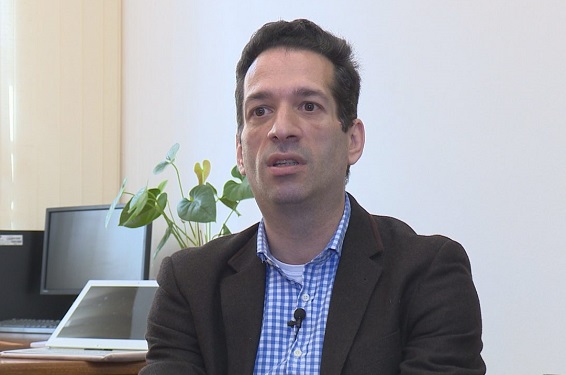Disputar la ciudad – MONTEALEGRE; ROZAS-KRAUSE (EURE)
 Pía Montealegre / www.merreader.emol.cl
Pía Montealegre / www.merreader.emol.cl
MONTEALEGRE, Pía; ROZAS-KRAUSE, Valentina. Disputar la ciudad: sometimiento, resistencia, memorialización, reparación. Talca: Bifurcaciones, 2018. 200 pp. Resenha de: VIVANCO, Lucero de. Disputar la ciudad: sometimiento, resistencia, memorialización, reparación. EURE (Santiago) v.46 n.138 Santiago mayo 2020.
El extenso desarrollo de los estudios sobre autoritarismos, violencia política, derechos humanos y memoria social en América Latina y el mundo no hace más que expresar la necesidad de continuar profundizando estos temas, labor indispensable para la consolidación de prácticas, instituciones y regímenes democráticos. Bajo la convicción de que estas problemáticas deben ser tratadas interdisciplinarmente si se quiere capturar la complejidad que las caracteriza, Disputar la ciudad: sometimiento, resistencia, memorialización, reparación, constituye una significativa contribución, al ingresar desde la perspectiva contemporánea y global de los estudios urbanísticos y sus vínculos con el campo de la memoria.
En consecuencia, el primer aporte que hay que reconocerle a este libro es su aproximación enriquecedora, pues añade una dimensión espacial a las interpretaciones temporales y simbólicas del problema. Se rebasan así tanto las reflexiones historiográficas como los estudios sobre memoria hechos desde la literatura y los estudios culturales, usualmente anclados en las representaciones estéticas y el develamiento de las ideologías políticas dominantes. Disputar la ciudad, alternativamente, despliega las relaciones teóricas –y sus correspondientes estudios de casos– entre procesos de memorialización y transformaciones urbanas, entendiendo que los contextos urbanos y las disputas de poder entre la ciudadanía y los regímenes autoritarios promueven e instauran los espacios de memoria.
En efecto, en la “Introducción”, de las editoras, y en los ocho capítulos que conforman este libro subyace, por un lado, el entendimiento de que la memoria –siguiendo a Elizabeth Jelin– es una zona de batalla, una instancia en la que narrativas, subjetividades y afectos ingresan a la arena del poder en busca de visibilidad, reconocimiento y legitimación; y, por otro lado, la idea de la ciudad como una geografía contenciosa, de enfrentamiento continuo entre grupos hegemónicos y subalternos, centro y periferia, gentrificación y desplazamiento, transformación y tradición, regulación y segregación, violencia y resistencia. La vinculación entre violencia de Estado y disciplinamiento urbano, primero, y entre espacio y memoria histórica, después, se explica y justifica entonces como una instancia relacional, bajo la impronta de la “disputa”. En este sentido, el libro está alineado sobre dos pilares: uno teórico, que amplía el concepto de memoria con el de pugna de poder; y otro metodológico, que explora las transformaciones urbanas que son suscitadas por los procesos de memorialización.
Otro de los aportes de este libro es que los ocho capítulos que siguen a la introducción se organizan en cuatro secciones funcionales a cuatro conceptos clave, señalados ya en el título del libro: “sometimiento”, “resistencia”, “memorialización” y “reparación”. Estos conceptos son comprendidos, según las propias editoras, como “espacios relacionales de la memoria” (p. 9), donde el espacio no se limita a ser definido como un escenario contenedor, y la memoria no se constriñe a ser concebida como proceso social anclado en el tiempo. Sometimiento, resistencia, memorialización y reparación son, bajo esta perspectiva, operaciones de disputa urbana.
Como explican las propias editoras, pero también como se desprende de los estudios de caso, el sometimiento, primer eje conceptual del libro, está dado, desde la perspectiva racionalista de la modernidad, por “la metáfora de la ciudad como un cuerpo enfermo, como un enemigo del orden que debe ser dominado” (p. 9). En este marco, urbanismo es la marca del poder jerarquizado actuando sobre el espacio, para sanar, higienizar, controlar la ciudad; para someterla. Los estudios que conforman esta sección tienen el foco puesto en dos ciudades europeas: Roma y Sofía.
Respecto de Roma, Federico Caprotti, en “Patologías de la ciudad: hipocondría urbana en el fascismo italiano”, recuerda y discute la particular visión negativa que el fascismo tenía de esta ciudad, y que expresaba mediante un discurso dualista explícito que contraponía la “naturaleza prístina” a la “sociedad enferma”. El estudio analiza las razones que cimientan este rechazo: por un lado, el temor ante el potencial subversivo de la ciudad y, por otro lado, el peligro de la ciudad en tanto portadora de afecciones sociales y morales. Se explica así la orientación de las políticas de dicho régimen hacia la ruralización y la desurbanización.
Respecto de Sofía, en “Sobre los sin-casa: caos, enfermedad y suciedad en la Sofía de entreguerras”, Veronika Dimitrova aborda críticamente el tema de las transformaciones urbanas experimentadas por esta ciudad en el marco de su designación como capital de Bulgaria. Explica la autora que la ciudad se reguló casi exclusivamente en su parte central, dejando la periferia fuera de la planificación, lo que tuvo como consecuencia el desarrollo de barrios de personas “pobres sin-casa”. Dimitrova sostiene que, a diferencia de otros Estados europeos, “aquí es posible hablar de modernización y expansión urbana en cuanto proceso de negociación” (p. 47) que se lleva a cabo como una expresión de resistencia al poder.
“Si el sometimiento es una acción relacionada al poder jerárquico, la resistencia es inherente al poder ciudadano” (p. 11), plantean las editoras siguiendo a Michel De Certeau. Se entiende así que el espacio se configura como una táctica de resistencia urbana, segundo eje conceptual, frente a un amplio arco de violencias: desde las más visibles y materiales de los regímenes autoritarios, hasta los violentos eufemismos del capital. Bajo este segundo apartado se presentan dos importantes estudios sobre las ciudades de Santiago de Chile y São Paulo.
Diene Soles, en “Reconfigurando lo público y lo privado en el Santiago de Pinochet: un análisis de género”, releva la capacidad articuladora de las mujeres para crear organizaciones ciudadanas, no solo frente al empobrecimiento de la población derivado de la implementación de políticas neoliberales, sino también demandando la vuelta a la democracia como un modo de rechazar la violencia inmanente del régimen. Argumenta la autora que, mediante estas tácticas de resistencia, se quiebra la distribución tradicional de género entre lo privado y lo público. Se logra así que los espacios íntimos y domésticos sean usados como lugares de acciones colectivas y, más importante aún, que las mujeres se conciban a sí mismas como actoras sociales y agentes de cambio.
En “Procesos de significación en los modos de resistencia urbana”, Beatriz Dias y Eneida de Almeida levantan el caso de la megaciudad de São Paulo, para reconocer en ella diversos colectivos de arte urbano que actúan desde una periferia marginada, excedente directo del poder económico. Estos colectivos se despliegan desde el pensamiento-acción, como faces de la lucha por el derecho a la ciudad y la resistencia a la segregación urbana. Un punto central de la argumentación radica en la construcción de identidades, en tanto que los sujetos que interactúan con los colectivos, “al transformar la ciudad a partir de los deseos y necesidades colectivas, su propia identidad también es reconfigurada” (p.102).
Por memorialización, tercer eje conceptual, las editoras entienden “la concreción de un recuerdo en un lugar”, la instancia en la que “la relación entre memoria y espacio se materializa” (p. 13). Santiago de Chile y Medellín son las ciudades que reciben la atención de los dos estudios de esta sección. Coinciden ambos en expresar las disputas por la memoria cuando se trata de conmemorar a las víctimas, ya que la “víctima” –su definición, su identificación, su reconocimiento–, muchas veces imposibilitada de abandonar una “zona gris”, en el decir de Primo Levi, es también motivo de pugnas y exclusiones.
Carolina Aguilera, en “Santiago de Chile visto a través de espejos negros. La memoria pública sobre la violencia política del periodo 1970-1991 en una ciudad fragmentada”, hace el seguimiento histórico y crítico a la inscripción de memoriales en el espacio público en conmemoración de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, perpetradas desde 1970 hasta el fin del régimen pinochetista. Su argumento busca demostrar la interconexión entre la distribución urbana de los memoriales y la propia segregación socioeconómica de la ciudad, develando así la heterogeneidad subyacente a los procesos de memorialización y la naturaleza combativa de la memoria. Cabe destacar que la autora facilita a sus lectores una línea de tiempo y una cartografía de los memoriales erigidos durante este periodo.
Medellín viene de la mano de Pablo Villalba en “Entre ruinas, lugares y objetos residuales: la memoria en la ciudad de Medellín”. En línea con los “ejercicios de memoria” que están en la base de los procesos de paz en Colombia, el autor afirma que se ha admitido un pluralismo en las marcas y los eventos urbanos de memorialización. Sin embargo, advierte de una serie de fenómenos que, al darse en paralelo, parecen promover una política de la amnesia: la condición efímera de las acciones conmemorativas, junto a la vertiginosidad del ritmo citadino; la destrucción del patrimonio arquitectónico y la comercialización para el consumo masivo y turístico de la memoria (por ejemplo, la narco-memoria) convergen así para forjar, más bien, una memoria sin historia.
El cuarto y último eje conceptual de este libro, reparación, asume que, “así como la memoria requiere de lugares para situarse, la reparación también tiene una dimensión espacial” (p. 15). Los memoriales cumplen, entonces, una doble función: pública, de rememorar el trauma social y generar espacios para rituales de reparación; e íntima, al ser una instancia de recogimiento efectivo para los procesos de duelo y sanación individual, especialmente cuando no se cuenta con los cuerpos de las víctimas para realizar los correspondientes ritos funerarios. Los estudios que se desarrollan bajo este eje abordan ambas dimensiones de la reparación. Pero también retoman la idea de la ciudad como organismo vivo, para plantear que esta puede y debe ser atendida en la recuperación de sus heridas.
Bajo el concepto de reparación, el estudio de Yael Navarro, “Espacios afectivos y objetos melancólicos: la ruina y la producción de conocimiento antropológico”, se focaliza en Chipre en el contexto de su división en 1974. Ese año, como consecuencia de la invasión turca, chipriotas griegos y turcos tuvieron que desplazarse dentro de la isla a las zonas que les habían sido asignadas en función de sus respectivas nacionalidades. En este contexto, y con una impronta teórica fuerte, Navarro discurre por una serie de categorías como afecto, melancolía, ruina, huella y fantasma, para indagar ya no en las relaciones intersubjetivas de la memoria, sino en las interacciones de lo humano y lo material, teniendo en la superficie del discurso la pregunta implícita por la posibilidad de reparación.
Finalmente, Estela Schindel, en “«Ahora los vecinos van perdiendo el temor». La apertura de ex centros de detención y la restauración del tejido social en Argentina”, se focaliza en la recuperación de los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención en la dictadura, y en su conversión en espacios de memorialización. Se trata de una geografía del terror recapturada y reapropiada por la ciudadanía, para revertir las narrativas del miedo, contribuir con la reconstrucción de “los lazos sociales quebrados” y promover “prácticas y usos del espacio contrarios a los impuestos por el régimen dictatorial” (p. 185).
De acuerdo con lo dicho, este libro resulta imprescindible por varios motivos. Entre ellos, por la acuciosidad del tratamiento teórico llevado a cabo por las editoras y por los autores y autoras en los distintos casos de estudio. También porque el conjunto de capítulos constituye un catálogo de calidad de las variadas metodologías y aproximaciones críticas con las que se puede acometer reflexivamente las relaciones entre ciudad, violencia y memoria. Por último, porque el libro en su organicidad amplía desde las disciplinas espaciales el necesario e inagotado campo de los estudios sobre memorialización y derechos humanos.
Este libro llega para reforzar la colección Cuervos en Casa de la editorial Bifurcaciones –Conocer la ciudad, filmar la ciudad, mover la ciudad (próximo)–, que reúne valiosos trabajos que aportan, desde distintas temáticas y perspectivas, a una comprensión más integral y compleja de los fenómenos urbanos.
Referências
De Certeau, M. (1984). The practice of everyday life. Berkeley, ca: University of California Press. [ Links ]
Halbawchs, M. (1992). On collective memory (The Heritage of Sociology Series). Chicago, il: University of Chicago Press. [ Links ]
Jelin, E. (2012). Los trabajos de la memoria (Serie Estudios sobre Memoria y Violencia). Lima: Instituto de Estudios Peruanos (iep). [ Links ]
Levi, P. (2011). Trilogía de Auschwitz. Barcelona: El Aleph. [ Links ]
Lucero de Vivanco – Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile. Email: lvivanco@uahurtado.cl.
World heritage and sustainable development. New directions in world heritage managemen – LARSEN; LOGAL (EURE)
LARSEN, P. B.; LOGAN, W. World heritage and sustainable development. New directions in world heritage management. Londres / Nueva York: Routledge, 2018. 310 p. Resenha de: NAVAS-CARRILLO, Daniel; NAVARRO-DEPAPLOS, Javier. Patrimonio mundial y desarrollo sostenible: ¿hacia un nuevo modelo de gestión? EURE (Santiago) v.46 n.138 Santiago mayo 2020.
La publicación que nos ocupa, editada por P. B. Larsen y W. Logan (2018), es el resultado de una ambiciosa iniciativa colectiva surgida tras la aprobación de la “Política para la incorporación de la perspectiva del Desarrollo Sostenible en los procesos de la Convención del Patrimonio Mundial”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2015 (Unesco, 2015a). A través de dieciocho capítulos organizados en cuatro secciones, los editores presentan un riguroso análisis donde recogen la amplia y diversa red de perspectivas que se tejen en torno a los bienes culturales, naturales o mixtos declarados o incoados como Patrimonio Mundial. De esta forma, Larsen y Logan exponen, en voz de reconocidos autores, desde una muestra de las posiciones oficialistas vinculadas al Centro del Patrimonio Mundial (incluyendo a los organismos asesores del Comité del Patrimonio Mundial y otras administraciones públicas involucradas), hasta abiertos e innovadores puntos de vista provenientes del ámbito universitario y profesional.
Incluido en la colección Key Issues in Cultural Heritage, este número busca aportar una visión internacional y transdisciplinar al debate abierto sobre la actualización de la gestión de estos bienes. El panel de los autores, formado por catorce mujeres y trece hombres, tiene representación de los cinco continentes, a través de más de quince países (Francia, Australia, Bélgica, Bruselas, Colombia, Dinamarca, Alemania, Italia, Rusia, Surinam, Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía, Reino Unido y Vietnam, entre ellos). La edición trata de motivar así un espacio de encuentro de especial interés entre investigadores y expertos en este campo de estudio desde múltiples disciplinas, que van desde la Arquitectura, la Antropología, la Arqueología o las Artes Gráficas hasta la Administración de Empresas, la Ecología, la Etnología, la Geología o el Urbanismo. Esta doble característica, multidisciplinar e internacional, establece a su vez una doble entrada a la publicación: por una parte, a partir de la reflexión y conocimiento proporcionados por los autores, se constituye como material de referencia para avanzar en la implementación del documento aprobado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; por otra, sirve de manual para conocer las posiciones tomadas en la materia desde campos científicos adyacentes o complementarios. El resultado es, por lo tanto, una colección de textos de necesaria consulta no solo para la actualización del conocimiento de los profesionales de diferentes generaciones, sino que también resulta indispensable su incorporación como material docente en forma de abecé para la correcta capacitación de los futuros responsables de la protección, conservación y gestión del Patrimonio Mundial.
El capítulo introductorio juega un papel determinante en la comprensión de las claves que subyacen en la estructura y organización de las distintas contribuciones. El primer bloque se completa con dos ensayos que profundizan en los principales hitos acontecidos en la evolución conceptual y legislativa de la relación entre la noción de Desarrollo Sostenible y la Convención de Patrimonio Mundial. Los autores de estos capítulos ubican el inicio de este proceso en el “Informe Brundtland”, de octubre de 1987, y en las “Directrices Operativas de 1994”. A pesar de la aparición de estos dos hitos a finales del siglo xx, los avances más significativos han tenido lugar en la última década, aunque sin haber trascendido más allá de la dimensión teórica. Este hecho nos lleva a resaltar la validez de esta monografía, la cual queda respaldada por su reciente fecha de publicación y por su potencial para convertirse en un necesario manual para la implementación de las determinaciones y directrices incluidas en la mencionada Política de Desarrollo Sostenible y Patrimonio Mundial.
La segunda sección, aunque construida a partir de enfoques teóricos, está alineada con la dimensión instrumental, por su planteamiento de retos para la modernización de las herramientas de gestión. Sus seis capítulos recogen en detalle los principios generales (Derechos humanos, Igualdad, Sostenibilidad a largo plazo), así como las cuatro dimensiones centrales (desarrollo económico inclusivo, desarrollo social inclusivo, paz y seguridad, sostenibilidad ambiental) a partir de los cuales se ha estructurado el documento de la Unesco. Es reseñable que mientras cuatro de los seis capítulos se centran respectivamente en cada una de estas dimensiones, los otros dos discuten sobre dos aspectos específicos dentro de la dimensión social de la sostenibilidad: los derechos de los pueblos indígenas y la igualdad de género. En opinión de estos autores, esos dos capítulos son especialmente pertinentes y necesarios. El patrimonio se ha argumentado tradicionalmente desde un punto de vista elitista, eurocéntrico y masculino. La atención en las comunidades rurales, las clases trabajadoras o los pueblos indígenas ha aumentado considerablemente durante el último siglo, mientras que la perspectiva de género está comenzando a incluirse en los discursos patrimonialistas. En este sentido, el desafío no solo reside en considerar a estos otros actores en la valoración patrimonial. También implica garantizar el respeto de sus derechos en el entorno de los enclaves declarados Patrimonio Mundial, especialmente en relación con los efectos del turismo y la globalización y las amenazas que suponen las concatenadas crisis económicas globales o el auge de los proteccionismos nacionalistas. La pertinencia de la inclusión de estos grupos o derechos viene determinada, además, por la necesidad de contribuir en el camino hacia la plena igualdad y el empoderamiento de los grupos de exclusión como actores vitales para la consecución y consolidación de un desarrollo sostenible.
A continuación, los editores recogen la visión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (icomos), y el Centro Internacional para el Estudio de la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (iccrom), los tres organismos internacionales que asesoran al Comité del Patrimonio Mundial en sus decisiones. Por un lado, esta tercera parte está destinada a que neófitos comprendan el esfuerzo que realizan estas instituciones para garantizar la preservación del Patrimonio Mundial. Cada capítulo sintetiza la trayectoria de una de estas organizaciones desde su fundación, de acuerdo con los cambios conceptuales experimentados al respecto. Por otro lado, buscan aclarar la posible integración de sus funciones y responsabilidades (evaluaciones de las propiedades del patrimonio natural, cultural y mixto, así como la provisión de instrumentos, conocimientos y habilidades para su conservación) en las pautas de Desarrollo Sostenible. A este respecto son particularmente interesantes las recientes iniciativas desarrolladas por icomos para promover la implementación de la política desde una perspectiva ética.
La última parte se centra en proporcionar enfoques empíricos y de escala múltiple a través de una amplia selección de estudios de casos internacionales. Este apartado recoge el análisis del conjunto de sitios del Patrimonio Mundial de Vietnam, incluidos cinco sitios culturales (Ciudadela Imperial de Thang Long-Hanoi, Ciudadela de la Dinastía Ho, Complejo de Monumentos Hué, Ciudad Antigua de Hoi An y Santuario de My Son), dos sitios naturales (Bahía de Ha-Long y Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang) y un sitio mixto (Complejo Paisajístico de Trang An). Otros llevan a cabo el estudio detallado de un sitio cultural único, como en los casos de El Cairo histórico (Egipto), Ciudad de Bamberg (Alemania), Paisaje Cultural Cafetero Colombiano o Ciudad de Piedra de Zanzíbar (Tanzania). El último de los aportes se ocupa del centro histórico incluido en la zona de amortiguamiento del Sistema de Irrigación de Dujiangyan (China). Los argumentos que motivan la selección podrían ser discutidos; de hecho, en ella se refleja el desequilibrio que persiste actualmente entre los sitios culturales y las otras dos categorías, bienes naturales y mixtos, exigiendo una mayor proporción de estos últimos. Sin embargo, los casos seleccionados cubren las cinco regiones de la Unesco (África, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa y América del Norte, América Latina y el Caribe), las tres categorías, los diez criterios de selección y un amplio marco temporal (1979-2014). Los editores parecen así haber tratado de incorporar las directrices recogidas en el documento Estrategia global para una Lista del patrimonio mundial equilibrada, representativa y creíble (Unesco, 2015b), alineándose y aplicando el equilibrio geográfico como piedra fundamental de un reparto justo y certero.
Antes de concluir esta recomendación, es necesario resaltar el interesante índice terminológico que se incluye al final del libro. Con más de 300 entradas, permite profundizar en el conocimiento particularizado de los conceptos, temas y agentes recogidos a lo largo de los diferentes capítulos. En este sentido, el libro de Peter Billie Larsen y William Logan no solo nos permite abordar los desafíos actuales en la adaptación de los procesos del Patrimonio Mundial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que se presenta como un texto oportuno y de gran actualidad que abre la puerta a múltiples investigaciones transversales. El visible esfuerzo de la edición por reconocer, desarrollar y divulgar los distintos sistemas de gestión de los bienes del Patrimonio Mundial, una fase fundamental para garantizar el legado del patrimonio a las generaciones presentes y futuras, es quizás el aspecto más definitorio y singular de la publicación. El marco teórico-práctico que queda definido por Larsen y Logan parece poder convertirse en un referente crucial para gestores noveles, investigadores experimentados o administraciones públicas interesadas en aplicar políticas conscientes y sostenibles en torno a un Patrimonio Mundial que deberá enfrentarse en próximas fechas a retos consustanciales a su viabilidad.
Referências
Brundtland, G. H. (1987). Our common future. Brundtland Report. Oxford: Oxford University Press. En http://netzwerk-n.org/wp-content/uploads/2017/04/0_Brundtland_Report-1987-Our_Common_Future.pdf [ Links ]
Jokilehto, J., Cleere, H., Denyer, S., & Petzet, M. (2005). The World Heritage List “Filling the Gaps – an Action Plan for the Future. Munich: International Council on Monuments and Sites (icomos). En http://openarchive.icomos.org/433/1/Monuments_and_Sites_12_Gaps.pdf [ Links ]
Unesco (1994). Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000138676_spa [ Links ]
Unesco (2015a). Policy for the integration of a Sustainable Development perspective into the processes of the World Heritage Convention. Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. En https://whc.unesco.org/document/139146 [ Links ]
Unesco (2015b). Estrategia global para una Lista del patrimonio mundial equilibrada, representativa y creíble: Informe sobre el seguimiento de la resolución. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. http://whc.unesco.org/archive/2015/whc15-20ga-9-es.pdf [ Links ]
Daniel Navas-Carrillo – Universidad de Sevilla, Sevilla, España. E-mail: D. Navas-Carrillo dnavas@us.es
Javier Navarro-De-Pablos – Universidad de Sevilla, Sevilla, España. E-mail: J. Navarro-De Pablos, fnavarro@us.es.
O comércio de marfim no mundo atlântico: circulação e produção (séculos XV a XIX) | Vanicléia Silva Santos, Eduardo França Paiva e René Lommez Gomes
Lançada em 2018 pela Clio Gestão Cultural e Editora, a obra O comércio de marfim no mundo atlântico: circulação e produção (séculos XV a XIX) integra o sétimo volume da série Estudos Africanos, promovido pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade Federal de Minas Gerais (Diretoria de Relações Internacionais). A proposta da série é fomentar um pensamento multidisciplinar e etnicamente diverso ao criar e fortalecer parcerias entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros em diferentes áreas de atuação. Sônia Queiroz, professora do departamento de Letras da UFMG e membra do Centro de Estudos Africanos (CEA), na apresentação da série, afirma ser pretensão do volume “dar materialidade à cooperação Brasil-África” (SANTOS; PAIVA; GOMES, 2018, p. 10).
O livro faz parte de uma consistente parceria de pesquisa entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade de Lisboa (UL), que objetiva realizar o levantamento de novas fontes e dados sobre a produção, circulação e usos do marfim no contexto atlântico. Tal parceria foi criada em 2013 e reafirmada em 2015 no projeto Marfins Africanos no Mundo Atlântico: uma reavaliação dos marfins luso-africanos, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) de Portugal. A intenção do projeto, e das produções acadêmicas financiadas por ele, como o volume em questão, é compreender a circulação atlântica dos marfins africanos e suas articulações com o Índico; investigar a diversidade de centros produtores de objetos de marfim na África e suas linguagens artísticas; complexificar os estudos do marfim africano em seus aspectos cultural, intelectual e material; e trazer novas informações a respeito da multiplicidade de intercâmbios culturais estabelecidos em diversas áreas do Atlântico e do Índico. Os pesquisadores buscam, assim, preencher a lacuna historiográfica sobre o tema em relação ao Brasil, à África em suas diversidades culturais e econômicas e às rotas atlânticas. Leia Mais
Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000 – BURKE (S-RH)
BURKE, Peter. Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000. São Paulo: Editora Unesp, 2017. Resenha de: SANTOS, Jair. O conhecimento sem pátria. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, v. 25, n. 42, p. 222-226, jan./jun. 2020.
Todos os que acompanham a atualidade política sabem que um tema em particular está quase sempre presente no debate público, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos: a imigração. A polêmica discussão é animada não somente pelos jornalistas e atores políticos, com posicionamentos nem sempre apaziguadores, mas também pelos intelectuais. São inúmeros os acadêmicos – filósofos, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, juristas – que tentam, através de uma análise mais serena e por meio dos instrumentos fornecidos pela ciência que professam, analisar a imigração como um fenômeno social complexo, com diferentes causas e diversas consequências para a sociedade. O último livro de Peter Burke, fruto de conferências proferidas na Historical Society of Israel em 2015, é um belo exemplo de como um historiador, de quem se costuma esperar apenas um olhar crítico sobre o passado, também pode enriquecer a reflexão acerca de problemas atuais. A obra Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, publicada em 2017, estuda um tipo específico de imigração: a dos intelectuais que deixaram seu país natal, de modo espontâneo ou forçado, e prosseguiram a sua produção intelectual em outras terras. A partir desse grupo seleto de imigrantes, o autor examina os efeitos do encontro – ou eventualmente do choque – entre duas culturas na produção e difusão do conhecimento. Este é o pressuposto central do livro: a imigração é um fato social de efeitos recíprocos, isto é, tanto os indivíduos que imigram quanto a sociedade estrangeira que os acolhe são de algum modo afetados e transformados pelo intercâmbio que se opera. Está claro, portanto, que o livro refuta o argumento, às vezes invocado em âmbito político, segundo o qual a influência estrangeira é necessariamente nociva para a cultura nacional. Leia Mais
Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial – Flávia Pedreira
Da esquerda para direita: autores Armando Siqueira, Gabriella Cordeiro e Luiz Gustavo; Flávia Sá (organizadora) e convidados /
PEDREIRA, Flávia de Sá. Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: LCTE Editorial, 2019. 340 p. Resenha de: VAINFAS, Ronaldo. Nordeste flagelado pelos nazistas. Varia História. Belo Horizonte, v. 36, no. 71, Mai./ Ago. 2020.
A Segunda Guerra Mundial terminou há 75 anos. Terminou na Europa em maio de 1945, com a rendição alemã aos soviéticos após o suicídio de Hitler e no Japão em setembro, após as bombas lançadas pelos EUA, em agosto, sobre Hiroshima e Nagasaki. O Brasil passou por tudo isso. Viveu a crise da democracia liberal nos anos 1930, tempo do Estado Novo; participou da Segunda Guerra, enviando tropas para a Itália.
Mas o que aqui nos interessa é o Brasil no tempo da Segunda Guerra Mundial. Memórias de combatentes e pesquisa historiográfica reconstruíram a atuação brasileira na Itália. Elogio do alto comando dos aliados à bravura dos soldados brasileiros. Risco alto que alguns enfrentaram, depois da guerra, desmontando minas em diversos países ocupados pela Alemanha. Heróis de guerra, foram desprezados na volta ao Brasil, sobretudo a soldadesca, porque os oficiais foram condecoradíssimos. A maioria dos “pracinhas” que lutaram na Itália foram recrutados nas regiões Norte e Nordeste do país. A região foi sistematicamente atacada pelos submarinos alemães em 1942.
O livro organizado pela historiadora Flávia de Sá Pedreira, Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial, publicado pela LCTE Editorial em 2019, não deixa dúvida a respeito. Os ataques começaram no Sergipe, em agosto de 1942, quando o submarino U-507 afundou seis cargueiros brasileiros de diversas tonelagens que, acrescente-se, também faziam transporte de passageiros. Luiz Pinto Cruz e Lina Aras abrem o livro com texto bem documentado sobre tais ataques. Eles ocorreram entre 15 e 17 de agosto, afundando os navios Baependy, por ironia de fabricação alemã, o Araraquara, o Aníbal Benévolo, o Itagiba e o Arará. A cada navio torpedeado, pânico total na capital e até no interior. Parentes desesperados à procura de sobreviventes. Corpos despedaçados nas praias. Medo de uma iminente invasão alemã. Blackouts.
Dilton Maynard nos conta como o medo assolou Aracajú naqueles dias, com a explosão do Baependy. Os ataques prosseguiram na costa baiana, onde os alemães torpedearam outros quatro navios brasileiros. Total de desaparecidos no Sergipe e na Bahia: 612. Luana Quadros Carvalho analisa as consequências dos ataques ao litoral de Salvador: crises de abastecimento, inflação, mercado paralelo, o que atingiu sobretudo a população pobre da cidade.
É sabido que o número de navios mercantes brasileiros afundados por submarinos alemães – e também italianos – foi muito maior do que os torpedeados na costa nordestina. Mas a Segunda Guerra alcançou o Nordeste de forma implacável, antes de tudo porque os ataques ocorreram em mar brasileiro. O impacto social dos eventos foi tremendo. Como a censura do DIP levou dias para permitir a divulgação das notícias, o Nordeste vivenciou uma autêntica caça às bruxas nos primeiros dias da tragédia. Casas e lojas de estrangeiros, suspeitos de espionagem, foram vandalizadas. Quando a imprensa é censurada, predomina o boca-a boca e todo abuso se torna banal.
Seja como for, havia uma rede de espionagem alemã espalhada pelo Brasil e por outros países sul-americanos, como a Argentina e o Chile. Juliana Leite reconstrói a rede de espionagem nazista, que contava com cerca de dez células ramificadas em vários estados do país. A autora particulariza o caso pernambucano, onde empresas alemãs instaladas no Recife funcionavam como locais de recrutamento, a exemplo da Siemens Schukert S.A e a Dreschler & Cia. Os grandes espiões, porém, provinham da diplomacia alemã instalada no país, e não era desconhecida das autoridades brasileiras, com sua DIP sempre atenta.
A obra em foco inclui estudos sobre várias cidades nordestinas, examinando a reação popular aos afundamentos de cargueiros brasileiros e outros aspectos da entrada do Brasil na guerra. Osias Santos Filho analisa o impulso que a guerra mundial deu à indústria têxtil maranhense. Mas, a partir de 1942, algumas atividades refluíram, como a exportação de babaçu, cujo principal importador era a Alemanha, além da carestia, inflação, racionamentos e falta de combustível. No vizinho Piauí, Clarice Lira analisa a grande mobilização popular em 1942. Não faltaram perseguições a alemães, italianos e japoneses residentes em Teresina.
A Paraíba, como expõe Daviana da Silva, foi estado dos mais destacados na mobilização do Brasil, com passeatas e comícios em Campina Grande e João Pessoa. O jornal A União publicou fotografias de paraibanos que viajavam nos navios afundados, incluindo notícia sobre a vida de cada um. A autora sugere que tais eventos despertaram não apenas um surto de brasilidade como a emergência de um sentimento de paraibanidade, assunto caro à história regional, como a de outros estados que por séculos gravitaram na órbita pernambucana. Sérgio Conceição estuda o caso de Alagoas e concentra o capítulo na história socioeconômica da região, analisando a ascensão da produção de borracha, incentivada pelo regime Vargas, vista com grande entusiasmo por algumas lideranças, criticada por outros apegados à produção de cana e de algodão.
Antônio Silva Filho examina o cotidiano de Fortaleza nos anos 1940, cidade que também abrigou base militar dos EUA, discorrendo sobre os primórdios da “americanização” de certos costumes locais. Na abertura do capítulo, uma alusão ao carnaval de rua na capital, em 1946, em especial a formação de um bloco chamado “Cordão das Coca-Colas”, formado por sargentos brasileiros da FAB, que satirizava “as moças da sociedade local que haviam namorado soldados norte-americanos” (p.37). O autor é cauteloso na análise do tal desprezo pelas moças que “namoravam ianques”, citando mesmo uma crônica de Raquel de Queiroz, datada de 1944, para quem “só os rapazes são um pouco contra os nossos aliados, rosnam bastante, falam em mentalidade colonial (das mulheres cearenses)” (p.38). Por minha conta, digo que esse bloco era tremendamente misógino e machista, conforme sugeriu, com elegância, a grande escritora brasileira.
Em obra com tal recorte regional, é certo que não poderia faltar capítulos sobre o Rio Grande do Norte, antes de tudo por causa do famoso Parnamirim Field, então distrito de Natal, hoje município autônomo, que abrigou duas bases norte-americanas nos anos 1940. Parnamirim Field não foi a única base aeronaval dos EUA no Brasil, como muitos sabem, mas era a principal, designada em mapas militares dos EUA como Trampoline of Victory porque estava na rota ofensiva dos norte-americanos nas campanhas da África e do sul da Itália. Foi nela que ocorreram os contatos mais intensos entre a população brasileira e os norte-americanos, tema que já foi objeto de estudos sérios e documentados.
A obra contém três capítulos sobre a terra potiguar. Anna Cordeiro estuda o bairro da Ribeira, em Natal, favorecido pelo boom populacional ocorrido na cidade; Luiz Gustavo Costa contribui com biografia de um natural do Rio Grande do Norte, veterano da FEB na Itália; e enfim, Flávia Pedreira contribui com trabalho sobre os intelectuais potiguares em face da base norte-americana erigida em Natal. Entre eles, Câmara Cascudo, que se mostrou ambivalente, segundo Flávia, diante da influência de Paranamirim Field sobre a cultura local: ora reconhecia o valor da “boa música” tocada pelas orquestras norte-americanas nas praças natalenses, ora depreciava a difusão de artigos como a “borracha açucarada”: os chicletes.
As balizas teórico-metodológicas do livro aparecem na apresentação da organizadora. Em primeiro lugar, uma alusão ao clássico de Hannah Arendt, Origens do totalitarismo (2000), para realçar que as atrocidades do nazismo contaram com o apoio das massas. Isso é válido para a Alemanha hitlerista, e o seria para a Itália fascista e para a o regime stalinista na URSS. Para o Brasil não, apesar de que o regime liderado por Getúlio Vargas, após 1937, aspirava a ser um Estado fascista, do tipo definido por Mussolini: “Tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado”.
A historiografia brasileira, porém, com a exceção da produzida em São Paulo, qualifica o Estado brasileiro entre 1937 e 1945 como autoritário, mas não fascista, muito menos totalitário. A própria aliança do Brasil com os EUA, em 1942, contribui, factualmente, para relativizar, ou mesmo negar, a vocação fascista do Brasil na ditadura de Getúlio Vargas. Com a eclosão da guerra, em 1939, o governo permaneceu no attentisme, atento ao desenrolar do conflito, como diria o historiador francês Pierre Laborie (2010), ao caracterizar a atitude dos franceses em face da ocupação alemã. A maioria não resistiu à ocupação nazista, tampouco foi colaboracionista, senão agiu conforme as circunstâncias, transitando no que chama, com acuidade, de zona cinzenta.
Getúlio Vargas parece ter esposado o attentisme, atuando em uma zona cinzenta no campo diplomático. Muitos historiadores brasileiros preferem tratar o Estado Novo como berço do Trabalhismo, com seu viés nacionalista e popular, ao invés de assimilá-lo aos totalitarismos alemão e italiano. Nesse ponto, o paradigma teórico adotado no livro é um tanto anódino, em especial porque a imensa maioria dos textos da coletânea descreve experiências de ataques alemães ao Nordeste e sua repercussão, sem operar com o conceito. O totalitarismo funciona, antes de tudo, como pano de fundo histórico, em geral atribuído ao regime nazista. Mas vale dizer que, em todos os textos, os autores apontam, de várias maneiras, a contradição visceral do Estado Novo, uma ditadura inspirada nos regimes autoritários europeus, que depois se alia aos EUA na luta pela democracia no mundo.
Por outro lado, a alusão de Flávia Pedreira a Paul Ricoeur (2008) parece-me exata para exprimir as pesquisas que dão corpo ao livro. Nas palavras da organizadora, “faz-se a inclusão de entrevistas orais com aqueles que vivenciaram a época e/ou seus descendentes, trazendo à tona um verdadeiro exercício de memória que muito tem a esclarecer os fatos e personagens envolvidos” (Pedreira, 2019, p.8). Uma opção metodológica que atravessa todos os ensaios e nisso acerta em cheio o seu propósito.
Mas penso que não vale a pena alongar tais considerações teórico-metodológicas, por vezes nominalistas, a propósito de livro tão relevante. A história não deve, a meu ver, demonstrar teorias, senão valer-se delas para reconstruir o passado. O livro em causa faz isso à perfeição, malgrado o que afirmei acima. Vista no conjunto, a obra conta uma história do Nordeste para além das secas e da exploração da miséria, desafiando mitologias. Mostra ao vivo o Nordeste atacado pelo nazismo em 1942. Assunto fascinante e obra à altura do tema.
Referências
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. [ Links ]
LABORIE, Pierre. 1940-1944. Os franceses do pensar-duplo. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (org.). A construção social dos regimes autoritários. Legitimidade, consenso e consentimento no século XX, vol. 1: Europa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. [ Links ]
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da UNICAMP, 2008. [ Links ]
Ronaldo Vainfas – Universidade Federal Fluminense Departamento de História Campus de Gragoatá, Niteroi, RJ, 24220-900, Brasil. rvainfas@terra.com.br.
Si je reviens un jour… Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky – TROUILLARD; LAMBERT (APHG)
TROUILLARD, Stéphanie, LAMBERT, Thibaut. Si je reviens un jour… Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky. Paris: Des Ronds dans l’O, 2020. Resenha de: CHANOIR, Yohann. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 30 avr. 2020. Disponível em: <https://www.aphg.fr/Si-je-reviens-un-jour-Les-lettres-retrouvees-de-Louise-Pikovsky-4019> Consultado em 11 jan. 2021.
Un livre, une histoire, l’Histoire
Tout livre, même dessiné, a une histoire. Celui-ci encore plus que les autres. En 2010, dans un lycée parisien, sont retrouvées des lettres et des photographies appartenant à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Arrêtée le 22 janvier 1944, transférée à Drancy avec ses parents, elle est déportée à Auschwitz, d’où elle ne reviendra pas. Le destin de Louise et de sa correspondance épistolaire avec sa professeure de latin-grec est en soi déjà émouvant. Mais il l’est davantage encore par la suite. Retrouvées, les lettres sont lues, mises en valeur dans le lycée de Louise, où une plaque commémorative sur les élèves déportés a pu être posée. Elles ont servi ensuite à nourrir un webdocumentaire réalisé par Stéphanie Trouillard en 2017, auteure que nos lecteurs connaissent bien avec son très beau livre Mon oncle de l’ombre, sur son grand-oncle exécuté en 1944 par les Allemands. Elles sont devenues aujourd’hui une bande dessinée. On retrouvera d’ailleurs quelques-unes de ces lettres et photos à la fin de l’album.
La vie d’une jeune lycéenne parisienne
Née en 1932, Louise est une élève dont la maturité surprendra plus d’un lecteur. Non seulement par la beauté de son raisonnement, par son souci des autres, mais aussi par sa prescience en 1944 que son destin est scellé et qu’elle accepte avec une incroyable résolution. Louise est cependant une jeune fille, comme bien d’autres, avec ses amitiés, ses inimitiés. Elle est aussi une de ces élèves, toujours trop rares, qui saisissent la beauté d’un texte, qui s’accaparent l’enseignement donné, le questionnent, le transforment et lui donnent une plus-value. De fait cet album est aussi celui d’une rencontre, entre une élève et son enseignante. La classe n’épuise pas évidemment la vie de Louise. On plonge dans son quotidien, les repas avec la famille, les chamailleries avec les sœurs et son frère. Le dessinateur a su rendre le caractère spartiate du logement par les couleurs plutôt ternes (seuls les rideaux rouges sous l’évier cassent la palette chromatique). Il a su également l’enrichir par une foule de petits détails, ces « effets de réel » dont parlait Roland Barthes : le torchon qui enveloppe le pain (p. 23), le seau pour les détritus (p. 19) etc. Le sérieux du propos n’exclut pas l’humour. Nos lecteurs attentifs retrouveront le clin d’œil à Hergé et aux aventures de Tintin, une allusion référentielle typique de l’école belge.
La guerre en arrière-plan
Drame singulier en même temps qu’expérience collective subie par des millions de personnes, le destin de Louise n’est pas décontextualisé. Par petites touches, à la manière d’un impressionniste, le dessinateur place des éléments de contexte dans les planches. On y découvre un Paris bien sûr occupé, avec la présence de soldats allemands, un Paris déjà martyrisé par les bombardements (p. 49) mais aussi une capitale où la mort sociale de la population juive est mise en œuvre, avec le dessin bien connu d’une pancarte dressée devant un parc à jeux réservé aux enfants mais interdit aux Juifs (p. 34). L’album offre ainsi un résumé saisissant de la politique de collaboration des autorités avec les nazis : policiers français qui saluent, au détour d’une rue, une patrouille allemande, policiers français qui viennent arrêter Louise et sa famille pour les emmener à Drancy, antichambre de la mort, policiers enfin qui livrent les familles aux nazis. En quelques images, sans le renfort de cartouches, tout est montré, tout est dit. Ces images sont d’autant plus poignantes que les grands-parents de Louise avaient quitté la Russie pour échapper aux pogroms et qu’ils pensaient être libres, heureux, en sécurité. Le destin de Louise est aussi la mort d’une certaine idée de la République.
Un album à lire et à faire lire
Si l’intérêt de cette bande dessinée est naturellement d’ordre mémoriel, il nous semble que l’album joue un rôle tout aussi déterminant dans la pédagogie de la Shoah. Expliquer à des élèves aujourd’hui ce qu’est cet assassinant industriel de masse, n’est pas simple. Cela ne peut se réduire à une collection de mesures et de chiffres. Il est nécessaire d’incarner la « Solution finale », par des exemples précis. Comme le cinéma ou les séries télévisées, la bande dessinée dispose du pouvoir de l’image. À ce titre, en raison de sa richesse, cet album doit s’inviter dans nos pratiques.
Il y a d’abord l’empathie pour une jeune fille de leur âge. Il y a ensuite l’explication sobre et efficace de la mécanique implacable de la Shoah, de l’exclusion à l’arrestation puis à la déportation. La bande dessinée souligne également l’héroïsme au quotidien d’une enseignante, qui fait retirer à Louise pour la photo de classe, sa veste avec l’étoile jaune, car elle est « une élève comme les autres » (p. 45). On imagine la tranquille résolution de notre collègue qui, elle, n’a pas démérité de la haute idée que l’immense majorité du corps enseignant, hier comme aujourd’hui, se fait de la République.
Les larmes de notre collègue s’expliquent ainsi sans doute, pour ne pas avoir pu sauver une jeune vie si prometteuse et par là tout un monde. Qu’elle soit toutefois assurée et rassurée, grâce à elle, et grâce au travail des auteurs de cet album, au soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Louise ne sera plus oubliée.
Yohann Chanoir – Agrégé d’histoire, professeur en classe européenne allemand au Lycée Jean Jaurès de Reims, rédacteur en chef adjoint d’Historiens & Géographes.
[IF]
Der Begriff des Politischen. Synoptische Darstellung der Texte | Carl Schmitt
Autor e livro dispensam apresentações. O impacto suscitado por esse ensaio de 1927 pode ser medido por uma pequena lista dos seus resenhistas de primeira hora, que inclui nomes como Delio Cantimori, Karl Löwith, Eugenio Imaz, Herbert Marcuse, Sérgio Buarque de Holanda e Leo Strauss. A história de sua recepção é fascinante. Um mestre da suspeita como Habermas (2007, p. 80) advertiu que seria um grave erro tentar suprimir as notórias deficiências da teoria política marxista recorrendo à “crítica fascista de Carl Schmitt à democracia”. O tabu habermasiano jamais entusiasmou muita gente, pela simples razão de que Schmitt é um daqueles poucos autores a quem podemos chamar de “bons para pensar”. A esse respeito, uma pequena anedota: Jacob Taubes conta que, quando foi fellow na Universidade de Jerusalém, apenas quatro anos após o fim da Segunda Guerra, teve grande dificuldade para acessar a Teoria da constituição de Schmitt porque o exemplar da biblioteca fora requisitado pelo ministro da justiça, então ocupado com a formulação de um esboço da Constituição para o Estado de Israel (TAUBES, 1987, p. 19). Nos últimos anos, Chantal Mouffe tem apostado suas fichas num híbrido gramsciano-schmittiano que, acredita ela, seria capaz de recarregar as baterias da esquerda num mundo “pós-político”. Tal como o Koselleck de Crítica e crise, que via na moralização uma deturpação do político – uma conhecida tese schmittiana –, Mouffe reclama a mesma neutralização ética do político, além do abandono do racionalismo liberal que permita “[…] mobilizar as paixões para fins democráticos” (MOUFFE, 2007, p. 13-14). Para quem já teve oportunidade de ler Francisco Campos, o déjà vu é inevitável.
O festival de sinais trocados não é menor no campo liberal. Enquanto Johan Huizinga viu nas teses de Schmitt um inequívoco sintoma da “enfermidade espiritual” da Europa do Entreguerras, um influente historiador e teórico do direito como Ernst-Wolfgang Böckenförde assumiu publicamente sua dívida intelectual para com Schmitt e uma inabalada admiração por O conceito do político. E se Mark Lilla rejeita explicitamente toda “política do desespero teológico”, ele é honesto o bastante para admitir, não sem ironia, que o teorema amigo/inimigo, o antiliberalismo e o decisionismo schmittianos são uma espécie de ponto de fuga intelectual em que buscam refúgio e justificação muitos dos que se colocam nos extremos do espectro político. “Não surpreende, assim, que jovens revolucionários que um dia haviam cortado cana em Cuba tomassem o trem para Plettenberg, compartilhando as cabines com seus adversários conservadores” (LILLA, 2017, p. 63). Reinhart Koselleck, Giorgio Agamben e Sérgio Buarque são apenas três entre os muitos que, de fato ou imaginariamente, compraram seus bilhetes para o lugarejo onde se refugiara “o apocalíptico da contrarrevolução” (a expressão é de Taubes). Leia Mais
Vilanova Artigas. Casas paulistas 1967-1981 | Marcio Cotrim
Quanto faças, supremamente faze.
Mais vale, se a memoria é quanto temos,
Lembrar muito que pouco,
E se o muito no pouco te é possível,
Mais ampla liberdade de lembrança
Te tornará teu dono
Fernando Pessoa, Odes de Ricardo Reis (1)
Existe um difundido gênero da história da arquitetura moderna cuja obsessão fundamental consiste em esforçar-se em descobrir as dívidas, as filiações, as heranças, enfim, tudo o quanto há na obra de seus protagonistas daqueles que viveram antes. Quem participa dele se pergunta quanto há de classicismo em Le Corbusier ou Mies, quanto de neoclassicismo nas arquiteturas modernas latino-americanas, quanto de Gunnar Asplund em Alvar Aalto, quanto de Louis Sullivan em Frank Lloyd Wright, quanto de Wright no primeiro Vilanova Artigas, quanto de Le Corbusier no segundo, e assim sucessivamente. Geralmente, essa estratégia não decepciona seus autores: permite ancorar personagens e objetos em uma história de aparência sólida, satisfazendo estes historiadores, que desfrutam felizes do resultado. Nessa maneira de fazer história, mais próxima da comprovação superficial do que da verdadeira genealogia e recordação respeitosa, os personagens não parecem ser arremessados, como o Angelus Novus de Walter Benjamin, em direção a um futuro incerto, voltando seus olhares para a catástrofe da qual fogem, mas nos são apresentados como lentos caminhantes, incapazes de perder de vista esse passado. Tal modo implacável de ver o que alguma vez foi novo ou inovador como projeção de alguma epopeia pretérita nos furta a outra importante metade, a que nos permite perguntarmos quanto ha via de porvir nessas propostas que a alguns incomodava e a outros preenchia de vertiginoso prazer. Leia Mais
A modernidade na arquitetura hospitalar | Ana M. G. albano Amora e Renato Gama-Rosa Costa
A modernidade na arquitetura hospitalar, livro organizado por Ana M.G. Albano Amora e Renato Gama-Rosa Costa, oferece ao leitor uma introdução consistente à história da arquitetura dos equipamentos de saúde, permitindo entender suas transformações junto com as da medicina.
Dois momentos se destacam. O primeiro quando foi aplicada a tipologia de pavilhões horizontais afastados entre si e distantes das cidades para atender a estratégia médica de isolamento dos doentes. Com o surgimento de novos medicamentos foi possível a inserção dos hospitais em áreas urbanizadas. A arquitetura desenvolveu novos parâmetros de projeto, já alinhados aos princípios das vanguardas modernas. Assim, o segundo momento foi quando surgiram as construções verticalizadas para melhor localização, o controle dos fluxos para evitar contaminação, os novos dispositivos de conforto ambiental para controle do calor e renovação do ar, os ambientes adequados aos equipamentos e psicologicamente acolhedores aos pacientes. Os hospitais modernos tornaram-se exemplares do papel do arquiteto como coordenador de diferentes disciplinas do conhecimento, conforme destacado por Amora ao citar Rino Levi em seu capítulo. Leia Mais
Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano – KILOMBA (AF)
Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano – KILOMBA (AF)
Grada Kilomba. Foto: Divulgação.
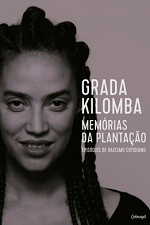 KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Trad. Jess Oliveira.1. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. Resenha de: ARAUJO, Débora Oyayomi. Artefilosofia, Ouro Preto, v.15, n.28, abr., 2020.
KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Trad. Jess Oliveira.1. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. Resenha de: ARAUJO, Débora Oyayomi. Artefilosofia, Ouro Preto, v.15, n.28, abr., 2020.
Ao ler Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano, de Grada Kilomba, a primeira sensação é de um lago calmo, de águas paradas que, quando tocado, provoca ondulações que reverberam em camadas. Quando as fraturas e os traumas produzidos ao longo de séculos são ratificados no contexto político atual por meio de uma política genocida de corpos e identidades diaspóricas, ler Grada Kilomba é uma convocação a revisarmos nossa existência. Por isso, ainda que muito depois de sua publicação original, esse livro chega ao Brasil no tempo certo.
A versão em português de sua tese de doutorado, tese esta laureada, em 2008, com a “mais alta (e rara) distinção acadêmica” (p. 12), nos diz muito mais do que havia sido registrado em sua versão original, escrita em inglês, pois reitera o quanto nosso idioma oficial é colonial e colonizado. Na “Carta da autora à edição brasileira”, coube à Grada Kilomba criar um glossário de termos coloniais, racistas e patriarcais para ressaltar terminologias produtora s do trauma racial, nos lembrando de que “cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade” (p. 14). Assim, enquanto algumas palavras são registradas em itálico devido à problemática “das relações de poder e de violência” (p. 15), outras são simplesmente abreviadas e grafadas em letra minúscula para que, no processo almejado por seu estudo, que envolve a “desmontagem da língua colonial” (p. 18), não rememoremos termos que expressam traumas. Essa primeira característica é imprescindível para o exercício proposto pela autora de produzir oposição absoluta ao “que o projeto colonial predeterminou” (p. 28). Por isso, neste texto, eu também utilizarei os mesmos formatos e, tal qual ela, produzirei o texto em primeira pessoa. Escrever em primeira pessoa e demarcar sua subjetividade é, sem dúvida, uma convocação de Grada Kilomba a todas as pessoas negras que lêem seu livro. Mas vai além, pois propõe o despojamento das armaduras coloniais e acadêmicas que nos aprisionam em modelos rijos de produção científica. Isso se evidencia não somente pela introdução (denominada “Tornando-se sujeito”), mas por todo o sumário, cuja proposta é de identificar, tratar e curar o trauma vivenciado pelo contato da pessoa negra com a branca, no processo de colonização de corpos e mentes da segunda sobre a primeira. Por isso, nada mais propício do que Memórias da plantação como título da obra, dada a capacidade de captura e dissecação do trauma colonial produzido por meio da Plantation. O seu subtítulo compromete-se com a contemporaneidade e a atemporalidade do trauma: o racismo cotidiano que “de repente coloca o sujeito negro em uma cena colonial na qual, como centro do cenário de uma plantação, ele é aprisionado como a/o ‘ Outra/o ’ subordinado e exótico” (p. 30).
Seu estudo tem como objetivo exprimir a realidade psicológica do racismo cotidiano manifestado, na forma de episódios, por relatos subjetivos, autopercepções e narrativas biográficas, de duas mulheres negras, sendo uma afro-alemã e outra afro-estadunidense que vive na Ale manha. Nesse processo, uma segunda marcante característica é o comprometimento da obra com uma abordagem interpretativa fenomenológica, envolvendo duas importantes dimensões: a escrita em primeira pessoa, entendendo que “[e]u sou quem descreve minha própria história, e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge como ato político. […] enquanto escrevo, eu me torno a narradora e a escritora da minha própria realidade, a autora e a autoridade da minha própria história.” (p. 28); o investimento na mais descrição do fenômeno em si e menos na abstração dos relatos subjetivos de mulheres negras, sob pena de esse processo “facilmente silenciar suas vozes no intuito de objetivá-las sob terminologias universais” (p. 89). Assim, seu estudo responde a um “desejo duplo: o de se opor àquele lugar de ‘Outridade’ e o de inventar a nós mesmos de (modo) novo” (p. 28).
Dividido em quatorze capítulos, Grada Kilomba perfaz as estratégias raciais operadas pela Plantation e atualizadas nas ações cotidianas contemporâneas. O silêncio é metaforizado, no primeiro capítulo, pela máscara, representante do colonialismo. De outro lado, as metáforas do mito da objetividade e da neutralidade acadêmica são exploradas no segundo capítulo (intitulado “Quem pode falar? Falando do Centro, Descolonizando o Conhecimento”), atuando, ao lado do primeiro, como um exercício de dissecação do racismo como discurso, e explorando e denunciando os processos de descrédito intelectual e acadêmico produzido sobre os corpos e identidades postas à margem. Com isso, a primeira cura ao trauma proposta pela autora envolve a necessidade de descolonização do conhecimento, reconhecendo a potência da posição à margem: “Falar sobre margem como um lugar de criatividade pode, sem dúvida, dar vazão ao perigo de romantizar a opressão. […] No entanto, bell hooks argumenta que este não é um exercício romântico, mas o simples reconhecimento da margem como uma posição complexa que incorpora mais de um local. A margem é tanto um local de repressão quanto um local de resistência […]” (p. 69). Isso envolve, pelo próprio exercício realizado pela autora, o reconhecimento de outras metodologias investigativas e de outros olhares interpretativos. O modo de produzir a pesquisa é impactado diretamente, pois realça as maneiras com o nos apresentamos ao mundo e como somos afetados pelo mundo à nossa volta. Assim, no texto de Grada Kilomba, somos, com nossa subjetividade e experiência individual com o racismo, convocadas/os a nos apresentar ao estudo, como interlocutoras/es ativas/os, críticas/os e conscientes do nosso papel social. É nessa perspectiva que sou impelida a assumir minha posição neste texto resenhístico a partir da minha trajetória pessoal como mulher negra e vivenciadora de experiências cotidianas com o racismo. Não seria possível de outro modo produzir qualquer síntese crítica da obra em questão.
O capítulo 3, “Dizendo o indizível – Definindo o racismo”, produz uma revisão teórica condizente com a proposta de descolonização do conhecimento: ao invés de recuperar a etimologia do termo e sua trajetória ao longo dos séculos, o racismo é apresentado por meio de autoras/es que o interpretam no plano cotidiano das relações sociais. Philomena Essed e Paul Mecheril são os nomes de destaque responsáveis por expor as próprias teor ias raciais e o protagonismo branco em suas definições: “Nós somos, por assim dizer, fixadas/os e medidas/os a partir do exterior, por interesses específicos que satisfaçam os critérios políticos do sujeito branco […]” (p. 73). Assim, a autora acena uma problemática pouco explorada quando se discute o mito da neutralidade: a de que as formulações, teorizações e epistemologias sobre o racismo podem estar sendo confortavelmente produzidas por intelectuais brancas/os que não necessariamente revisam sua própria condição de branquitude. Por isso o capítulo ressalta a necessidade de a pessoa negra tornar-se sujeito falante, ou, nas palavras de Mecheril (p. 74), a “perspectiva do sujeito”, em nível político, social e individual. Ao fazer isso, a autora encaminha-se para a definição do racismo por meio de três características simultâneas por ele assumidas: a construção de/da diferença; a ligação com valores hierárquicos intrínsecos; e o poder de base histórica, política, social e econômica. E, ao expor tais características, a autora ressalta uma afirmação amplamente difundida por nós, estudiosas/os negras/as das relações raciais, em especial no contexto brasileiro: “É a combinação do preconceito e do poder que forma o racismo. E, nesse sentido, o racismo é a suprema cia branca. Outros grupos raciais não podem ser racistas nem performar o racismo, pois não possuem o poder” (p. 76). É imprescindível, para nós, que intelectuais negras/os e intelectuais brancas/os engajadas/os assumam tal perspectiva pois, ainda que seja um aspecto simples e óbvio na interpretação das relações raciais, a compreensão de que poder e racismo são intrinsecamente ligados é uma operação complexa para muitos que resistem em manter sua perspectiva colonial e colonizadora de enxergar o mundo.
Contudo, um aspecto pouco explorado pela autora são as facetas desse racismo: ao passo que ela se dedica a explorar com relativo detalhamento alguns aspectos do cotidiano dos discursos racistas, ao procurar definir racismo estrutural e institucional, Grada Kilomba restringe-se a apresentá-los de modo sintético e sinonímicos, em certa medida. Já a descrição e conceituação do “racismo cotidiano”, uma categoria proposta pela autora – e que, como já destacado desde o início deste texto, representa sua base analítica –, há um maior detalhamento, com destaque para as formas em que o sujeito negro é percebido e que o relegam à condição de “outro”: infantilização, primitivização, incivilização, animalização e erotização. Nesse sentido, a autora conclui que é nos contextos cotidianos que a pessoa negra se depara com tais formas e, por isso, não se trata de experiências pontuais e sim corriqueiras que se repetem “incessantemente ao longo da biografia de alguém” (p. 80).
Nesse capítulo são apresentados os pressupostos metodológicos da pesquisa a partir da perspectiva da “pesquisa centrada em sujeitos ”, tomando como referencial analítico a teoria psicanalítica e pós-colonial a partir de Frantz Fanon. Nessa dimensão, a pesquisa emerge no exame das “experiências, autopercepções e negociações de identidade descritas pelo sujeito e pela perspectiva do sujeito ” (p. 81) e do study up, proposta metodológica em que pesquisadoras/es investigam membros do seu próprio grupo social. Tal proposta é mediada por uma “subjetividade consciente”: a compreensão de que ainda que a/o pesquisadora/a – e membro do grupo – não aceite sem críticas todas as declarações da pessoa entrevistada, ela respeita seus relatos acerca do racismo e demonstra “interesse genuíno em eventos ordinários da vida cotidiana” (p. 83). Assim, as relações hierárquicas frequentemente produzidas entre pesquisadoras/es e informantes é diminuída, considerando o compartilhamento de experiências semelhantes com o racismo. Co m o desenho da pesquisa delimitado, o capítulo adentra na descrição dos procedimentos das entrevistas “ não diretivas baseadas em narrativas biográficas ” (p. 85), que envolveram eixos como: percepções de identidade racial e racismo na infância; experiências pessoais e vicárias de racismo na vida cotidiana; percepções de branquitude no imaginário negro ; percepções de beleza feminina negra e questões relacionadas ao cabelo; percepções de feminilidade negra, entre outras. Foram, ao todo, seis mulheres negras participantes: “três afro-alemãs e três mulheres de ascendência africana que vivem na Alemanha: uma ganense, uma afro-brasileira e uma afro-estadunidense” (p. 84), mas ao final apenas duas – Alicia (afro-alemã) e Kathleen (afro-estadunidense) – tiveram suas entrevistas analisadas, devido ao fato, segundo a autora, de que as demais narrativas “não eram tão ricas e diversas quanto as de Alicia e Kathleen” (p. 84). As entrevistas, respondidas em inglês, alemão e português, captaram as mais diversas percepções acerca das memórias e contato com o racismo cotidiano, tema dos capítulos seguintes do livro.
Mas antes das análises, a autora mais uma vez assume a subjetividade como marca da descolonização acadêmica e mental para conectar raça e gênero a partir de uma experiência pessoal vivida: no capítulo 4 “Racismo genderizado – ‘(…) Você gostaria de limpar nossa casa?’ – Conectando ‘raça’ e gênero”, Grada Kilomba explora a necessidade de interpretações entrecruzadas sobre o racismo cotidiano que marca as experiências de mulheres negras, que são racializadas e generificadas. Para tanto, recupera perspectivas de Essed, Fanon, bell hooks, Heidi Safia Mirza e outras para interpretar, analisar e argumentar como operam as correlações entre mulheres negras e homens negros, mulheres brancas e homens brancos na interface de temas como patriarcado, feminismo, sexismo e violência. São expostas contradições do discurso feminista branco, da ideia de sororidade universal, e são evidenciados os limites do homem negro que não é “beneficiado” com o patriarcado. Por outro lado, sua perspectiva também ressalta a condição em que o termo “homem” é utilizado por Fanon tanto para designar “homem negro ” quanto “ser humano”, que acaba por realçar o masculino como condição única de representação da humanidade. Por isso, ressalta a autora, que a “reivindicação de feministas negras não é classificar as estruturas de opressão de tal forma que mulheres negras tenham que escolher entre solidariedade com homens negros ou com mulheres brancas, entre ‘raça’ ou gênero, mas ao contrário, é tornar nossa realidade e experiência visíveis tanto na teoria quanto na história” (p. 108).
Por meio de categorias, trechos das narrativas das entrevistadas foram divididos em capítulos, por temas. No capítulo 5, “Políticas espaciais”, os relatos dimensionam as experiências relacionadas à “Outridade”, ao estrangeirismo e ao estranhamento daquelas mulheres na Alemanha, país onde vivem. Perguntas como “De onde você vem?”, “Como ela fala alemão tão bem?” ou afirmações do tipo “Mas você não pode ser alemã!” são marcadores latentes nos relatos das entrevistadas, refletindo uma espécie de fantasia que domina a realidade acerca da história alemã, ignorando que existem várias histórias sobre uma mesma localidade. Assim, analisa a autora: “racismo não é a falta de informação sobre a/o ‘Outra/o’ – como acredita o senso comum –, mas sim a projeção branca de informações indesejável na/o ‘Outra/o’. Alicia pode explicar eternamente que ela é afro-alemã, contudo, não é sua explicação que importa, mas a adição deliberada de fantasias brancas acerca do que ela deveria ser […]” (p. 117).
O capítulo seguinte, “Políticas do cabelo”, analisa as experiências de violência e opressão que incidem sobre a imagem, autoestima e identidade das mulheres entrevistadas, ressaltando que existe “uma relação entre a consciência racial e a descolonização do corpo negro, bem como entre as ofensas racistas e o controle do corpo negro ” (p. 128). Na tentativa de aliviar as violências sofridas, a adoção de procedimentos de desracialização do “sinal mais significativo de racialização” (entendido, pela autora, como sendo o cabelo) é uma ação latente nas narrativas das entrevistadas. Mas oscilam, em seus discursos, a percepção da invasão de seus corpos por meio do toque, dos olhares de nojo e desprezo e experiências de resistência e consciência política.
“As políticas sexuais” são abordadas no sétimo capítulo da obra e apresentam o cerne da discussão em torno da objetificação e expropriação da humanidade do corpo negro. As histórias, cantigas, mitos e narrativas difundidas desde a infância constroem, para negras/os e brancas/os, uma barreira racial repleta de violência, sadismo e ódio. A autora explora, por meio da noção de “constelação triangular” (forjada a partir do complexo de Édipo em Freud e das ampliações analíticas de Fanon), as situações cotidianas em que o racismo é produzido sem nenhum cerceamento e, pelo contrário, muitas vezes apoiado por outrem: “Por conta de sua função repressiva, a constelação triangular, na qual pessoas negras estão sozinhas e pessoas brancas como um coletivo, permite que o racismo cotidiano seja cometido” (p. 137). Esse processo de triangulação também opera em contextos em que o homem negro é alvo do ódio do homem branco: “Dentro do triângulo do racismo, o sujeito branco ataca ou mata o sujeito negro para abrir espaço para si, pois não pode atacar ou matar o progenitor” (p. 140).
No capítulo 8, intitulado “Políticas da pele”, os relatos das entrevistadas são analisados sob a perspectiva d a deturpação versus identificação racial, que envolvem processos de negação da negritude feita pela pessoa negra ou branca, a depender das relações afetivas estabelecidas entre ambas. É o caso relatado por Alicia, ao ouvir de sua amiga branca que ela não era negra, ou de sua família adotiva, que se referia a ela como mestiça (Mischling), ao passo que as demais pessoas negras eram referidas pejorativamente como N. (Neger). Grada Kilomba interpreta tal processo como um misto entre fobia racial e recompensa: “Isso permite que sentimentos positivos direcionados a Alicia permaneçam intactos, enquanto sentimentos repugnantes e agressivos contra sua negritude são projetados para fora” (p. 147).
Numa categoria maior, intitulada anteriormente em seu texto como “cicatrizes psicológicas impostas pelo racismo cotidiano” (p. 92), a autora engloba os capítulos de 9 a 12. O primeiro deles, “A palavra N. e o trauma”, a dor, aspecto central de sua tese, é retomada a partir de narrativas que envolvem o contato com a violência exotizadora por meio da utilização discursiva de termos racistas. Para tanto, o capítulo inicia com a narrativa de Kathleen que ouviu de uma criança branca: “Que Negerin [Feminino de Neger ] linda! A Negerin parece tão legal. E os olhos lindos que a Negerin tem! E a pele linda que a Negerin tem! Eu também quero ser uma Negerin !”. Ao afirmar que quer ser uma Negerin também, a menina produz um efeito duplo: de reafirmação de sua posição d e sujeito branco – pois Negerin “nunca significa ser chamada/o apenas de negra/o; é ser relacionada/o a todas as outras analogias que definem a função da palavra N. ” (p. 157) – e recolocação da vítima na cena colonial original: “Essa cena revive, assim, um trauma colonial. A mulher negra continua a ser o sujeito vulnerável e exposto, e a menina branca, embora muito jovem, permanece a autoridade satisfeita” (pp. 157-158). O trauma causa dor, demonstrando os efeitos psicossomáticos do racismo por meio da necessidade de transferir a experiência psicológica para o corpo, buscando “uma forma de proteção do eu ao empurrar a dor para fora (somatização)” (p. 161).
“Segregação e contágio racial” é o título do capítulo 10, no qual o medo branco é acionado pela metáfora da luva branca utilizada por pessoas negras forçadamente quando tinham que tocar o mundo branco. Como descreve a autora, as luvas atuavam como uma “membrana, uma fronteira separando fisicamente a mão negra do mundo branco, protegendo pessoas brancas de serem, eventualmente, infectadas pela pele negra ” (p. 168). O efeito nefasto vai, contudo, além, pois as luvas que aliviavam o medo branco da contaminação “ao mesmo tempo, evitavam que negras e negros tocassem os privilégios brancos ” (p. 168). Outra metáfora acionada no capítulo é: “uma pessoa negra tudo bem, é até interessante, duas é uma multidão” (p. 170), expondo a faceta da solidão de pessoas negras em espaços segregados e o quanto suas ações são constantemente vigiadas e avaliadas. Esse tema liga-se diretamente ao capítulo seguinte, “Performando negritude”, em que o sujeito que representa a exceção é exposto e cobrado pois, ao mesmo tempo em que é alvo do medo e do ódio, deve “representar aquelas/es que não estão lá” (p. 173). Por isso, o questionamento e a comprovação da capacidade intelectual é uma marcante nas narrativas das entrevistadas. Ser “três vezes melhor do que qualquer pessoa branca para se tornar igual” (p. 174), faz dela uma pessoa “tríplice” e, assim, a compensação é acionada: “Você é negra, mas…” inteligente. A inteligência existe “desde que seja comparada à branquitude” (p. 177). Outros aspectos explorados no capítulo relacionam-se à recolocação geográfica do estrangeira/o ou da pessoa negra para fora, para a margem, e o racismo explícito, endossado por um processo discurso alienante, pois a pessoa é insultada sem ser alvo direto do insulto, retomando, novamente, as constelações triangulares. Tais contextos são ressaltados mais uma vez pela autora como mostras do racismo cotidiano.
O último capítulo da categoria “cicatrizes psicológicas…” é intitulado “Suicídio”. Sem dúvida é o máximo e último estágio do trauma e o mais eficaz do racismo. É quando o “ sujeito negro representa a perda de si mesmo, matando o lugar da Outridade” (p. 188). Tal capítulo é fruto da recorrência de narrativas das mulheres entrevistadas sobre experiências diretas com o suicídio (seja da mãe, da amiga…) e da necessidade de tratar o trauma. Assim, nos lembra Grada Kilomba que, no contexto da escravização, toda a comunidade negra era punida quando um de seus membros tentava ou cometia suicídio. Isso não explicita apenas o óbvio (o interesse das/os escravizadoras/es em não perder sua propriedade), mas, principalmente, “revela um interesse em impedir que as/os escravizadas/os africanas/os se tornem sujeitos ”. Por isso o suicídio “é, última instância, uma performance de autonomia” (p. 189). Mas não somente esse aspecto é explorado: a autora também analisa como a figura da mulher negra forte e, portanto, sem necessidade de apoio psicológico, é recorrente na trajetória de vítimas de suicídio. Essa imagem é uma resposta à outra figura estereotipada da mulher negra como preguiçosa e negligente em relação às suas filhas e filhos. Portanto, num duplo processo de estereotipia, as “mulheres negras só se encontram na terceira pessoa, quando falam de si mesmas através de descrições de mulheres brancas ” (p. 195).
Por fim, os últimos capítulos são dedicados ao tratamento: correspondem à categoria “estratégias de resistência” (p. 92). “Cura e transformação” intitula o 13º capítulo, e analisa situações vivenciadas por Kathleen (ao enfrentar um contexto de racismo) e Alicia (ao se reconectar consigo mesma). Dois marcadores desse capítulo são, portanto, a desalienação e o reencontro com seu coletivo. O contato com leituras, com suas histórias e com seus iguais emergiram nos discursos das duas mulheres entrevistadas atuando de modo a reparar uma conexão interrompida. É latente, nesse sentido, a narrativa de Alicia sobre o fato de inicialmente não entender e aceitar que pessoas negras desconhecidas a cumprimentassem e depois reconhecer o laço histórico que as une. Ao ser chamada de irmã (sistah) por um jovem negro, sua percepção foi de que “‘Sim, sistah, eu sei o que você passou. Eu também. Mas eu estou aqui… Você não está sozinha.’” (p. 210).
A “reparação traumática” é acionada por Alicia, assim como foi por Kathleen, quando enfrentou sua vizinha que insistia em manter um boneco negro como “enfeite” na varanda de sua casa. Esse processo liga-se diretamente à conclusão do livro, no capítulo “Descolonizando o eu”. Entre outros elementos explorados e retomados pela autora, está a proposição mais significativa para a cura do trauma: ao invés de perguntar à vítima o que ela fez diante do racismo cotidiano (e sempre inesperado), sua proposição é que a pergunta seja: “O que o racismo fez com você?”. “A pergunta é direcionada para o interior […] e não para o exterior”, produzindo um efeito de empoderamento “no qual alguém se torna o sujeito falante, falando de sua própria realidade” (p. 227). Mas, principalmente, a proposição de novas fronteiras é o elemento central da cura: é quando, para a autora, o triângulo é modificado e não mais são respondidas as perguntas produzidas pela branquitude que, verdadeiramente, não está interessada em respostas, mas sim na experiência de ocupar a posição de falantes sobre o sujeito negro. A cura também ocorre com a superação do perfeccionismo e a assunção da desalienação. A autora demonstra como todo esse processo opera por meio de cinco mecanismos diferentes de defesa do ego: negação (do racismo e reprodução da linguagem da/o opressora/opressor); frustração (percepção de sua condição de exclusão no mundo conceitual branco); ambivalência (coexistência de amor e ódio, nojo e esperança, confiança e desconfiança para com pessoas brancas); identificação (a busca por sua história e a produção da identificação positiva com sua própria negritude); descolonização: “não se existe m ais como a/o ‘Outra/o’, mas como o eu” (p. 238).
Ao pensar no contexto contemporâneo em que o racismo à brasileira vem assumindo novas configurações, a obra de Grada Kilomba não somente oferece respostas à cura do trauma, mas reafirma a necessidade de assumirmos a nossa história. Retomando a metáfora inicial do lago antes calmo e agora agitado pela reverberação das ondas, um convite inicial e retomado ao final do livro também é feito neste texto: “Somos eu, somos sujeito, somos quem descreve, somos quem narra, somos autoras/es e autoridade da nossa própria realidade […] tornamo-nos sujeito ” (p. 238).
Débora Oyayomi Araujo-Doutora Educação (UFPR) e Licenciada em Letras (Unespar). Professora de Educação das Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Espírito Santo. Coordenadora do LitERÊtura-Grupo de estudos e pesquisas em diversidade étnico-racial, literatura infantil e demais produtos culturais para as infâncias. E-mail: debora.c.araujo@ufes.br
Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia | João José Reis
Vinte e seis anos depois da publicação de um artigo no dossiê na Revista USP intitulado “A greve negra de 1857 na Bahia”, o historiador baiano João José Reis lançou resultados mais amplos desta ambiciosa pesquisa em “Ganhadores”, livro de subtítulo homônimo ao texto do dossiê. No próprio artigo da década de 1990 foi pontuado que aquele era só parte de “um estudo mais amplo” (REIS, 1993, p.8) que ele estava realizando. Portanto, o livro é o produto deste esforço quase trintenário do historiador, que revela o aprimoramento da análise das fontes ao longo deste intervalo, além do enriquecimento da perspectiva acerca do seu objeto, seja pelas outras contribuições historiográficas que acompanharam o processo desta pesquisa até a conclusão da obra, seja pela adição de novas fontes ao trabalho iniciado anteriormente.
O exercício do ganho entre os escravizados e libertos era comum desde o século XVIII e em outras áreas além da Bahia. Ele consistia na prática de venda, por parte do proprietário ou do próprio liberto ou livre, do seu serviço para variadas atividades na cidade, como carregamentos, transportes de palanquins, venda de alimentos, entre outras atividades. Nesta lógica, mesmo o escravizado receberia uma remuneração pela função de ganho desempenhada. João José Reis outras especificidades desta dinâmica laboral fronteiriça entre a escravidão e a liberdade no espaço de Salvador oitocentista, onde há a particularidade dos “cantos de trabalho”. Eles consistiam em agrupamentos de trabalhadores, além de constituir também mais um espaço associativo negro. Inicialmente, se compunham exclusivamente de africanos que se reuniam em locais definidos onde ofereceriam seus serviços. Tal organização seguia critérios de gênero, etnicidade, normas internas e públicas, definidas por posturas. Leia Mais
Kant on the Rationality of Morality – GUYER (M)
GUYER, Paul. Kant on the Rationality of Morality. Cambridge University Press, 2019. 73pp. Resenha de: CARVALHO, Vinicius. Manuscrito, Campinas, v.43 n.2 Apr./June 2020.
In his contribution to the Cambridge Elements: The Philosophy of Immanuel Kant series, Paul Guyer contends that Kant derives the fundamental principle of morality (in this case, the formulas of the categorical imperative) and the object of morality (the highest good) from the application of the most fundamental principles of reason: the principle of noncontradiction, of sufficient reason, and, to a lesser extent, the principle of excluded middle. The fundamental fact that ought not to be denied by any rational agent – on pain of self-contradiction – is that oneself and others have a free will, in other words, that they have the capacity to freely set and pursue their own ends. Guyer argues that Kant grounds his whole moral theory upon this fact, and that the application of the fundamental principles of reason to it gives us the principle and the object of morality. In what follows, I will summarize each of the book’s chapters, discussing some of its claims when I see fit.
In the second chapter – Reasons, Reasoning and Reason as Such, the first chapter being the introduction – Guyer discusses past approaches about the relation between the fundamental principles of morality and reason for Kant. For instance, philosophers such as Christine Korsgaard and Allen Wood emphasize that rational actions are actions based on reasons, and that genuine reasons are universally valid norms, valid for everyone, everywhere. Kant would have gotten the requirement to act on universally valid reasons from the observation that this is what characterizes rational action. Onora O’Neill also emphasizes the same requirement for universalizability, though she supports her reading not by appealing to the notion of a reason in particular, but to the notion of reasoning in general, in her well-known account of Kant’s conception of reason in the Canon of Pure Reason from the first Critique2. In my view, Guyer correctly criticizes an aspect of O’Neill’s reading on this point: it is not the case that we “invent and construct standards for reasoned thinking and acting”3all the way down. Pace O’Neill, Guyer argues that it is certainly the case that Kant did not believe that the application of the principles of rationality were sufficient to arrive at substantive metaphysical conclusions: this is one of the features of dogmatism he so fiercely denounced. But he certainly regarded some formal principles of reason as “necessary conditions of reasoning because they are the fundamental principles of reason” (p. 9). So, even though Guyer agrees with these interpreters about the importance of the requirement of universality when it comes to morality, his argument will be that this requirement is the result of the application of some even more fundamental principles, beginning with that of noncontradiction.
The third chapter – From Noncontradiction to Universalizability – shows exactly how that is so. First, Guyer shows that Kant followed the philosophical tradition of his time in accepting the principle of noncontradiction as the first principle of reason (and the principle of sufficient reason as the second). Indeed, Kant is quite clear on this matter in his lectures on Logic (especially in the Jäsche Logik) and at some points in the first Critique4. But to which concepts and pairs of judgment need we apply this principle to derive the principle of morality? In the preface to the Groundwork, Kant says that for any moral law, its “ground of obligation” must be sought “a priori simply in concepts of pure reason” (GMS, AA 04: 389), and in the second section of the work he clarifies that this a priori concept is the concept of a rational being (GMS, AA 04: 412). More precisely even, it is the concept of a rational agent, which is a rational being with the capacity to act according to the representation of certain laws, for the sake of certain ends (GMS, AA 04: 426-7). According to Guyer:
Kant’s argument will then be that the fundamental principle of morality can be derived from the application of the principle of noncontradiction to the concept of a rational agent as one capable of setting its own ends. This capacity must be affirmed of any rational agent and cannot be denied without contradiction. (p. 17)
Guyer’s point is that a maxim is immoral whenever its proposed action entails some belief that contradicts the fact that agents have free will. Take the lying promise situation – in which an agent makes a promise with no intention of keeping it – as an example. Kant says that in such a world, in which everyone makes lying promises whenever it suits their interests, no one would accept promises at all. The practice of making promises in general would cease to exist because one of its necessary conditions (i.e., that the promisee trusts the promisor) is gone. Thus, in making a false promise an agent virtually robs the possibility of everyone else making any promises. It undermines their freedom by making it impossible for them to take part in a social practice in which they have chosen to participate5. It treats other people as if they were not fully free agents. According to Guyer, this shows that “the necessity of avoiding contradiction between a proposed maxim and its universalization is a consequence of the necessity of avoiding contradicting the nature of rational beings as persons with free will” (p. 24). Although Kant does not explicitly say this in the Groundwork, Guyer takes as textual evidence (a) the fact that Kant says of immoral maxims that when universalized they either contradict themselves, or that they entail practices that are inconsistent with some fundamental characteristic of rational agents (see GMS, AA 04: 423-4), and (b) Kant’s treatment of the duties not to commit suicide, to help others in need, and to develop one’s talents in the Metaphysics of Morals (see MS, AA 06: 451; 453).
Since Kant’s treatment of duties in that latter work relies more heavily on the Formula of Humanity (FH) rather than the Formula of Universal Law (FUL), because the nature of rational agents as free agents (ends-in-themselves) is explicit in the former formula, Guyer says: “Thus Kant’s requirement of universalizability follows from the formula of humanity and is ultimately grounded in the law of noncontradiction because the latter is.” (p. 23). I believe this deserved a bit more clarification by the author, though, for the question “how could the requirement of universalizability expressed by FUL follow from FH if the latter is presented after and as a ‘development’ of the first formula?” comes straight to the reader’s mind. A possible answer would be that the derivation of FUL already relies upon the premise that rational agents are free agents, who express their freedom in their adoption of maxims. The evidence for this is Kant’s distinction, already at the beginning of the derivation, between imperfect and perfect wills (GMS, AA 04: 412). It is precisely because rational agents with imperfect wills are free to adopt whatever maxims they propose to themselves that the principle of morality – to choose only maxims apt for universal legislation – is presented as an imperative. In any case, I believe this point should have been more fully developed by the author. The chapter ends with a brief treatment of Kant’s deduction of the freedom of the will at the third section of the Groundwork, where Kant argues that we cannot but regard ourselves as beings with free will when we apply the distinction (argued for in the first Critique) between world of sense and intellectual world. The fact that we know that we are free agents (from the practical point of view) is what produces a self-contradiction whenever we adopt a maxim that entails some belief or other that is inconsistent with this knowledge.
The fourth chapter – The Principle of Sufficient Reason and the Idea of the Highest Good – shows how Kant got his conception of the highest good through the application of the second fundamental principle of reason, that is, the principle of sufficient reason, according to which there is an adequate explanation for every fact. Guyer first discusses how Kant refuses the traditional use of this principle as it was employed by the rationalists, for the application of this principle is warranted only within the limits of possible experience. But, according to Guyer, he accepted the use of this principle when it came to matters of morality. More precisely, Kant claimed that the application of this principle lets us theorize about the “unconditional”, which, in this case, means that we can apply this principle to think about the complete and systematic consequences of morality. For Kant, this means that we are drawn to the idea of the highest good, a condition in which “universal happiness [is] combined with and in conformity with the purest morality throughout the world.” (TP, AA 08: 279).
Throughout the chapter, Guyer defends his interpretation on how to read Kant’s conception of the highest good and his argument for it. He shows that Kant applies this principle in two ways: first, to show that morality is a condition on the pursuit of happiness. Kant does not ground moral worth in possible or actual good consequences of actions. Some action might bring a great deal of happiness (whatever we understand ‘happiness’ to mean), but its accomplishment is constrained by moral considerations, such as if it respects the nature of those involved as ends-in-themselves. In the second case, happiness is conceived as the complete object of morality: since happiness is the satisfaction of all possible ends (GMS, AA 04: 418; KpV, AA 05: 25) and the nature of rational agents is that they set themselves their ends, then “the moral command to preserve and promote the capacity to set ends is in fact equivalent to a moral command to promote happiness … [happiness is] what morality commands in the first instance, but not, as it turns out, all that it commands” (p. 37). This is why, in Kant’s words, “pure practical reason … seeks the unconditioned totality of the object of pure practical reason, under the name of the highest good” (KpV, AA 05: 108). It is important to keep in mind here that happiness commanded by morality under the concept of the highest good is not happiness simpliciter, that is, the mere satisfaction of contingent ends, but that it is limited by moral considerations. This conception of the highest good as the object of morality also leads Kant to develop what he thinks to be the necessary conditions for the attainment of this object. The three ideas of pure reason that were discussed in the Dialectic of the first Critique now receive the status of postulates of practical reason: the immortality of the soul, freedom of the will and the existence of God are propositions that, for Kant, cannot be theoretically proven, but which we must accept because they are necessary conditions to the realization of morality’s object, the highest good. The end of the chapter is devoted to show how Kant eventually shifted position regarding the role of the postulates, especially in his latter writings from the 1790’s.
In the fifth chapter – Rationality and the System of Duties -, Guyer argues that Kant’s treatment of duties show that he also took the ideal of systematicity to be part of his conception of reason and rationality. That this ideal is essential to Kant’s philosophy is clear from the Appendix to the Transcendental Dialectic (see KrV A 642/B 670), and in his practical philosophy we can see this ideal at work in many occasions. First, there is the requirement that an agent adopts not only one maxim apt for universal legislation, but that all his maxims satisfy this requirement (GMS, AA 04: 432). Second, there is the requirement that all ends of all agents be compatible, as well as that each agent be treated as an end-in-itself, as expressed in the Formula of the Realm of Ends (GMS, AA 04: 433). And third, there is the suggestion that the supreme principle of morality must be able to offer a complete division and characterization of the generally recognized classes of duties6, that is, into (a) perfect and imperfect duties (GMS, AA 04: 423-4), and (b) both duties of virtue (noncoercively enforceable) as well as duties of right (coercively enforceable). Granted, Kant seems to use in general two different principles to derive these duties, focusing on FUL in the Groundwork and on FH in the Metaphysics of Morals. But, as Guyer argues, these principles are supposed to be interchangeable and at least coextensive when it comes to the duties they entail. The most important point of the chapter, however, is the explanation of why we might need a system of duties. Showing that Kant followed in important aspects George F. Meier’s treatment of duties, Guyer argues that the systematic classification of duties, combined with the application of the principles of noncontradiction and excluded middle – the principle that ought implies can as well, but this one is not usually explicitly stated by Kant – are what allows Kant to deny the possibility of conflict of duties, in other words, genuine moral dilemmas. Thus, Guyer says:
Here is where Kant might have brought in the principle of the excluded middle as well as that of noncontradiction: whereas the latter principle tells us that two contrary duties, that is, duties to perform two incompatible acts at the same time, cannot both be duties (on the ground that we cannot have an obligation to perform the impossible), the former would tell us that we have to perform one of these duties. (p. 47)
This chapter ends with a discussion of Kant’s ideal of systematicity both in the theoretical and in the practical uses of reason as presented mainly in the third Critique.
The sixth chapter – Reason as Motivation – explains how, for Kant, pure reason can motivate action. Guyer shows that Kant’s disagreement with Hume about the role of reason in action, though substantial, is not complete. Whereas Hume thought that reason was motivationally inert and could not lead us to action – only sentiments and “passions” could -, Kant thought that pure reason could be practical. Indeed, this is necessary for any action to have moral worth: “What is essential to any moral worth of actions is that the moral law determine the will immediately” (KpV, AA 05: 71). But this does not mean that reason motivates us to action without any feelings being involved, for Kant also says that “every determination of choice proceeds from the representation of a possible action to the deed through the feeling of pleasure and displeasure, taking an interest in the action or its effect” (MS, AA 06: 399). Guyer explains this apparent inconsistency by arguing that we must place Kant’s theory of motivation within his transcendental idealism, specifically the distinction between noumenal and phenomenal selves. The moral law does determine the will immediately because this happens when we choose to adopt the moral law as our “fundamental maxim” (RGV, AA 06: 36) and when we are conscious of it “whenever we draw up maxims of the will for ourselves” (KpV, AA 05: 29). But when it comes to choosing particular maxims, this happens through the intermediation of the feeling of respect, which is a self-wrought feeling, caused by reason, that acts as a counterweight in favor of the moral law against the motivational pull of inclinations (GMS, AA 04: 401). Thus, Guyer says that “reason produces action – this is Kant’s disagreement with Hume – but it does so through the production or modification of feeling – here is Kant’s agreement with Hume” (p. 53). In the rest of the chapter, Guyer discusses Kant’s fuller theory of motivation as presented in the Metaphysics of Morals, which involves the exercise and cultivation of a class of feelings that are sensible to the determination for action through the concept of duty, namely: moral feeling, conscience, love of others or sympathy, and self-respect or self-esteem. Thus, Guyer joins others who have consistently pointed out that any interpretation that represents Kant’s ethics as devoid of any place for feelings and emotions is seriously flawed.
In the seventh chapter – Kantian Constructivism -, Guyer discusses the metaethical implications of his interpretation, especially in the realism versus antirealism debate concerning Kant’s moral theory. Appropriately, the author first makes sure to distinguish semantic realism from ontological realism. This fundamental distinction is unfortunately not always drawn in discussions of Kant’s metaethics, causing many unnecessary disagreements. Guyer claims that Kant is clearly a semantic realist: for him, judgments about right and wrong, good or bad, are not indeterminate in their truth-value, and they can be correctly inferred from previous moral judgments and principles. In other words, there are correct and incorrect answers to moral questions, i.e., questions of permissibility, worthiness, etc. The real hornet’s nest is when it comes to the following problem: in virtue of what are some moral judgments true? Is it due to some metaphysical fact independent of us, or is it the result of the application of some constructive procedure?
The latter position was famously defended by John Rawls, who labeled the method employed in his political philosophy Kantian Constructivism. Defenders of a constructivist reading of Kant’s metaethics claim that he derived the principles of morality from a mere conception of practical reason or reason in general. On the other hand, those who prefer the (ontological) realist view say that what ultimately grounds morality and from which Kant derives its principles is the fact that rational agents are ends in themselves, “or that human freedom is intrinsically valuable” (p. 64). As Guyer points out, and I am in very much agreement with him on this point, the method by which Kant derives particular moral duties constitutes a form of constructivism: we infer particular duties by applying the different formulas of the moral law to our specific circumstances7. Therefore, we can say that Kant is a normative constructivist.8 But it is not so clear whether he is a metaethical constructivist. Some argue that what grounds the moral law is the fact that rational agents are free, which gives them an irreducible value, outside the purview of construction, upon which morality is grounded9. For Guyer, Kant’s position regarding the nature of the fundamental principle of morality should be seen as a realist position: this fundamental principle is ultimately derived from the application of the principle of noncontradiction to the fact that rational agents have free wills, a fact that obtains independently of any procedure of construction. But he claims that this does not fit well with what we contemporarily regard as moral realism, for this fact is not a specific moral one, nor is it Kant’s position that there is something of value in the world independent of evaluative attitudes. About this, Guyer says:
This is a fact, in Kant’s own words a “fact of reason”, but it is not a mysterious moral fact, or a value that somehow exists in the universe independently of our act of valuing it. It is simply a fact that cannot be denied on pain of self-contradiction, since, Kant assumes, in some way we always recognize it even when by our actions we would deny it. Whether Kant succeeded in demonstrating this fact is a question; but there is no question that he regards our possessions of wills as a fact from which moral theory must begin. Thus we can say that as regards its fundamental principle, Kant’s moral philosophy is a form of realism, though not specifically moral realism. (p. 64)
As the author points out both in this last chapter and in the second, it is one thing for Kant to show how the principles and the final object of morality are derived from the fact that we are free agents combined with the requirement to respect the fundamental principles of reason; it is quite another thing for him to demonstrate that we are, indeed, free agents. That would be the subject of a much longer and detailed study, which falls out of the scope of the book, let alone of this review. Kant on the Rationality of Morality is a short but insightful book. Its discussions bridge Kant’s theoretical and practical philosophies, and they offer an original argument for one of the most important interpretative problems of the Groundwork, the derivation of the principles of morality. I recommend it especially to those who prefer to read Kant’s ethics as not so dependent on the significant metaphysical and epistemological theses of his transcendental idealism; as well, of course, to those interested in moral theory in general.
References
Kant, I. Gesammelte Schriften. Hrsg.: Bd. 1-22 Preussische Akademie der Wissenschaften, Bd. 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Bd. 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen: Berlin, 1900ff. [ Links ]
_____ “The Jäsche Logik”. (Log). In: Lectures on Logic. Translated by J. Michael Jung. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. [ Links ]
_____ Groundwork for the Metaphysics of Morals. (GMS) Translated by Mary Gregor and Jens Timmermann. Cambrigde: Cambridge University Press, 2011. [ Links ]
_____ Critique of Pure Reason. (KrV). Translated by Paul Guyer and Allen Wood. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. [ Links ]
_____ “Metaphysics of Morals”. (MS) In: Practical Philosophy. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. [ Links ]
_____ “Critique of Practical Reason”. (KrV) In: Practical Philosophy. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. [ Links ]
_____ “On the common saying: That may be correct in theory, but is of no use in practice”. (TP) In: Practical Philosophy. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. [ Links ]
_____ Religion within the Boundaries of Mere Reason. (RGV) Translated by Allen Wood and George di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. [ Links ]
Herman, B. “Leaving Deontology Behind”. In: The Practice of Moral Judgement. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1993, pp. 208-240. [ Links ]
Korsgaard, C. The Sources of Normativity. Edited by Onora O’Neill. Cambridge: Cambridge University Press , 1996. [ Links ]
Timmons, M. “The Categorical Imperative and Universalizability”. In: HORN, C; SCHÖNECKER, D. (eds.) Groundwork for the Metaphysics of Morals. Berlin: Walter de Gruyter, 2006, pp. 158-199. [ Links ]
O’Neill, O. Constructions of Reason. Cambridge: Cambridge University Press , 1989. [ Links ]
_____ “Autonomy, Plurality and Public Reason”. In: BRENDER, N; KRASNOFF, L. (eds.) New Essays on the History of Autonomy: A Collection Honoring J. B. Schneewind. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 181-194. [ Links ]
Schönecker, D; Schmidt, E. “Kant’s Moral Realism regarding Dignity and Value: Some Comments on the Tugendlehre.” In: SANTOS, R; SCHMIDT, E. (eds.) Realism and Antirealism in Kant’s Moral Philosophy. Berlin: Walter de Gruyter , 2018, pp. 119-152. [ Links ]
Street. S. “Constructivism about Reasons” In: SHAFER-LANDAU, R. (ed.) Oxford Studies in Metaethics, vol. 3, 2008, pp. 207-245. [ Links ]
Wood, A. Kantian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press , 2008. [ Links ]
Notas
1This work was supported by grant 2019/21992-8, São Paulo Research Foundation (FAPESP).
3 O’Neill, 2004, p. 187.
4Log, AA 9: 51 and KrV, A 150/B 189; A 151-2/B 191. References to Kant’s texts follow the standard: abbreviation of the work, followed by their number in the Akademie volumes and their corresponding pagination. Except for the Critique of Pure Reason, quoted with reference to the pagination of its first (A) and second (B) editions. All quotations of Kant are taken from the Cambridge editions.
5 Barbara Herman (1993, p. 215) gives a similar explanation: “A condition of choice that could not be accepted by all rational agents would be: doing x where the possibility of x-ing depends on other rational agents similarly situated not doing x. This is the condition standardly found to be the ground of choice of the deceitful-promise maxim”.
6Right after stating FUL, Kant says: “Now, if from this one imperative all imperatives of duty can be derived as from their principle, then, even though we leave it unsettled whether what is called duty is not such an empty concept, we shall at least be able to indicate what we think by it and what the concept means” (GMS, AA 04: 421). For an argument that FUL cannot adequately provide a general classification of duties, see Timmons (2004).
7“ … moral philosophy … gives him [the human being], as a rational being, laws a priori; which of course still require a power of judgment sharpened by experience <durch Erfahrung geschärfte Urtheilskraft>, partly to distinguish in what cases they are applicable, partly to obtain for them access to the will of a human being and momentum for performance …” (GMS, AA 04: 389). See also MS, AA 06: 217.
8I am borrowing this notion from Street (2008).
9For such a realist reading of Kant, see Schönecker and Schmidt (2018).
Vinicius Carvalho – University of Campinas Department of Philosophy Campinas – S.P. Brazil carvalho.viniciusp@gmail.com
España en mapas: Una sínteses geográfica – SANCHO COMÍNS (I-DCSGH)
SANCHO COMÍNS, J. (dir). España en mapas: Una sínteses geográfica. Madrid: Centro Nacional de Información Geográfica, 2018. Resenha de: LÓPEZ, Maria Sebastián. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, v.99, p.85-86, abr./jun., 2020.
En el contexto actual de cambio metodológico y revolución digital en el que está sumida nuestra educación, resulta interesante, y a la vez necesario, recuperar la esencia de los métodos y las técnicas que se vienen aplicando para la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. En este sentido, la obra que nos ocupa –publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y perteneciente a la serie Compendios del Atlas Nacional de España– es un magnífico recurso para enseñar la geografía de España, pues no solo reúne en sus páginas todos los métodos y técnicas de esta disciplina, sino que además proporciona un discurso coherente, sistémico y actualizado de nuestra realidad.
El nuevo Atlas Nacional de España del siglo xxi muestra a través de la cartografía temática, la estadística y otro tipo de documentación gráfica la realidad cambiante y compleja de España. La obra ha sido llevada a cabo por un amplio equipo interdisciplinar compuesto por geógrafos, cartógrafos, historiadores, sociólogos y economistas que han dado forma y conexión a sus más de seiscientas páginas, poniendo énfasis sobre problemáticas territoriales actuales, pero sin olvidar los hechos y las consecuencias históricas. El recorrido por sus veinticuatro capítulos ayuda a la adquisición de la competencia espacial a través de la localización de los fenómenos territoriales, el análisis de las fuentes geográficas, la interconexión de factores múltiples y la identificación de procesos ambientales, culturales y sociales.
Su cantidad de recursos geográficos (alrededor de 1250 recursos gráficos, de los cuales más de 800 son mapas) hace que este atlas pueda ser utilizado para el desarrollo del pensamiento crítico y el compromiso cívico en todos los niveles educativos.
La secuencia expositiva de los contenidos puede calificarse de clásica: después de algunos ejemplos de cartografía histórica y una breve alusión a las funciones del IGN, se presenta el medio natural con los tres clásicos apartados dedicados a la estructura terrestre (geofísica, geología y geomorfología), el clima y las aguas y la biogeografía; las referencias históricas ofrecen seguidamente las claves fundamentales para entender la evolución y el desarrollo de la sociedad en ese territorio; continúa con la población, el poblamiento y los rasgos esenciales de la sociedad; las cuatro secciones siguientes están dedicadas a las actividades humanas (agrarias, industriales, turísticas y comerciales) y los servicios, equipamientos e infraestructuras asociadas; prosigue con el análisis de características más globales, como el paisaje, el medio ambiente, las estructuras socioeconómicas y territoriales…; y termina con una novedosa aportación que contextualiza la personalidad geográfica de España en el marco planetario y la presencia de nuestro país en el contexto geopolítico actual.
España en mapas: Una síntesis geográfica (en su versión impresa o digital) aporta, pues, grandes recursos para abordar el paradigma actual de cambio global y desarrollo sostenible, siendo una excelente herramienta de conocimiento sobre la sociedad y el territorio en todos los niveles educativos; profesorado y alumnado sabrán encon trar los modos de interlocución y aprehender su rico contenido.
La obra completa en formato PDF se puede descargar gratuitamente en el apartado «Libros digitales»: www.ign.es/web/publicaciones-boletines- y-libros-digitales Los capítulos completos y los contenidos gráficos se pueden visualizar y descargar en formato PDF a través del portal web España en mapas: www.ign.es/web/ign/portal/ espana-en-mapas Cada mapa, con sus datos, metadatos y ficheros gráficos georreferenciados asociados, se puede descargar en el producto Mapas temáticos del ANE del Centro de Descargas del CNIG: https://bit.ly/2RKw8cx
María Sebastián López – E-mail: msebas@unizar.es Acessar publicação original
[IF]
Philosophy, dialogue, and education – GUILHERME; MORGAN (B-RED)
Alexandre Anselmo Guilherme. ucsclay.ucr.br
 GUILHERME, Alexandre Anselmo; MORGAN, W. John. Philosophy, dialogue, and education. Nine Modern European Philosophers [Filosofia, diálogo e educação: nove filósofos europeus modernos]. London: Routledge, 2018. 190 p. Resenha de: CHERON, Cibele. Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso, v.15 n.2 São Paulo Apr./June 2020.
GUILHERME, Alexandre Anselmo; MORGAN, W. John. Philosophy, dialogue, and education. Nine Modern European Philosophers [Filosofia, diálogo e educação: nove filósofos europeus modernos]. London: Routledge, 2018. 190 p. Resenha de: CHERON, Cibele. Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso, v.15 n.2 São Paulo Apr./June 2020.
O que é o diálogo, na compreensão de nove dos mais importantes filósofos modernos europeus? Quais são as implicações dessa compreensão do diálogo para o campo da Educação? É desse duplo questionamento que Alexandre Anselmo Guilherme e W. John Morgan partem para, ao longo de Philosophy, Dialogue, and Education, discutir as ideias de Martin Buber, Mikhail Bakhtin, Lev Vygotsky, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Simone Weil, Michael Oakeshott e Jürgen Habermas.
A intersecção entre o diálogo e o campo educacional se faz presente na trajetória dos autores, ambos expoentes da Filosofia da Educação. W. John Morgan é professor emérito da School of Education [Faculdade de Educação] da University of Nottingham, onde presidiu a Cátedra UNESCO de Economia Política da Educação. Ele também é professor honorário da School of Social Sciences [Faculdade de Ciência Sociais] e do Wales Institute of Social and Economic Research, Data, and Methods [Instituto Wales de Pesquisa, Dados e Métodos Sociais e Econômicos] na Cardiff University, e bolsista emérito do Leverhulme Trust, realizando estudos sobre economia política comparativa da educação (especialmente Rússia e China), sociedade civil e antropologia do conhecimento, bem como educação para a paz. Alexandre Anselmo Guilherme é professor adjunto da Escola de Humanidades, Departamento de Educação, e coordenador do Grupo de Pesquisa Educação e Violência – GruPEV da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil, atuando principalmente nos temas educação e violência, educação e diálogo, imigrantes e refugiados, e Psicologia da Educação.
Guilherme e Morgan indicam a relevância dos questionamentos que embasam Philosophy, Dialogue, and Education: o diálogo é comumente entendido como conversação, intercâmbio de perguntas e respostas entre dois ou mais sujeitos, e, simultaneamente, tem sido objeto privilegiado nas pesquisas em Filosofia da Educação. Todavia, a maioria das investigações nessa área costuma concentrar-se em apenas verificar a ocorrência de intercâmbio comunicativo, resultando em “modos simplistas e reducionistas de compreender o diálogo, os quais não consideram as relações envolvidas no diálogo” (GUILHERME; MORGAN, 2018, p.3)1. Em oposição ao reducionismo rejeitado pelos autores, é destacada a “gama de complexidades, dinâmicas e efeitos resultantes e causados pelo diálogo, que a simples percepção de um processo de perguntas e respostas não captura com êxito” (GUILHERME; MORGAN, 2018, p.4)2.
A escolha dos filósofos abordados enfatiza o caráter polissêmico, multifacetado e complexo do diálogo. Philosophy, Dialogue, and Education reflete sobre as complexidades inerentes ao diálogo, situando as perspectivas sociopolíticas dos pensadores na tradição europeia da filosofia dialógica. Cada filósofo é tratado num capítulo específico, cujo título sintetiza o conceito de diálogo desenvolvido. Após uma breve apresentação, seguida dos principais eventos da vida e carreira, o leitor é conduzido a um panorama consistente e detalhado sobre como o diálogo é conceituado e relacionado à educação.
No primeiro capítulo, Martin Buber: dialogue as the inclusion of the other [Martin Buber: diálogo como a inclusão do outro], o diálogo é referido como uma relação simétrica, inclusiva do outro, despida de preconceitos e expectativas, na qual simplesmente se aceita o outro como ele é. A relação dialógica assume a forma ‘Eu-Tu’ e está, assim, em contraste com as relações ‘Eu-Isso’, baseadas na objetificação do outro e na ausência de diálogo. ‘Eu-Tu’ e ‘Eu-Isso’ são as ‘palavras básicas’ indicativas da qualidade da experiência contida na relação que elas descrevem. À leitura filosófica da obra de Buber (cf. Buber, 2007 e 2001, entre outros) é acrescida uma apreciação teológica, fundada em suas raízes judaicas hassídicas. Essa apreciação ilustra a atenção às conexões entre o pensamento, as experiências, o pertencimento e a subjetividade dos filósofos observados, elementares em Philosophy, Dialogue, and Education. Em Buber, o hassidismo é o mote para ressaltar a convergência de todas as relações genuínas para o eterno, a partir da qual os seres humanos se relacionam com Deus. No campo da Filosofia da Educação, a teoria de Buber é enfocada para defender a importância das relações vivas, horizontais e inclusivas entre professores e alunos, fundadas em diálogo genuíno, de forma a impactar positivamente a motivação e a capacidade de colaboração.
A interpretação de Guilherme e Morgan sobre as ideias de Buber, no Capítulo Um, articula-se ao Capítulo Cinco, Emmanuel Levinas – dialogue as an ethical demand of the other [Emmanuel Levinas: diálogo como uma exigência ética do outro] Para Levinas (cf. Levinas, 1988a; 1988b; 2005, entre outros), em contraposição a Buber, a noção ética de diálogo compreende uma relação assimétrica e preconcebida, estabelecida para satisfazer as demandas do outro. O encontro com o outro, nominado por Levinas como “rosto”, implica uma exigência ética, instando o sujeito, de cima para baixo, a responder ao outro. Todavia, essa assimetria não deve ser depreendida como uma hierarquia das relações humanas, uma vez que é recíproca: o sujeito é instado a responder ao mesmo tempo em que demanda uma resposta ética do outro. A assimetria bilateral do encontro com o “rosto” caracteriza-se, ainda, pela presença de uma “terceira parte”, na medida em que toda a humanidade encara o sujeito através dos olhos do outro. Assim, enquanto para Buber o diálogo se dá desde o reconhecimento do outro como um par, por conta da igualdade com o sujeito, para Levinas, o diálogo existe porque o sujeito reconhece a alteridade absoluta do outro. A influência de Levinas para a Educação também se ancora na alteridade, no reconhecimento ético do encontro com um outro que é diferente do sujeito, causando-lhe inquietude, questionamento e inovação.
O outro também é central no Capítulo Seis, Maurice Merleau-Ponty – dialogue as being present to the other [Maurice Merleau-Ponty – diálogo como estar presente para o outro]. O capítulo discute a compreensão existencialista e fenomenológica de Merleau-Ponty (cf. Merleau-Ponty, 1996, 2006, entre outros), para quem o diálogo configura um ‘estar presente’ para o outro. Ainda que guarde algumas afinidades com o pensamento de Buber e de Levinas, Merleau-Ponty apoia-se em premissas distintas. O diálogo necessita do encontro com um outro corporificado, presente numa relação em que o sujeito também está presente. No diálogo, as demandas e intenções desse outro tornam-se compreensíveis para o sujeito, como se este o “habitasse”. Por essa perspectiva, subjetividade e objetividade se encontram no corpo. Também por meio dessa “teoria da incorporação” o fenômeno do aprendizado é explicado como um hábito adquirido pelo corpo, e a aquisição de um hábito corresponde à apreensão de um significado. Trata-se de um processo que envolve os movimentos espontâneos e intencionais em interconexão com as experiências que solidificam os hábitos.
No segundo e no terceiro capítulo, Guilherme e Morgan tratam de dois pensadores russos influenciados pelo marxismo. Mikhail Bakhtin é referido ao longo do Capítulo Dois, Mikhail Bakhtin – the dialogic imagination [Mikhail Bakhtin – a imaginação dialógica]. Os autores aludem à noção de “imaginação dialógica”3 para desvendar uma filosofia na qual se notam inspirações em Kant, marcada pela insistência na relação, necessária e reciprocamente enriquecedora, entre o pensamento e a ação, e em Nietzsche, visível no conceito de discurso que espelha a ideia de diálogo. O capítulo leva em conta as ambiguidades percebidas em Bakhtin, especialmente sobre a arquitetura do mundo real, a estética como ação ou processo, a ética da política e, finalmente, a ética da religião. Essas ambiguidades suscitam uma reflexão crítica, na qual o filósofo do ato (cf. Bakhtin, 2010), da dialogia (cf. Volóchinov, 2017; Bakhtin, 2008; 2016, entre outros) e do plurilinguismo, vindica “o diálogo e a participação polifônica de vozes diferentes no intercâmbio de ideias por meio da linguagem e da literatura” (GUILHERME; MORGAN, 2018, p. 24)4 ao mesmo tempo em que propõe Bakhtin como um pensador ético. A “imaginação dialógica” de Bakhtin sublinha que a linguagem só adquire significado no diálogo, obrigatoriamente no contexto social e cultural do qual faz parte. O entendimento do self é construído nesse diapasão, num diálogo conformado pelas mútuas e contínuas interpretações do outro. Essa perspectiva contribui grandemente para a Filosofia e para a Educação, uma vez que Bakhtin incentiva os sujeitos ao protagonismo na busca pelo conhecimento, não aceitando as coisas como dadas.
Isso pode ser cotejado à compreensão de Lev Vygotsky, objeto do Capítulo Três, Lev S. Vygotsky – dialogue as mediation and inner speech [Lev Vygotsky – diálogo como mediação e discurso interior]. Como mediação (cf. Vygostsky, 1999 1998, entre outros), o diálogo diz respeito à relação entre indivíduo e sociedade, intermediada por objetos, sinais e linguagem, ferramentas proporcionadas pela cultura. Também diz respeito à interação de cunho mais psicológico do indivíduo consigo mesmo, crucial para o desenvolvimento cognitivo humano, que Guilherme e Morgan afirmam ser “uma alternativa poderosa tanto ao behaviorismo pavloviano como para a ênfase piagetiana à maturação biológica cognitiva” (GUILHERME; MORGAN, 2018, p.39)5. O impacto do pensamento de Vygotsky para a Educação é captado desde as interpretações que privilegiam a análise social, até as que buscam entender o surgimento da consciência, relegando as relações sociais ao pano de fundo.
O prisma político do diálogo é examinado no Capítulo Quatro, Hannah Arendt – dialogue as a public space [Hannah Arendt – diálogo como espaço público]. Guilherme e Morgan acentuam a defesa de Arendt da expressão autêntica da democracia, possível quando os cidadãos se reúnem num espaço público de deliberação e decisão acerca dos interesses coletivos (cf. Arendt, 2007; 2012, entre outros). A separação entre as dimensões do “labor”, do “trabalho” e da “ação” precede a exigência do espaço público, contexto no qual as pessoas defrontam-se umas com as outras, na qualidade de membros de uma comunidade, e desvelam seus pontos de vista em discursos e ações, concordâncias e discordâncias. Essa relação com os outros é pré-condicionada por outro tipo de diálogo, fundante da capacidade de pensar, interno, através do qual o indivíduo confronta a si próprio. Nesse marco, a educação objetiva propiciar um ambiente seguro às crianças, preparando-as para participarem da esfera pública. Entretanto, Guilherme e Morgan cogitam que escolas e universidades não venham conectando o público ao privado, tal qual divisado por Arendt. Isso é tributado a obstáculos enfrentados, como os processos de mercantilização, que transformam os cidadãos em consumidores, e o espaço público em mercado.
Igualmente, no Capítulo Sete, Simone Weil – dialogue as an instrument of power [Simone Weil – diálogo como instrumento de poder], o espaço público tem notada relevância. O diálogo é pensado por Weil em relações de poder dimensionadas, no espaço público, pela linguagem e pelas palavras (cf. Weil, 1991; 2001a; 2001b, entre outros). O dinamismo da realidade é a fonte dos conflitos potenciais, porquanto os sujeitos leem o mundo utilizando uma linguagem imperfeita, não obstante expressiva de atitudes e práticas. O diálogo configura uma relação de poder que se presta à crueldade, mas também à justiça e à bondade. Esse instrumento é crucial para a Educação, assim como a atenção (a vontade de receber) e o silêncio (a reflexão sem recebimentos do mundo externo), pois o processo de conhecimento só pode ser atingido num percurso crítico que envolve desejo de saber, comprometimento, esforço e amadurecimento. Assim, é imperativo que a Educação propicie ao indivíduo o discernimento das ideias, o poder da escrita e do discurso, e seu uso não para a conquista e aniquilação do outro, mas para a justiça, particularmente para a justiça social.
O posicionamento de Weil pode ser comparado ao de Michael Oaekshott, sobre o qual Guilherme e Morgan discorrem no Capítulo Oito, Michael Oakeshott – dialogue as conversation [Michael Oakeshott – diálogo como conversação]. O diálogo é, aqui, visto como uma forma de conversa, imprescindível para o desenvolvimento da civilização (cf. Oakeshott, 1989, entre outros). Os valores civilizados estão radicados na capacidade das pessoas, pela conversa, adentrarem o diálogo, o que é fomentado por uma educação liberal. É indispensável que a experiência humana seja vivida, compreendida e refletida na forma de uma conversa do sujeito com seus pares, seres humanos. As vozes que tomam parte dessa conversa são as diferentes formas da experiência, de ver o mundo, históricas e práticas. Oakeshott considera a conversa como um diálogo aberto e polifônico, um intercâmbio entre as diversas funções e condições em que a humanidade se desenvolve – e aí reside sua importância para a Educação. O indivíduo aprende a ser humano enquanto participa dessa conversa, assimilando os múltiplos significados e propósitos que também a integram.
O nono e último capítulo, Jürgen Habermas – dialogue as communicative rationality [Jürgen Habermas – diálogo como racionalidade comunicativa] dedica-se ao conceito de diálogo como racionalidade comunicativa, depreendido da extensa obra do filósofo alemão (cf. Habermas, 1984; 1987, entre outros). Guilherme e Morgan sublinham a crítica habermasiana ao cientificismo e às decorrentes abordagens positivistas, burocráticas e autoritárias predominantes nos estudos sobre as questões da esfera pública, o que resulta na “marginalização do diálogo público e do debate” (GUILHERME; MORGAN, 2018, p.141)6. O déficit democrático consequente é enfrentado, segundo Habermas, por duas formas distintas e interdependentes de ação: (i) instrumental, mensurada quantitativamente e percebida no trabalho e na construção material; (ii) comunicativa, aferida qualitativamente e percebida por meio da interação e do diálogo sociais. A racionalidade comunicativa é a chave para a ação, e o ato da comunicação, em si, já inicia um diálogo entre pares, parceiros abertos às possibilidades de acordo e ação social. A contribuição de Habermas para a Educação é defendida no que Guilherme e Morgan detectam como alinhamento à Pedagogia Crítica, segundo a qual o despertar de consciência dos sujeitos, dialeticamente, leva à ação social democrática e emancipatória. A responsabilidade dos educadores é criar condições para que essa ação ocorra, circunstanciando o ensino e o aprendizado como atos políticos e, no mesmo sentido, a não neutralidade do conhecimento.
Philosophy, Dialogue, and Education é uma obra densa, na qual os autores promovem uma reflexão teoricamente consistente e sofisticada, sem, contudo, sacrificar a leitura e a inteligibilidade. As concepções de diálogo são discutidas de forma articulada entre os pensadores, concatenadas aos aportes de outros teóricos e de comentadores, o que fornece um horizonte interpretativo rico e fundamentado.
Nesse contexto complexo, Guilherme e Morgan trabalham o diálogo permeado por relações de poder, pela história e pela cultura, por valores normativos e pela necessidade de um espaço comum. Os potenciais e os dilemas do diálogo, especialmente na Educação, são temas de renovado interesse, ainda maior quando os recentes eventos e as dinâmicas sociais colocam em xeque a capacidade de dialogar. Como apontam (2018, p.4), “o diálogo não é simples de obter; pelo contrário, depende da disposição e da situação e é frequentemente difícil de iniciar, ainda mais de sustentar”7. Cultivar essa disposição é, portanto, o desafio ético do tempo presente, ao qual a Filosofia da Educação não se furta.
1Traduzido livremente do original: “simplistic and reductionist ways of understanding dialogue which do not consider the relations involved in the dialogue”.
2Traduzido livremente do original: “range of complexities, dynamics, and effects implied and caused by dialogue that the simple notice of a process of questioning and answering does not capture successfully”.
3A expressão é claramente uma referência à coletânea de ensaios de Mikhail Bakhtin publicada em inglês com o título The Dialogic Imagination (BAKHTIN, 1981). Dela constam os ensaios (i) Epic and Novel: toward a Methodology for the Study of the Novel, traduzida em português como Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance) (1993, p.397-428) ou O romance como gênero literário (2019, p.65-111); (ii) From the Prehistory of Novelistic Discourse – em português, Da pré-história do discurso romanesco (1993, p.363-396) ou Sobre a pré-história do discurso romanesco (2019, p.11-63); (iii) Forms of Time and of the Chronotope in the Novel: Notes toward a Historical Poetics – em português Formas de tempo e de cronotopo no romance (Ensaios de poética histórica) (1993, p.211-362) ou As formas do tempo e do cronotopo no romance (2018, p.11-237); (iv) Discourse in the Novel – O discurso no romance (1993, p.71-210; 2015, p.19-242).
4Traduzido livremente do original: “dialogue and the polyphonic participation of different voices in the exchange of ideas through language and literature”.
5Traduzido livremente do original “provided a powerful alternative to both Pavlovian behaviourism and the Piagetian focus on cognitive biological maturation”.
6Traduzido livremente do original “marginalization of public dialogue and debate”.
7Traduzido livremente do original “dialogue is not simple to achieve; rather, it is dependent on disposition and on situation and is often difficult to initiate, let alone sustain”.
Referências
ARENDT. H. As origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. [ Links ]
ARENDT. H. A condição humana, 10. ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. [ Links ]
BAKHTIN, M. The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. Edited by Michael Holquist; translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin, TX: University of Texas Press, 1981. [ Links ]
BAKHTIN, M. Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance). In: BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética. A teoria do romance. Tradução Aurora Fornoni Bernadini et al. São Paulo: UNESP/Hucitec, 1993. p.397-428. [ Links ]
BAKHTIN, M. O romance como gênero literário. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. p.65-111. [ Links ]
BAKHTIN, M. Da pré-história do discurso romanesco In: BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética. A teoria do romance. Tradução Aurora Fornoni Bernadini et al. São Paulo: UNESP/Hucitec, 1993. p.363-396. [ Links ]
BAKHTIN, M. Sobre a pré-história do discurso romanesco. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. p.11-63. [ Links ]
BAKHTIN, M. Formas de tempo e de cronotopo no romance (Ensaios de poética histórica). In: BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética. A teoria do romance. Tradução Aurora Fornoni Bernadini et al. São Paulo: UNESP/Hucitec, 1993. p.211-362. [ Links ]
BAKHTIN, M. As formas do tempo e do cronotopo no romance. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance II: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2018. p.11-237. [ Links ]
BAKHTIN, M. O discurso no romance. In: BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética. A teoria do romance. Tradução Aurora Fornoni Bernadini et al. São Paulo: UNESP/Hucitec, 1993. p.71-210. [ Links ]
BAKHTIN, M. O discurso no romance. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance I: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. p.19-242. [ Links ]
BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoiévski. 4. ed. Tradução, notas e prefácio Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. [ Links ]
BAKHTIN, M. Diálogo I. A questão do discurso dialógico. In: BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. Organização, tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Notas da edição russa Serguei Botcharov. Editora 34, 2016a. p.113-124. [ Links ]
BAKHTIN, M. Diálogo II. A questão do discurso dialógico. In: BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. Organização, tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Notas da edição russa Serguei Botcharov. Editora 34, 2016b. p.125-150. [ Links ]
BUBER, M. Eu e tu. Tradução do alemão, introdução e notas por Newton Aquiles Von Zuben. 10. ed. São Paulo: Centauro, 2001. [ Links ]
BUBER, M. Do diálogo e do dialógico. Trad. Marta E. de Queiroz, Regina Weinberg. São Paulo: Perspectiva, 2007. [ Links ]
HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action. Vol 1: Reason and the Rationalizalion of Society. Boston: Beacon Press, 1984. [ Links ]
HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action. Vol 2: Lifeworld and Sistem: A critique of functionalist reason. Boston: Beacon Press, 1987. [ Links ]
LEVINAS, E. Totalidade e infinito. Trad. José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1988a. [ Links ]
LEVINAS, E. Ética e Infinito: diálogos com Philippe Nemo. Trad. João Gama. Lisboa: Edições 70, 1988b. [ Links ]
LÉVINAS, E. Entre nós. Ensaios sobre alteridade. Trad. Pergentino Stefano Pivatto et al. Petrópolis-RJ: Vozes, 2005. [ Links ]
MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Trad. Carlos Alberto R. de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1996. [ Links ]
MERLEAU-PONTY, M. A estrutura do comportamento. Trad. Márcia Valéria Martinez Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2006. [ Links ]
OAEKSHOTT, M. The Voice of Liberal Learning. New Haven and London: Yale University Press, 1989. [ Links ]
VOLÓCHINOV, V. (Círculo de Bakhtin). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução, notas e glossário Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. Ensaio introdutório Sheila Grillo. São Paulo: Editora 34, 2017. [ Links ]
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. Trad. Jefferson Luiz Camargo. Revisão técnica José Cipolla Neto. São Paulo: Martins Fontes Editora, 1999. [ Links ]
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 6. ed. Trad. José Cipolla Neto et al. São Paulo: Martins Fontes, 1998. [ Links ]
WEIL, S. Aulas de filosofia. Trad. Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 1991. [ Links ]
WEIL, S. O enraizamento. Trad. Maria Leonor Loureiro. Bauru, SP: EDUSC, 2001a. [ Links ]
WEIL, S. Opressão e liberdade. Trad. Ilka Stern Cohen. Bauru: EDUSC, 2001b, Coleção Mulher. [ Links ]
Cibele Cheron – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Programa de Pós-Graduação em Educação, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil; PNPD/CAPES; cibele.cheron@pucrs.edu.br
Glória Carneio do AMARAL, Navette Literária França-Brasil – A crítica de Roger Bastide, São Paulo, EDUSP, Maria Luiza Guarnieri Atik, Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso
Teoria do romance III: o romance como gênero literário – BAKHTIN (B-RED)
BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra; organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. 144p. Resenha de: MELO JÚNIOR, Orison Marden Bandeira de. Bakhtiniana, Revista de Estudos do Discurso, v.15 n.2, São Paulo, Apr./June 2020.
Como já é notório a todos os leitores que acompanham as publicações de textos do Círculo pela Editora 34, a sequência dos textos Teoria do romance I, Teoria do romance II e, agora, Teoria do romance III tem, como base, o tomo 3 da coletânea Obras reunidas em sete tomos [Sobránie sotchiniênii v siémi tomakh] de Mikhail Bakhtin, organizada por Vadim Valeriánovitch Kójinov (1930-2001) e Serguei Geórguievitch Botcharóv (1929), que, segundo Grillo (2009), são os detentores dos espólios bibliográficos de Bakhtin. Ainda segundo Grillo (2009), após a morte de Kójinov, ficou Botcharóv o responsável pela coordenação do projeto, dando, dessa forma, conforme a Nota à edição brasileira encontrada na Teoria do romance I (BAKHTIN, 2015), o consentimento para que Paulo Bezerra e a editora o dividissem em três volumes.
Com a finalização da publicação da Teoria do romance com esse terceiro volume, é possível ter uma visão privilegiada em relação ao conjunto dos textos que compõem o Tomo 3. Desse modo, é mais fácil perceber, agora, que o número de ensaios que os três volumes apresentam não corresponde totalmente aos ensaios encontrados na coletânea Questões de literatura e de estética: a teoria do romance (doravante, QLE) (BAKHTIN, 2002). QLE se inicia com o ensaio O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária. No entanto, esse ensaio não está publicado na trilogia. Segundo Bezerra (2015), ele foi suprimido da Teoria do romance pelos organizadores russos por ser um texto mais genérico sobre a teoria da literatura, com foco na contraposição aos formalistas russos. Grillo (2009) informa que ele aparece no Tomo 1 das Obras reunidas em sete tomos, juntamente com os textos Arte e responsabilidade, Para uma filosofia do ato e O autor e o herói na atividade estética.
O segundo ensaio O discurso no romance é publicado pela Editora 34 no primeiro volume da trilogia: Teoria do romance I: A estilística (BAKHTIN, 2015). Formas de tempo e de cronotopo no romance (ensaios da poética histórica), terceiro ensaio da QLE, é publicado em Teoria do romance II: as formas do tempo e do cronotopo (BAKHTIN, 2018). É interessante notar que, na tradução de Paulo Bezerra, o ensaio passa por uma pequena modificação no seu título: As formas do tempo e do cronotopo no romance: um ensaio de poética histórica. Vale destacar que ambas as obras (Teoria do romance I e Teoria do romance II) foram resenhadas logo após a sua publicação e suas resenhas foram publicadas na revista Bakhtiniana. A resenha de Adriana P. P. Silva do primeiro volume foi publicada no primeiro número de 2016 (SILVA, 2016) e a resenha de Maria Elizabeth S. Queijo do segundo volume, no segundo número de 2019 (QUEIJO, 2019).
A coletânea QLE finaliza com três curtos ensaios: Da pré-história do discurso romanesco, Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance) e Rabelais e Gógol (arte do discurso e cultura cômica popular). Desses três, dois deles aparecem no volume Teoria do romance III: o romance como gênero literário (BAKHTIN, 2019), a saber: Da pré-história do discurso romanesco e Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance), mas com modificações em seus títulos. O texto Rabelais e Gógol aparece no Tomo 4 das Obras reunidas que, segundo Grillo (2009), é dedicado aos textos de Bakhtin sobre Rabelais, o que inclui, obviamente, a obra sobre François Rabelais e a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, publicada pela editora Hucitec no Brasil sob o título A cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de François Rabelais (BAKHTIN, 2010).
Em relação aos ensaios que compõem o terceiro volume da Teoria do romance, em um primeiro momento o leitor consegue identificar apenas um, Sobre a pré-história do discurso romanesco, cujo título se assemelha ao anterior. No entanto, pode causar alguma estranheza o título do segundo ensaio que, inclusive, aparece como subtítulo do volume: O romance como gênero literário. Bezerra (2019), no seu posfácio intitulado O fechamento de um grande ciclo teórico, conta que esse era o título original do texto, publicado de forma fragmentada sob o título Epos e o romance. Esse mesmo título é encontrado nas versões em inglês, espanhol, francês e italiano: Epic and novel: toward a methodology for the study of the novel (BAKHTIN, 1981); Épica y novela: (acerca de la metodología del análisis novelístico) (BAJTÍN, 1989); Récit épique et roman: (méthodologie de l’analyse du roman) (BAKHTINE, 1978); Epos e romanzo: sulla metodologia dello studio del romanzo (BACHTIN, 2001). Bezerra (2019) explica que o título do ensaio foi restaurado pelos organizadores das Obras reunidas com o objetivo de corresponder, de forma integral, ao projeto de Bakhtin de versar sobre “o romance como gênero literário específico”, mostrando, dessa forma, “os encontros e os desencontros dos dois gêneros” (p. 120), ou seja, da epopeia e do romance. Essa estranheza, no entanto, é facilmente dissipada pela compreensão do seu sentido, restando aos leitores e estudiosos do romance à luz bakhtiniana se adequar aos novos termos e títulos, sabendo que são resultados de estudos e pesquisas de scholars especialistas nas obras do Círculo. Ademais, o leitor da tradução de Paulo Bezerra deve se sentir privilegiado por essa informação, trazida no terceiro volume da Teoria do romance, tendo em vista que em nenhuma versão da obra no inglês, espanhol, francês e italiano essa explicação é dada ao leitor.
Antes de adentrar nas considerações mais específicas sobre o terceiro volume da teoria do romance, novamente devido a essa visão privilegiada da totalidade dos textos que compõem a Teoria do romance de Bakhtin, é necessário observar a macroestrutura dos três volumes. Como já foi ressaltado por Silva (2016) e Queijo (2019), essas obras trazem um enriquecimento aos estudos do romance não somente por serem textos cuja tradução “se aproxima da voz de seu autor” (SILVA, 2016, p.269), mas por todos os paratextos encontrados nelas, o que inclui o posfácio do tradutor que, segundo Queijo (2019, p.155) “emoldura o texto que as [páginas do posfácio] precedem”. Brait (2019) afirma que compreender uma obra como enunciado concreto, conforme o Círculo, implica entender que todos os textos dessa obra fazem parte do seu todo arquitetônico, o que inclui os paratextos, ou seja, “textos que se avizinham do texto principal, caso do título, subtítulos, dedicatórias, epígrafes, prefácio, posfácio, etc. e que […] abrem caminho para o leitor adentrar os meandros do texto principal” (p.251). Na Teoria do romance I, além do prefácio por Paulo Bezerra, o tradutor também apresenta um glossário de alguns conceitos-chave. Além desses paratextos, ainda há uma nota à edição brasileira, um nota de informação sobre Bakhtin e outra sobre Bezerra. No segundo volume, é adicionado, ao texto principal, alguns rascunhos que Bakhtin fez para o último capítulo que ele adicionou posteriormente. Esse rascunho foi intitulado de Folhas esparsas. Além desse rascunho, há o posfácio de Bezerra, que ele intitula de Uma teoria antropológica da literatura, além das notas recorrentes nos três volumes (nota dos editores, nota sobre Bakhtin e nota sobre o tradutor). O terceiro volume segue o formato do segundo, com um posfácio por Paulo Bezerra e as três notas. O posfácio de Bezerra é intitulado O fechamento de um grande ciclo teórico, que dá, como se percebe, o tom de completude a esse grande enunciado Teoria do romance. É interessante notar que apenas o primeiro volume traz um glossário, com notas explicativas do tradutor. Isso possivelmente se deve ao fato de que o tradutor assumiu novos termos para aqueles que já estavam consolidados na academia. Um exemplo é o termo “heterodiscurso”, que veio substituir “o já consagrado termo plurilinguismo nos trabalhos dos pesquisadores brasileiros que se debruçam sobre o pensamento bakhtiniano” (SILVA, 2016, p. 268).
Em relação ao conteúdo de Teoria do romance III (BAKHTIN, 2019), não me aterei ao resumo de cada ensaio, já que eles já têm sido apresentados por vários estudiosos das obras de Bakhtin sobre o romance, em específico, e sobre a literatura, em geral. Um exemplo disso é o capítulo de Maria Inês B. Campos (2009) na coletânea Bakhtin: dialogismo e polifonia (BRAIT, 2009), que apresenta todos os ensaios da coletânea Questões de literatura e de estética (BAKHTIN, 2002). Para a apresentação do ensaio Dá pré-história do discurso romanesco/Sobre a pré-história do discurso romanesco, escreveu o texto intitulado O importante papel do riso e do plurilinguismo (CAMPOS, 2009, p.137-139) e para a do ensaio Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance)/O romance como gênero literário, escreveu Sobre a metodologia do estudo do romance (CAMPOS, 2009, p.139-142). Diante disso, é necessário explicar ao leitor que os ensaios foram enriquecidos substancialmente não só pelo fato, já apontado, de eles terem sido restaurados quanto aos títulos originais, mas também por incorporarem as próprias correções de Bakhtin, restituírem trechos anteriormente cortados e preservarem as anotações que Bakhtin fez nas margens dos textos datilografados. Segundo a Nota à edição brasileira (2019), além dessas notas do próprio Bakhtin, o leitor encontrará esses trechos restaurados (indicados por asterisco) e as notas do tradutor.
Essas inserções e modificações no texto podem ser vistas, em primeiro lugar, pelas escolhas tradutórias de Bezerra que, em alguns momentos, diferem das escolhas dos tradutores de QLE. Bezerra (2015, p.10) explica que “[t]raduzir Bakhtin, além de ser um desafio extremamente difícil, é também arriscado”. Para ele, isso se dá pelo fato de que o tradutor está diante de “conceitos que abrangem todo um sistema de reflexões embasado em algo que talvez se possa chamar de filosofia estética” (BEZERRA, 2015, p.10). Nesse sentido, é possível destacar dois exemplos de diferenças tradutórias entre Bezerra e os tradutores de QLE. Em primeiro lugar, pensando nas categorias bakhtinianas, Bezerra ilumina muitos trechos dos ensaios com a utilização de termos teoricamente mais específicos. Como exemplo, encontramos a seguinte oração no ensaio Dá pré-história do discurso romanesco: “Pode-se notar cinco tipos de abordagens para o discurso romanesco” (BAKHTIN, 2002, p.364); na tradução de Bezerra, em Sobre a pré-história do discurso romanesco, lê-se: “observam-se cinco tipos de enfoque estilístico do discurso romanesco” (BAKHTIN, 2019, p.13). Observa-se que Bezerra utiliza termos específicos (“enfoque estilístico”) em vez de termos mais genéricos (“abordagem”). Em segundo lugar, é pertinente destacar a escolha tradutória de Bezerra diante de termos multissêmicos da língua russa, como a palavra slovo. Segundo Grillo e Américo (2017, p.364), o termo “tem um significado amplo, que compreende desde a unidade lexical até a ‘a linguagem verbal em uso’ ou o enunciado e o discurso”. Diante disso, o tradutor necessita fazer escolhas, levando em consideração as possibilidades tradutórias e o contexto teórico do termo no texto de partida. Por exemplo, no ensaio A palavra na vida e a palavra na poesia de Volóchinov (2019), Grillo e Américo explicam, na Nota do Tradutor 1, que a tradução de slovo como “palavra” se deu pelo fato de o ensaio estabelecer um diálogo mais direto com o manifesto dos futuristas russos intitulado Slóvo kak takovóie [A palavra como tal]. No entanto, esclarecem que a tradução como “discurso” seria favorecida pelo fato de que “a linguagem é considerada na relação com o seu meio social, com o criador e o contemplador, com a sua esfera de circulação etc.” (2019, p.109). Nessa esteira, ainda no primeiro ensaio de Teoria do romance III, verifica-se que a escolha de Bezerra também difere da escolha dos tradutores de QLE (BAKHTIN, 2002). Em Dá pré-história do discurso romanesco, lê-se: “Entretanto, nas condições do romance, a palavra tem uma existência inteiramente particular […]” (BAKHTIN, 2002, p.364). Já em Sobre a pré-história do discurso romanesco, percebe-se que Bezerra escolhe o termo “discurso”: “Entretanto, nas condições do romance o discurso vive uma vida totalmente específica […]” (BAKHTIN, 2029, p.14).
Além dessas diferenças tradutórias, é necessário que o leitor esteja ciente para o fato de que os ensaios que formam Teoria do romance III possuem trechos novos. Como já mencionado anteriormente, essa nova versão dos ensaios recupera trechos anteriormente cortados. Um exemplo disso é o primeiro parágrafo do ensaio O romance como gênero literário (BAKHTIN, 2019, p.65). Esse parágrafo traz uma explicação necessária da razão pela qual o autor teve de dedicar um espaço do ensaio que trata da teoria do gênero romanesco para uma discussão sobre a filosofia dos gêneros. Esse parágrafo não existe na tradução de 2002. De fato, o primeiro parágrafo da tradução de 2002 se inicia com a oração: “O estudo do romance enquanto gênero caracteriza-se por dificuldades particulares” (BAKHTIN, 2002, p.397). Esse é o segundo parágrafo da tradução de 2019, que se inicia com a oração: “A teoria do romance enquanto gênero distingue-se por dificuldades peculiares […]” (BAKHTIN, 2019, p.65).
Com essas breves notas, já é possível perceber a singularidade da nova tradução ao português brasileiro desses ensaios. Como mencionado anteriormente, além de uma tradução teoricamente mais específica e das incorporações textuais feitas, Teoria do romance III ainda recebe um ensaio de Paulo Bezerra em que não só explica a origem dos ensaios de Bakhtin, ou seja, as “duas conferências proferidas por Bakhtin nas reuniões do grupo de teoria da literatura organizado pelo professor Leonid Timofêiev no Instituto de Literatura Mundial Maskim Górki de Moscou” (BEZERRA, 2019, p.113), como também tece detalhes sobre os dois ensaios separadamente. Dessa forma, destaca, em Sobre a pré-histórica do discurso romanesco, o riso e a paródia, e o objetivo central do ensaio, e demonstra como O romance como gênero literário “[…] quebrou os paradigmas tradicionais nos estudos e enfoques da história e da teoria do romance” (BEZERRA, 2019, p.122).
Teoria do romance III, portanto, é uma obra de excelência, que deve ser lida por todos aqueles que estudam o romance pelas lentes bakhtinianas. Esse convite não é feito somente para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler os ensaios, mas também para aqueles que já os leram, discutiram, estudaram em QLE, pois poderão perceber o enriquecimento ao texto proporcionado por Paulo Bezerra, que, mais uma vez, utilizando-se dos seus conhecimentos linguísticos, literários, tradutórios e teóricos (em especial, da teoria dialógica), traz ao leitor um texto que é mais completo em si mesmo – com a inserção de todas as notas de Bakhtin suprimidas anteriormente e as notas e observações tão ricas do tradutor -, completando a Teoria do romance proposta por Bakhtin.
Referências
BACHTIN, M. Epos e romanzo: sulla metodologia dello studio del romanzo. In: BACHTIN, M. Estetica e romanzo. Tradução Clara Strada Janovič. Torino: Einaudi, 2001. p.445-482. [ Links ]
BAJTÍN, M. Épica y novela (Acerca de la metodología del análisis novelístico). In: BAJTÍN, M. Teoría y estética de la novela: trabajos de investigación. Tradução Helena S. Kriúkova, Vicente Cazcarra. Madrid: Taurus, 1989. p.449-485. [ Links ]
BAKHTIN, M. Epic and novel: toward a methodology for the study of the novel. In: BAKHTIN, M. The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. Edited by Michael Holquist; translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin, TX: University of Texas Press, 1981. pp.3-40. [ Links ]
BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Tradução Aurora F. Bernardini et al. São Paulo: Hucitec; Annablume, 2002. [ Links ]
BAKHTIN, M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Tradução Yara F. Vieira. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. [ Links ]
BAKHTIN, M. O discurso no romance. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance I: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. [ Links ]
BAKHTIN, M. As formas do tempo e do cronotopo no romance. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance II: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2018. [ Links ]
BAKHTIN, M. O romance como gênero literário. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. [ Links ]
BAKHTINE, M. Récit épique et roman: (méthodologie de l’analyse du roman). In: BAKHTINE, M. Esthétique et théorie du roman. Tradução: Daria Olivier. Paris: Édition Gallimard, 1978. p.439-473. [ Links ]
BEZERRA, P. Prefácio. In: BAKHTIN, M. O discurso no romance. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance I: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. p.7-13. [ Links ]
BEZERRA, P. O fechamento de um grande ciclo teórico. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. p.113-133. [ Links ]
BRAIT, B. Discursos de resistência: do paratexto ao texto. Ou vice-versa? Alfa, v.63, n.2, p.243-263, 2019. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/article/view/11452/8477. Acesso em: 25 jan. 2020. [ Links ]
CAMPOS, M. I. B. Questões de literatura e de estética. In: BRAIT, B. (org.). Bakhtin: dialogismo e polifonia. São Paulo: Contexto, 2009. p.113-149. [ Links ]
GRILLO, S. Obras reunidas de M. M. Bakhtin. Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso, v. 1, n. 1, p.170-174, 2009. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/bakhtiniana/article/view/3007/1938. Acesso em: 25 jan. 2020. [ Links ]
GRILLO, S.; AMÉRICO, E. V. Glossário. In: VOLÓCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução Sheila Grillo e Ekaterina V. Américo. São Paulo: Editora 34, 2017. p.353-368. [ Links ]
GRILLO, S.; AMÉRICO, E. V. Nota do Tradutor 1. In: VOLÓCHONOV, V. (Círculo de Bakhtin). A palavra na vida e a palavra na poesia: ensaios, artigos, resenhas e poemas. Organização, tradução, ensaio introdutório e notas Sheila Grillo e Ekaterina V. Américo. São Paulo: Editora 34, 2019. p. 109. [ Links ]
NOTA à edição brasileira. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance I: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. p. 15-16. [ Links ]
NOTA à edição brasileira. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. p. 7-8. [ Links ]
QUEIJO, M. E. S. BAKHTIN, Mikhail. Teoria do romance II: As formas do tempo e do cronotopo. Tradução, posfácio e notas de Paulo Bezerra; organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2018. 272p. Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 150-158, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-45732019000200150&lng=en&nrm=iso&tlng=pt&ORIGINALLANG=pt. Acesso em: 25 jan. 2020. http://dx.doi.org/10.1590/2176-457340996. [ Links ]
SILVA, A. P. P. F. BAKHTIN, Mikhail. Teoria do romance I: A estilística. Tradução, prefácio, notas e glossário de Paulo Bezerra; organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. 256p. Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso, São Paulo, v. 11, n. 1, p.264-269, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-45732016000100264&lng=en&nrm=iso&tlng=pt&ORIGINALLANG=pt. Acesso em: 25 jan. 2020.. http://dx.doi.org/10.1590/2176-457324424. [ Links ]
Orison Marden Bandeira de Melo Júnior – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil; junori36@uol.com.br.
Ensaios de filosofia da ciência | Pierre Duhem
La presente traducción portuguesa de una colección de textos del físico, filósofo e historiador de la ciencia Pierre Duhem se compone de ocho textos dispuestos en orden cronológico, de los cuales los cinco primeros corresponden a textos publicados en la Revue des questions scientifiques entre 1892 y 1896, mientras que los restantes aparecieron originalmente en Annales de philosophie chrétienne (1905), la Revue générale des sciences pures et appliquées (1908) y la Revue des deux mondes (1915). Cuenta, además, con un prefacio, un amplio y bien documentado estudio introductorio, una cronología, una bibliografía y sus respectivos índices de nombres y materias.
Si bien Duhem ha sido considerado un filósofo fundamental para la reflexión sobre las ciencias, a pesar de que él consideraba que sus contribuciones solo competían al ámbito de la física teórica, el conocimiento de su obra se limita por lo general a su libro La théorie physique, son objet et sa structure (1906). Sin embargo, esta obra capital fue traducida tardíamente en nuestro idioma (Duhem, 2003) mientras que la versión portuguesa apareció once años más tarde (Duhem, 2014); solo la versión castellana, además, se hizo a partir de la segunda edición de 1914, que añade como apéndice dos ensayos (“Physique du croyant” y “La valeur de la théorie physique: A propos de la publication d’un libre récent”) producto de su respuesta a los estudios de Abel Rey sobre su filosofía de la ciencia y sobre el rumbo de la física teórica a inicios del siglo XX (Rey, 1907). Por esta razón, la presente edición representa una aportación importante para adentrarse en el conocimiento de la obra del pensador francés entre el público de habla portuguesa y castellana. Leia Mais
¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo ya no existe | Roy Hora
Este último libro de Roy Hora analiza la percepción del latifundio como problema social o económico a lo largo de casi dos siglos de reflexión intelectual y los efectos de esa persistente prédica, largamente compartida por las élites letradas urbanas argentinas de todos los signos ideológicos. La importancia y actividad de las mismas es también una marca distintiva del país: sólo para mencionar algunos de sus miembros: Pedro Andrés García, Domingo F. Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Miguel A. Cárcano, Juan B. Justo, Emilio Coni, Eduardo Laurencena, Horacio Giberti. Aun a fines del siglo XX, esa tradición era sorprendentemente vital, en un énfasis de inspiración romántica. Es de destacar que ese diagnóstico fue durante mucho tiempo hegemónico, al punto que las tímidas voces disidentes nunca lograron hacerse oír. Un ejemplo es Saturnino Zemborain, cuyo La verdad sobre la propiedad de la tierra en la Argentina (Buenos Aires: Sociedad Rural, 1973), apenas trascendió. Con la ayuda de hemerografía relevante y fuentes gubernamentales y privadas, el libro de Roy Hora sitúa esas visiones en línea con la evolución de la estructura agraria y del mundo social y económico rural, así como con la política nacional. Es, por tanto, muy bienvenido, no sólo por la maestría con que trata una temática compleja, sino por la falta de suficientes análisis informados y las muchas ignorancias y estereotipos que persisten al respecto. Así, debe notarse que la anterior iniciativa comparable data de hace casi treinta años: el libro de Osvaldo Barsky, Marcelo Posada y Andrés Barsky, El pensamiento agrario argentino (Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992). Leia Mais
Agrarian Crossings: Reformers and the Remaking of the US and Mexican Countryside | Tore C. Olsson
In Agrarian Crossings: Reformers and the Remaking of the US and Mexican Countryside, Tore C. Olsson adeptly traces the ways that Mexican and US actors developed parallel and mutually influenced projects aimed to restructure the countryside during the 1930s and 1940s. In a fascinating account of individuals committed to transforming their societies, Olsson makes a powerful and convincing case that agrarian reforms, though situated in a specific geographic place, were not isolated occurrences but rather formed within a cauldron of exchange not bound to national borders. Moreover, this entangled history underscores how political decisions eroded small-scale agriculture in favor of large-scale production, a shift with continued profound environmental and social effects into the present. Leia Mais
Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950) | Catherine Legrand
La segunda edición en español del ya clásico libro de Catherine LeGrand nos hace reflexionar nuevamente acerca de las razones históricas del conflicto agrario en Colombia. ¿Por qué y contra quién pelean los campesinos? ¿Qué es lo que quiere el campesinado? Estas son las preguntas que plantea LeGrand para intentar esclarecer las raíces del conflicto rural. Por ello, no es coincidencia que la reedición de Colonización y protesta campesina en Colombia se hiciera en 2016, en el contexto de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP; el primer punto del acuerdo se refiere justamente a la Reforma Rural Integral, ya que, una de las causas fundamentales del conflicto armado en Colombia han sido los problemas derivados de la colonización de las tierras públicas, dinámica que en este libro se analiza minuciosamente. Leia Mais
La revolución de los arrendires. Una historia personal de la reforma agraria | Rolando Rojas Rojas
A medio siglo de la Reforma Agraria promovida por el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), quedan muchas historias que contar y volver a contar. Más que conmemorar, la variedad de producciones culturales y publicaciones académicas que nos dejó el 2019 sirvió al Perú para interrogar el contestado legado de la reforma. El presente libro La revolución de los arrendires se destaca por su estilo testimonial. El historiador Rolando Rojas logra narrar una crónica en que confluye una historia personal -siendo nieto de uno de los protagonistas- y un análisis académico acerca de la agitación rural en años previos al decreto de 1969.
Lo que guía al autor son los íntimos recuerdos de familias campesinas del valle de La Convención, Cusco, sobre un evento dramático en 1956. En aquel año, un grupo de convencianos -entre ellos Tomás Rojas Pillco, abuelo del propio autor- conspiró para atentar contra la vida de Alberto Duque Larrea. Los primeros eran “arrendires” de Duque, un hacendado poderoso, no sólo en tierras, sino también en influencia política y jurídica en el valle. Para ellos, Duque era la personificación de un régimen profundamente desigual e injusto con el que decidieron acabar. El término “arrendires” dio el título al libro y llama inmediatamente la atención de las y los historiadores agrarios. El “arrendire” surgió en la región del Cuzco para referir a los jornaleros a quienes el hacendado cedió el usufructo de una porción de tierra de su propiedad a cambio de una serie de obligaciones. El libro no analiza en detalle la evolución de esta figura y los cambios concomitantes en el acceso a la tierra, pero examina el papel de estos actores en dinamizar el contexto rural pre-reforma. Ante su inminente expulsión dos arrendires encontraron un aliado en Tomás Rojas y complotaron para asesinar al hacendado. El atentado quedó registrado en la prensa regional como “la conspiración de los arrendires”. Leia Mais
Dust Bowls of Empire: Imperialism/ Environmental Politics/ and the Injustice of “Green” Capitalism
El Dust Bowl que asoló varios estados del sur de Estados Unidos (Texas, Nuevo México, Colorado, Oklahoma y Texas) ha tenido diversas lecturas a lo largo de la historia y ha sido utilizado para justificar políticas sociales como el New Deal. En 1992, el historiador William Cronon analizó dos publicaciones de 1979 sobre el Dust Bowl, una de Donald Worster y otra de Paul Bonnifield, que partiendo del mismo tema y estando de acuerdo en los mismos hechos llegaban a conclusiones diferentes, demostrando que un conjunto de hechos podía dar lugar a varias narrativas. Este trabajo se hizo sin embargo desde una óptica regional sin considerar los antecedentes, y al igual que el de Lockeretz (1978), ignoró la violenta confrontación de los colonos, el estado estadounidense y las organizaciones privadas con las naciones indígenas. Holleman, en cambio, parte de un enfoque interdisciplinar, que vincula este desastre natural de raíces antrópicas con el proceso actual de Cambio Climático. Por esto, resulta interesante para profesionales de diversas áreas como historiadores, sociólogos, ambientalistas y politólogos. Leia Mais
Watering the Revolution: An Environmental and Technological History of Agrarian Reform in Mexico | Mikael Wolfe
El agua suele ser una capa material poco abordada en el estudio del mundo agrario, tanto en América Latina como en el mundo. De hecho, se puede argumentar que analizar el campo como un espacio hídrico –configurado por vertientes, cuencas, canales, ríos, lagos, lagunas, reservas y, acaso más importante, derechos de agua– resulta un ejercicio mucho más complejo y posiblemente más fructífero que cuando se le ve como un “simple” espacio terrestre. Aunque la lucha por los derechos de la tierra ha dominado las narrativas históricas de las comunidades agrarias y los sujetos rurales de esta parte del mundo, existe otra historia por contar en clave hidrológica que da cuenta de los conflictos desatados por el elusivo control y la explotación del agua. Watering the Revolution es el estudio pionero de Mikael Wolfe que ofrece una primera mirada tecnomedioambiental sobre la reforma agraria post-revolucionaria en México. El libro es el resultado de un prolijo estudio de la región nor-central de la Comarca Lagunera, un espacio irrigado por los ríos Nazas y Aguavanal. La topografía de esta región produce una excentricidad medioambiental dado que ninguno de estos ríos desemboca en el océano, sino que producen una serie de lagunas cuyas cuencas sostienen regímenes de agricultura intensiva. En 1936, la riqueza hídrica de la Comarca Lagunera condujo a Lázaro Cárdenas a construir la primera represa del México post-revolucionario. Wolfe documenta el proceso de transformación de los regímenes hídricos producto de la construcción de esta represa, el papel de los técnicos agrarios en diseñar infraestructura y políticas públicas para un nuevo gobierno del campo y el desigual acceso al agua que subyació al reparto de tierras, entendido comúnmente como el aparente gran triunfo de la Revolución Mexicana. Leia Mais
Soberanías fronterizas: Estados y capital en la colonización de Patagonia (Argentina y Chile, 1830-1922)
State colonization is an ongoing and lively academic topic that challenges standard histories of nineteenth-century nation-building in Latin America. Soberanías Fronterizas: Estados y Capital en la colonización de Patagonia by Alberto Harambour falls within that historiographical heritage, demonstrating that a transnational history guided by postcolonial theory can offer a fresh interpretation of archival documents and historical events. Soberanías Fronterizas is a trans-Andean history that uses a global framework, examining the process of state colonization by the republican governments of Chile and Argentina in the southernmost Patagonia territories of Magallanes and Santa Cruz (and Tierra del Fuego), respectively, from 1830 to 1922. The book is organized into four thematic chapters; the first two explore the judicial constructions that were used by the dominant forces to colonize the territory and the second two analyze the development and institutionalization of the new economic and political powers. Leia Mais
Costa Rica después del café. La era cooperativa en la historia y la memoria | Lowell Gudmundson
Es importante indicar que el trabajo que aquí se comenta guarda relación con otro publicado en 1990 por el mismo autor bajo el título Costa Rica antes del café. Sociedad y economía en vísperas del boom exportador. En esa primera obra analizó las desigualdades que caracterizaban a la sociedad precafetalera, mientras que en esta se centra en las particularidades de la segunda mitad del siglo XX, la que el autor reconoce como la “era del cooperativismo costarricense” vinculado al sector cafetalero.
Desde el punto de vista metodológico es un libro de síntesis, ya que reúne las experiencias y las pesquisas de más de tres décadas, lo cual la convierte en una obra sin par en la historiografía cafetalera de Costa Rica. En este proceso se trabajó en la digitalización y análisis de censos, así como en el Archivo Nacional con alrededor de mil expedientes de mortuales (proceso sucesorio) que se cruzaron con los datos de censos para reconstruir un perfil del cafetalero costarricense de la segunda mitad del siglo XX. Este trabajo de indagación fue acompañado por una extensa cantidad de entrevistas con productores de café desde la década de 1980. Finalmente, y no menos importante, el autor realizó un análisis detenido de las investigaciones que sobre el tema se fueron publicando hasta el presente. Leia Mais
Historia rural de Chile central. Tomo I. La construcción del Valle Central de Chile | José Bengoa
Aunque el autor declara que ha llevado a cabo “la completa reescritura de este trabajo, llegando ser el presente un libro totalmente original” (p.18), en realidad este no es un libro nuevo ni original, sino una reedición de El poder y la subordinación (1988), uno de los dos textos que publicó con el subtítulo Historia social de la agricultura. En efecto, sólo el primer capítulo de esta reedición es un texto nuevo, aunque tampoco resulta original, pues, como todo el libro, está basado en una literatura muy desigual en términos de calidad y actualidad. Así, entonces, el propio autor precisa que “Los capítulos que siguen son versiones corregidas de anteriores publicaciones que, con fuertes cambios de perspectiva, mantienen cierta continuidad” (p. 16). Sin embargo, en esta reedición no hay “versiones corregidas” ni nucho menos “cambios de perspectiva”. Se trata del mismo texto de 1988, el cual el autor ha modificado incorporando un número importante de notas de pie de página al texto principal, cambiando las oraciones iniciales de algunos párrafos, agregando frases breves al comienzo de otros, absorbiendo citas a trabajos de otros autores como propias, cambiando algunos títulos de secciones y, sobre todo, alterando la secuencia de secciones y párrafos de distintos capítulos, de manera de componer capítulos que parecieran ser nuevos, pero no lo son. Leia Mais
The death of nature: women, ecology, and the Scientific Revolution | Carolyn Merchant
Lançado em 1980, The death of nature completa, em 2020, 40 anos de publicação e ainda carecia de uma resenha em português. Apesar do tempo passado desde o lançamento, o livro de Carolyn Merchant apresenta algumas reflexões e contribuições ainda atuais.
Merchant é professora emérita da University of California, Berkeley, e possui publicações nas áreas de epistemologia feminista, história ambiental e história das ciências. É uma das referências do ecofeminismo, movimento que associa ecologismo e feminismo, identificando relações entre a exploração da natureza e das mulheres. Contudo, ainda hoje a autora tem pouca inserção nos cursos e programas de história ambiental e das ciências no Brasil, sobretudo quando a comparamos com outras autoras feministas, como Evelyn Fox Keller e Donna Haraway. Entretanto, isso não é exclusividade brasileira. Apesar do interesse do campo ambiental e feminista, o livro foi marginalizado por historiadores anglófonos e filósofos da ciência moderna, além de ter encontrado um “clima frio” para sua recepção dentro da historiografia da ciência ( Park, 2006 ). Leia Mais
Hospitais e saúde no Oitocentos: diálogos entre Brasil e Portugal | Cybelle Salvador Miranda
Por um vasto oceano uniram-se dois continentes, com uma língua e um passado partilhados. Entre as viagens, sobreveio um profícuo e interessante linguajar oitocentista entre vários actores e instituições portugueses e brasileiros. Essas “conversas”, influenciadas por uma Europa de referência elitista, por um maior poder económico e um rápido incremento de estatuto social, foram cruciais para a apropriação e a utilização de conceitos na arquitetura da época. Cybelle Salvador Miranda e Renato da Gama-Rosa Costa, no livro Hospitais e saúde no Oitocentos: diálogos entre Brasil e Portugal , publicado em 2018, pela Editora Fiocruz, organizam relatos históricos de uma viagem icónica entre esses dois mundos que, aparentemente diferentes, beberam da mesma fonte.
Os diversos poderes imperiais e não imperiais que, nesse arco cronológico, sofreram metamorfoses são, também, agentes produtores de registos cruciais, pois, em última análise, a decisão é um poder executivo. Nessa obra, não são apenas os detalhes históricos centrados em sistemas governativos, mas também as visões dos doentes para com os seus decisores, invertendo a narrativa para ilustrar a importância da doença e do tratamento – o relato pelas elites resulta, normalmente, numa linha histórica rapidamente solúvel. As diversas peças do puzzle são extensivamente analisadas nos textos, entre as quais a questão da mudança da direcção médica das instituições, a consolidação científica, a título de exemplo. A arquitetura é um “espelho de Alice” que, além de refletir imagens da sua realidade, revela, por detrás, um mundo desconhecido de premissas e locuções – as mesmas que, também, o livro desvenda. Leia Mais
Mandarin Brazil: race, representation, and memory. | Ana Paulina Lee
A obra Mandarin Brazil , premiada como melhor livro em humanidades na seção Brasil pela Latin American Studies Association, é uma leitura importante para a compreensão das representações dos chineses na cultura popular brasileira. O livro remonta a construção e ressignificação dos estereótipos raciais associados ao imigrante chinês na literatura, na música e no teatro nos séculos XIX e XX. A obra extrapola o enfoque da historiografia nacional sobre os debates e as construções raciais em torno da imigração chinesa entre 1850 e 1890. Ana Paulina Lee (2018) priorizou a elaboração, reprodução e apropriação da chinesness , expressões culturais que elaboram conceitos e estigmas raciais referentes à China e aos seus habitantes. Essas imagens foram concebidas e apropriadas em meio a um intenso diálogo global fortalecido após a abolição do tráfico negreiro. Tais representações circulam dentro de uma memória circum-oceânica, um processo criativo por meio do qual a cultura da modernidade se inventa ao transmitir um passado que pode ser esquecido, recriado ou transformado em uma memória coletiva. Leia Mais
El trabajo clínico psiquiátrico en el Buenos Aires del siglo XX | Alejandra Golcman
El libro de Alejandra Golcman El trabajo clínico psiquiátrico en el Buenos Aires del Siglo XX es el resultado de una tesis de doctorado en ciencias sociales, producto de una investigación de 5 años de duración. El texto explica principalmente cómo las prácticas de los médicos del hospital psiquiátrico de mujeres J.A. Esteves, de Buenos Aires, Argentina, fueron influenciadas, atravesadas e, incluso, modificadas por el contexto social y cultural, durante el período 1908-1971. Este trabajo se aleja de la histoedria tradicional, con foco en las grandes figuras o corrientes teóricas, y se inscribe dentro de una perspectiva de historia cultural de la psiquiatría.
Los principales aportes del libro residen, en primer lugar, en la estrategia metodológica utilizada a lo largo del texto. El planteo cuantitativo y cualitativo le ha permitido a la autora analizar, tanto la población hospitalaria en general como los casos particulares del hospital. En segundo lugar, es destacable el trabajo realizado con historias clínicas. Golcman adhiere a un enfoque donde cobra relevancia la pregunta por la cotidianeidad del trabajo clínico de los profesionales y la vida de los pacientes dentro de las instituciones psiquiátricas. La centralidad de estos aspectos en el libro resulta, entonces, su contribución fundamental. Cabe aclarar que Golcman inscribe su investigación en perspectivas que ya vienen siendo trabajadas, hace por lo menos 10 años, fundamentalmente por equipos de investigación de España y México ( Huertas, 2012 ; Ríos Molina, 2017 ) en el marco de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría. De esta manera, en lo que se refiere específicamente al contenido del libro, la autora comienza su texto brindando una mirada sobre los diagnósticos de demencia precoz y esquizofrenia en el plano teórico, como los cuadros clínicos emblemáticos de la época, y también como los cuadros más representativos dentro de los casos clínicos analizados por la autora. Golcman realiza un abordaje de las ideas de los psiquiatras argentinos de aquel momento por medio de un análisis de artículos en revistas médicas, libros y tesis doctorales. Así, en el primer capítulo, la investigadora desarrolla el trabajo de esos autores, teniendo en cuenta las apropiaciones que ellos realizaron en el contexto local y mostrando que esas nociones también fueron redefiniéndose y reconstruyéndose con el correr de los años, en ese país. Leia Mais
O pêndulo de Epicuro: Ensaio sobre o sujeito e a lógica de uma história sem finalidade – Kant, Freud e Darwin – BOCCA; PEREZ (RFMC)
BOCCA, Francisco Verardi; PEREZ, Daniel Omar. O pêndulo de Epicuro: Ensaio sobre o sujeito e a lógica de uma história sem finalidade – Kant, Freud e Darwin. Curitiba: CRV,2019. Resenha de: ARMILIATO, Vinícius. Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, Brasília, v.8, p. 449-455, n.1, abr, 2020.
Nos confins da história da noção de história
O Pêndulo de Epicuro trata-se de mais uma publicação da parceria entre Francisco Verardi Bocca e Daniel Omar Perez. Se em publicação anterior, Ontologia sem espelhos (PEREZ;BOCCA;BOCCHI, 2014), que contou também com a parceria de Josiane Bocchi e no último ano ganhou uma tradução para o francês1, os autores fazem uma história da noção de realidade desde Descartes até Freud, na obra presente fazem a história da ideia de história que figura de modo subjacente às elaborações de Kant, FreudeDarwin. E analisando detalhadamente cada autor, apresentam como visualizam na história um rumo, um percurso ou mesmo uma tendência, de modo que ora se aproxima do legado de Epicuro, ora se afasta desta. Perguntam-se: Seria curso da história ascendente, regressivo, assintótico, cíclico ou mesmo, sem qualquer rumo? Caso não houvessem rumos possíveis, se os acontecimentos ao longo na história nada mais fossem do que o resultado da pura aleatoriedade dos acontecimentos humanos, poderíamos dizer que seu curso nada mais seria do que o efeito da seleção de acontecimentos dada pelo viés teórico do autor que diz algo sobre a história? Ainda, é possível conceber um modelo de análise da história que ofereça visualidade para a contingência e aleatoriedade dos acontecimentos da vida? São essas as questões que figuram como objeto central de O pêndulo de Epicuro. Trata-se de um trabalho minucioso e necessário. Minucioso, pela precisão e verticalidade com que abordam os autores. Nesse caso, textos marginais são evocados em paralelo aos mais célebres, além de revelarem movimentos internos e pendulares a cada autor (por exemplo, os diferentes pesos que Darwin confere à variação e à seleção ao longo de suas publicações). Necessário, enquanto trabalho que permite encarar os modos como a história é concebida e, consequentemente, observar os efeitos de tais visadas. Assim, seja uma história que marcha para um futuro promissor, seja uma história que declina ou mesmo uma história que não tem rumo, em cada uma dessas posições tem-se o fundamento ou a justificativa para a forma como a sociedade se relaciona com seu presente: devemos voltar ao passado? é no futuro que encontramos tempos melhores? O presente é o passado corrompido, degenerado? O presente é um futuro inacabado que deve ver no porvir um modelo a se alcançar? Tais questões, também abordadas na obra, não deixam de ser importantes para o mais contemporâneo dos debates sobre os rumos da civilização, da governança e da ética.
O livro conta com uma apresentação assinada por Eládio C. P. Craia, a qual leva às últimas consequências os argumentos da obra. O pêndulo de Epicuro propõe três principais capítulos, ou ensaios, dedicados a Kant, Freud e Darwin. Além disso, em sua Introdução, apresenta uma revisão objetiva e cuidadosa das leituras que visualizaram tendências na história das civilizações, como o fez Herbert Butterfield, Michel Meyer, Arnold Toynbee e Oswald Spengler, e também autores contemporâneos, tais como François Hartog.
Já nas primeiras linhas da apresentação do livro, intitulada A irrupção dos acontecimentos, encontramos o anúncio da falência na busca por uma ordem finalista da história: “Todos reconhecem que a natureza, assim como as sociedades humanas, nos seus devires, manifestam a cada instante emergências que julgávamos impossível. Sempre nos desconcertam, contudo, não desistimos de buscar suas lógicas, seu sentido histórico” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 23). Nesse sentido, a reflexão filosófica encontrou entendimentos da organização do tempo que só com Darwin é que se pôde enfraquecer “uma perspectiva de história universal e finalista, indissociável do futuro e do progresso” (BOCCA; PEREZ,2019,p. 23). Darwin teria retomado o modelo epicurista onde o presente, a aleatoriedade e a contingência seriam justamente os fatores que organizam a vida e seu percurso. O interesse por esse fato, da ausência de finalidade presente em Epicuro resgatada pela biologia evolutiva da segunda metade do século XIX” permite compreender os fatos naturais e históricos prescindindo, entre outras coisas, do futurismo assim como do passadismo, mas sobretudo, das ilusões da modernidade” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 24). Por conta disso é que no primeiro capítulo Kant é explorado, dado que tal autor procurou, conforme a o trabalho de Bocca e Perez mostra, desqualificar a perspectiva epicurista. Toda a ocorrência, todo o acontecimento, sedaria enquanto efeito de uma tendência mecânica causal. Em Kant “os elementos não são determinados contingentemente, mas recebem, por uma mecânica cega, determinação segundo leis gerais concebidas por uma sabedoria suprema” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 58). Kant viria então a substituir a contingência e o acaso por um programa de leis e tendências que orientaria o desenvolvimento da natureza. As predisposições para o progresso aparecem em vários trabalhos de Kant, como por exemplo em Ideia de uma história de um ponto de vista cosmopolita (1784), quando o autor apresenta o fio condutor da história humana que “ordena o desenvolvimento das disposições naturais do ser humano para o que chamou de cosmopolitismo” (BOCCA;PEREZ,2019,p. 62). Os autores mostram tais acepções em trabalhos posteriores, até em 1798 em O conflito das faculdades onde, novamente, a partir da Revolução Francesa, Kant apresenta “um tipo de acontecimento exemplar na experiência da humanidade que indica a aptidão humana para o progresso” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 86). Nesse sentido, articulando o passado, o presente e o futuro a partir dos acontecimentos em solo francês, vê-se o filósofo autorizar-se a “um tipo de predição acerca do futuro das sociedades humanas, de modo a fazer da ideia de República algo mais que uma quimera” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 87). Trata-se então, de uma tendência de aprimoramento da espécie reconhecida nos seres humanos, mesmo que seja, como ressaltam os autores, em uma curva assintótica em relação aos seus objetivos.
A ideia de uma curva assintótica que tende a alcançar o progresso de uma sociedade é bastante importante na comparação com o que seria uma filosofia da história em Freud, apresentada no segundo capítulo. Enquanto a tendência ao progresso é visualizada por Kant, a tendência à regressão é patente nas construções freudianas. Freud tratar-se-ia de um autor “declinista”. Tal leitura se ampara na análise de que Freud visualizou nas leis da termodinâmica que a tendência crescente de entropia nos fenômenos da matéria leva a seu desgaste total, à sua morte. Ao afirmar esta tendência ao aniquilamento como nodal na psicanálise freudiana de modo bastante original, os autores, evitando um contra-argumento de um Freud não-declinista, indicam que em sua obra há sim dois movimentos: um emancipatório e ascendente – visto na clínica – e um propriamente declinista – notado na metapsicologia. E é esta última que irão explorar no segundo ensaio, ambicionando entender qual seria a filosofia da história que através desta se decalca da psicanálise. Para eles, a metapsicologia “apresenta um determinismo naturalista composto de um certo ponto de vista evolucionista da Biologia a um ponto de vista entrópico da Física” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 89). Assim, se a clínica porta um papel emancipatório às amarrações psíquicas do paciente, o “jogo” entre o Princípio de Prazer e o Instinto de Morte leva à vitória deste último e, apesar do trabalho clínico e de desenvolvimento psíquico poder postergá-lo, jamais aniquilará seu próprio fim. Nesse âmbito, a especulação metapsicológica freudiana com o material empírico obtido em sua clínica “põe em jogo, o otimismo do esclarecimento e da autonomia do paciente ao finalismo declinista das forças entrópicas que o habitam”(BOCCA; PEREZ, 2019, p. 90). É essa aparente contradição que é investigada ao longo do capítulo e que permite notar a particularidade da ideia de história desde a perspectiva freudiana, cuja vida, a civilização e sua história, se situariam “Entre a abertura para o futuro e o declínio inexorável” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 90). Como lembra Freud em Além do princípio do prazer (1920), a finalidade da vida é atingir a morte. Aqui é preciso ressaltar que os autores resgatam em textos de Freud anteriores a este que acabamos de citar, a mesma perspectiva, declinista, embora ainda não tão explícita. Desse modo, evitam ler as tendências à regressão indicadas na década de 1920 por Freud como uma ruptura com o corpus anterior de sua obra.
Antes disso, estaria coerentemente em continuidade com trabalhos anteriores. Por exemplo, em Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (1908), Freud já havia ressaltado que o processo civilizatório atenta contra si mesmo: a doença nervosa é o dano da civilização. Fazendo analogias com máquinas a vapor, Freud considerou que a sublimação não é capaz de redirecionar toda a força instintual “da mesma forma que em nossas máquinas não é possível todo o calor em energia mecânica” (FREUD, 1908, apud BOCCA; PEREZ, 2019, p. 103). Nas palavras dos autores, nesta obra “Freud articulou o ponto de vista biológico evolucionista a um ponto de vista físico entrópico, atribuindo à natureza, ao homem e à civilização, uma evolução cuja finalidade seria a exaustão e o declínio”(BOCCA;PEREZ,2019, p. 104).
Ora, se uma curva é assintótica em relação ao progresso (Kant) e a outra em algum momento após certa ascensão regride para o estado anterior de repouso (Freud), haveria ainda uma terceira via (Darwin), que não comportaria nenhum direcionamento. No último capítulo, Darwin é aborda do como alternativa que mais se aproxima de Epicuro, ou seja, com o pêndulo retornando a uma perspectiva que permite visualizar uma história sem finalidade.
É então no último capítulo que irão indicar uma leitura alternativa a qual subscrevem na conclusão do livro, como veremos adiante, para um entendimento próprio da história. Para tanto, exploram como a ideia de variação ressaltada por Darwin torna-se fundamental para a compreensão de um curso da história sem finalidade, haja vista o reconhecimento pelo evolucionismo darwiniano de que é a produção aleatória de pequenas variações a cada descendência que, em interação com o meio (o qual também não é estável), conduz modificações à história da espécie (trata-se nada mais que o mecanismo da seleção natural). Quanto à descendência das espécies “Darwin retoma e reafirma o ponto de vista de Epicuro, ao concebê-la como não teleológica, como imprevisível” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 130). As objeções possíveis a tal asserção são debatidas através de comentadores mais recentes (tais como Thierry Hoquet, André Pichot, Vittorio Hosle e Dieter Wandschneider), especialmente quando se viu teleologia em concepções darwinianas, como nas ideias de struggle for life, complexificação e progresso. Quanto a este último, os autores afirmam: “[…] o que quer que tenhamos em mente quanto ao progresso e ao aperfeiçoamento, só pode ser referido, não a uma meta, mas contingencialmente a partir da relação que cada criatura de uma espécie mantém com as condições de sua existência” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 137). Algo que se reforça em trabalhos posteriores a Darwin, como na genética mendeliana redescoberta em 1900 por Hugo de Vries e na síntese moderna (Ernst Mayr e Julian Huxley). Trata-se de um conjunto de trabalhos que trouxeram para o debate “temas e conceitos como mecanismo, evolução cega, acaso, contingência, aleatoriedade, probabilidade, entre outros” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 138). Ainda, o papel da variação para a diversidade da vida segue sendo considerado no cenário pós-Darwin, notadamente a partir da biologia molecular. Os autores utilizam sobretudo os trabalhos de vulgarização dos biólogos ganhadores do Nobel de Medicina de 1965, Jacques Monod, François Jacob e André Lwoff. Tais autores consideram que “a variação por mutação, que impulsiona a evolução, não seria de modo algum um fenômeno de exceção, mas ao contrário, quem sabe, a regra. Residiria no seio da natureza. Monod reafirma o ponto de vista de que a própria conservação da vida seria dependente da novidade” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 150).
Ao final da leitura dos três ensaios principais do livro, torna-se evidente como os autores se posicionam favoravelmente ao entendimento da história enquanto algo que porta um fluxo descontínuo e aberto à singularidade. Mas quando chegamos às considerações finais, vemos o que poderíamos chamar de “quarto ensaio” cujo autor seria Georges Canguilhem.
A conclusão de O pêndulo de Epicuro parece prenunciar o que seria a continuidade do trabalho ora desenvolvido. Isso porque em seu capítulo conclusivo exploram, ainda que sumariamente, mas com bastante precisão, a mirada de Canguilhem sobre o tema, especialmente quanto ao modo como este se apropria da leitura darwinista junto aos desdobramentos da biologia evolutiva da primeira metade do século XX. Referimo-nos à ideia de progresso e de finalidade, atreladas às noções de cópia e de erro utilizadas nos estudos de genética analisados em diferentes textos de Canguilhem. Para tanto, situam a crítica que este faz a leituras da biologia da década de 1960 quanto ao uso que fazem da ideia de erro (erro na cópia, na transcrição gênica), notadamente nos trabalhos dos ganhadores do PrêmioNobelde1965. Canguilhem entende que tais usos são “consequências da ilusão moderna de progresso e finalidade” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 164). Isso porque a variação, elemento fundamental para a produção de novas formas vivas, acaba se tornando um equívoco da natureza quando são entendidas enquanto “erros”: “munido da noção de erro, o geneticista alimenta a expectativa de que a natureza reproduz o padrão que ele próprio julga ter reconhecido nela” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 169). No entanto, a vida pode ser entendida como produção incessante de variação, de diferença e singularidade, e assim, não passível de ser reduzida a um tipo ideal, não havendo possibilidade de entender a diferença enquanto equívoco ou malogro. Tudo dependerá de suas relações com o meio. Tais leituras da biologia “não consideram suficientemente que o que chamam erro seria a própria condição da evolução” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 169). Anunciam então nas últimas páginas do livro que, ao se manter essas categorias não só se abre para o retorno do pêndulo a noções de progresso e de finalidade, mas também para a eugenia, para a “expectativa de correção de seu erro”. Em suma, a sobrevivência de noções como cópia e erro dificulta o abandono da ideia de progresso e finalidade ontológica da natureza e, segundo Bocca e Perez, só o abandono destas “abriria em definitivo as portas para a emergência do possível, onde ser vivo e ambiente seriam partes de um meio biológico sempre a se constituir” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 171). Em suas últimas palavras, são bastante precisos ao lembrar que a crítica de Canguilhem, a qual apresentam na sequência aos três ensaios de história da noção de história propostos ao longo de O pêndulo de Epicuro, sabe a que veio, pois “denuncia a fragilidade da iniciativa histórica de classificação dos seres vivos, especialmente a que sugere e sustenta a presença de um fio condutor de continuidade evolutiva, um poderoso instrumento de apoio para teses e ações racistas e eugênicas que merecem combate por toda parte” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 177). Lembram, por exemplo, a reintrodução do criacionismo via design inteligente, movimento presente na biologia contemporânea. Trata-se, portanto, de se estabelecer um combate contratais leituras cuja estratégia é sugerida nas últimas palavras do livro: “Que não se perca Epicuro de vista” (BOCCA; PEREZ, 2019, p. 177).
Entendemos que O pêndulo de Epicuro é uma ferramenta teórica densa para amparar a defesa da diversidade e singularidade das formas vivas, dado que a leitura do trabalho de Francisco Bocca e Daniel Perez subjaz um ideal, o de que os indivíduos não sejam lidos como mais ou menos próximos a uma finalidade arbitraria, artificial e historicamente constituída.
Em um momento no qual os apelos à finalidade, à refutação da diferença e à religião penetram a ciência e a filosofia, temos, nesta obra, uma reflexão filosófica condizente com nossas demandas atuais.
Nota
1 PEREZ, Daniel; BOCCA, Francisco Verardi; BOCCHI, Josiane Cristina. Ontologie sans mirroirs, essai sur la réalité – Borges, Descartes, Locke, Berkeley, Kant, Freud. Tradução de Isabelle Alcaraz. Paris: L’Harmatan, 2019.
Vinícius Armiliato – Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado na mesma instituição, como bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: vinicius.arm@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2288-3820
Datos/pruebas e ideas. Por qué los científicos sociales deberían tomárselos más en serio y aprender de sus errores | Howard Becker
¿Qué tienen en común la explosión del Challenger en el cielo de Cabo Cañaveral con una encuesta que arroja datos imprecisos sobre el vínculo entre el aislamiento y las nuevas tecnologías de la comunicación? En Datos, pruebas e ideas Howard Becker propone una respuesta simple, pero no por ello exenta de justificaciones, a esta pregunta: naturalizar el error a la hora de llevar adelante una investigación. Dicho de otro modo: saber que hay problemas e inexactitudes, pero como “todos” lo hacen de esta forma y “siempre” se hizo así, eludirlos y seguir adelante. Incluso a costa de arriesgar vidas humanas o sacrificar la precisión de los datos recolectados y la credibilidad del conocimiento obtenido. Leia Mais
Tristes por diseño. Las redes sociales como ideologia | Geert Lovink
Con un estilo narrativo que nos interpela como usuarios de redes y plataformas, en Tristes por diseño…, Geert Lovinkrealiza un llamado a la consolidación de los estudios sobre Internet que quiten el dominio disciplinar a las escuelas de negocios y geeks reproductores de los esquemas de Silicon Valley. El libro consiste en una exploración de posibles alternativas de organización ante los modelos de redes actuales, a partir de un osado diagnóstico en el cual la realidad social es comprendida como una hibridación entre medios portátiles y la estructura psíquica de los usuarios. ¿Cómo liberarnos del nihilismo de las plataformas y hacer que lo social tome el mando dentro de las redes sociales?, ¿cómo escapar de la identidad de consumidor?, ¿cómo construir una identidad colectiva en las redes?, son algunas de las preguntas que traman este trabajo. Leia Mais
A tecelã: uma jornada iniciática rumo a individuação feminina
INTRODUÇÃO
Esta é uma resenha do livro: “A tecelã: uma jornada iniciática rumo a individuação feminina”, de Barbara Black Koltuv, que faz uma análise psicológica junguiana de casos clínicos da atualidade, comparando à dinâmica psicológica dos mitos da antiguidade, relatos bíblicos e sonhos, em mulheres. Para a autora, a obra demonstra um sentimento de mistério, força e alegria que as mulheres encontram em sua jornada rumo à individuação; segundo Koltuv, uma jornada que não tem fim e que está sempre sendo reiniciada em um trabalho paciente e contínuo, como o de uma tecelã.
Barbara Black Koltuv é doutora em Psicologia Clínica pela Universidade Columbia (EUA) desde 1962. Recebeu seu diploma em Psicanálise no Programa de Pós-doutorado da Universidade de Nova York (EUA) em 1969 e, em 1980, o de analista junguiana, pelo Instituto C. G. Jung de Nova York. Estudou hebraico bíblico por várias décadas e ministrou cursos na Fundação C. G. Jung sobre psicologia feminina, Lilith, relacionamentos, criatividade e espiritualidade. Em 2003, foi uma das fundadoras da Associação Psicanalítica Junguiana, onde continua atuando como supervisora e analista sênior. Em seu quase meio século de prática, a Dra. Barbara Koltuv aprendeu que a cura e a saúde física e mental são resultado de uma profunda conexão espiritual com o Ser interior. Ela também é autora de O Livro de Lilith, que faz parte da coleção Biblioteca Psicologia e Mito da Editora Cultrix. Leia Mais
Dons e Carismas na Bíblia | Luiz Alexandre Solano Rossi e Valmor da Silva
Os organizadores desta obra coletiva e os autores dos artigos são professores doutores e pesquisadores da Sagrada Escritura que atuam em Faculdades no Brasil e na América Latina. O livro procura demonstrar a diversidade de formas como os dons e carismas são apresentados na Bíblia e sua importância na vida das pessoas que o receberam e na história do povo hebreu e cristão. Para isso fazem um resgate histórico de como o tema é tratado ao longo da história bíblica para compreender os apelos e os ensinamentos para a realidade das comunidades cristãs. Busca também ajudar os leitores a descobrir seus dons e colocá-los a serviços do outro e de um mundo melhor.
É composto por sete capítulos que, com ênfase no Novo Testamento, traçam um retrato da presença de pessoas carismáticas na sagrada escritura. Aborda conceitos fundamentais, uma breve cronologia, e enfoca a presença destas experiências espirituais nas obras proféticas e no novo testamento, especialmente nos evangelhos e na tradição paulina. Leia Mais
Polegarzinha – Uma nova forma de viver em harmonia, de pensar as instituições, de ser e de saber | Michel Serres
A leitura da obra Polegarzinha – Uma nova forma de viver em harmonia, pensar as instituições, de ser e de saber, de autoria de Michel Serres, pensador francês, trouxe-nos como possibilidades o exercício de pensar o papel da tecnologia na construção de novas sociabilidades e na atualização de interrogações que constituem a condição humana. A principal problemática abordada pelo autor trata de como os adolescentes enviam as mensagens SMS com os polegares e habitam o mundo virtual. Associado a dinâmica das mídias digitais no processo de formação dos adolescentes e jovens, Serres (2015, p.12) abre o livro com uma interrogação filosófica: “Antes de ensinar o que quer que seja a alguém, é preciso, no mínimo, conhecer esse alguém. Nos dias de hoje, quem se candidata à escola, ao ensino básico, à universidade?”
Essa pergunta implica alguns questionamentos, quem é esse novo aluno, que cria outros mundos por meio do virtual? Que literatura e que história eles estão construindo na imediaticidade do tempo, que corre veloz, esquecendo das tradições dos antigos? Serres propõe três horizontes temáticos para pensar o fenômeno que ele mesmo denominou de Polegarzinha: I – Polegarzinha; II – Escola; III – Sociedade. Esses horizontes propõem um modo de pensar a Educação, como um fenômeno complexo que abarca as aulas, a sala de aula, o digital, os professores, a avaliação desses pelos alunos, etc. Assim, a Educação é pensada pelo prisma da Polegarzinha como um desafio, sim um desafio que não se pode resolver a penas sendo otimista como o autor Michel Serres. Leia Mais
Influxos do Céu: uma história das previsões (sécs. XIII – XV) | Simone Ferreira Gomes de Almeida
Influxos do Céu: uma história das previsões (sécs. XIII – XV), de Simone de Almeida, foi fruto de uma pesquisa de doutorado produzida no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), campus Franca – com direito a um período sanduíche na Universidade de Múrcia, na Espanha. Inicialmente com o nome de Influxos do céu na existência dos homens. Os escritos astrológicos na Península Ibérica (séculos XIII, XIV e XV), o trabalho destinou-se a analisar os escritos astrológicos produzidos na Península Ibérica do período. Na publicação, a autora preferiu alterar o título (ou seus editores) para que este funcionasse melhor no mercado editorial. Segundo consta em seu currículo Lattes, Simone de Almeida no momento não leciona em nenhuma universidade, sua última produção consta como um pós-doutorado na Biblioteca Nacional, onde se dedicou a tradução do El sumario de las maravillosas y espantables cosas que en el mundo han acontescido, de Álvaro Gutiérrez de Torres (obra datada do século XVI), findo em 2017. A autora também é membra do grupo de pesquisa Escritos sobre os novos mundos, com sede no campus Franca da Unesp; também é de sua autoria o livro A figura do herói antigo nas crônicas medievais da península Ibérica (séculos XII e XIV), 2 fruto da sua tese de mestrado. Leia Mais
Identidade | Brasílio Sallum Junior, Lilia Moritz Schwarcz, Diana Vida e Afrânio Catani
Constructos sociais estabelecidos no âmbito das relações humanas, as identidades se constituem como elementos que proporcionam diversas percepções a respeito das diferentes maneiras de estar no mundo, viabilizando determinadas formas de reconhecimento e luta. Para além, tomada como pauta por diversos setores no tempo presente, a identidade se manifesta como tema fundamental no debate acadêmico – protagonizando, por vezes, uma miríade de investigações que se materializam por meio dos diversos trabalhos que endossam sua atualidade.
É nesse sentido, portanto, que o livro Identidades se corporifica. Concebida como resultado imediato de um seminário internacional homônimo – sediado, em 2012, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e parte integrante de um projeto amplo titulado como Conferências USP –, a obra dispõe como organizadores os docentes Brasilio Sallum Jr. (FEUSP); Lilia Moritz Schwarcz (FFLCH-USP); Diana Vidal (FEUSP) e Afrânio Catani (FEUSP) e toma como objetivo apresentar as discussões promovidas nas mobilizações do conceito em questão – desvelando, de maneira minuciosa, uma revisão de seus múltiplos significados e usos. Leia Mais
Not all dead white men: classics and misogyny in the digital age | Donna Zuckerberg
A presença de referências ao mundo clássico em discussões realizadas nas redes sociais vem despertando a atenção de diversos estudiosos. Ainda que a tradição clássica tenha sido amplamente utilizada para justificar e legitimar posições ideológicas e regimes políticos ao longo da história, e, embora o estudo destas apropriações seja recorrente, a amplitude do universo on-line e a forma como esses discursos são criados e apropriados em plataformas virtuais trazem novas nuances para a situação, ou como é apontado por Donna Zuckerberg, as redes sociais amplificaram estes movimentos. A estudiosa, doutora em estudos clássicos pela Universidade de Princeton, é também fundadora e editora do site Eidolon, dedicado a apresentar os estudos clássicos para além dos meios acadêmicos tradicionais, considerando os aspectos políticos envolvidos e a partir de uma perspectiva feminista2.
Assim, em Not all dead white man, Zuckerberg se propõe a apresentar uma análise detalhada sobre como comunidades presentes na internet vêm se apropriando de símbolos, referências e personagens do mundo greco-romano com a finalidade de justificar posturas misóginas na contemporaneidade. Nesse sentido, dedicou-se ao mapeamento dos diferentes grupos que compartilham essas opiniões e apresenta um quadro minucioso dos mesmos, suas especificidades e diferenças, bem como de que forma eles se relacionam entre si. Leia Mais
A História (quase) secreta: sexualidade infanto-juvenil e crimes sexuais na cidade de Salvador (1940- 1970) | Andréa da Rocha Rodrigues Barbosa
Em que pese o recente crescimento de uma perseguição desenfreada aos estudos sobre mulheres, relações de gênero, sexualidade, etc., é com muito entusiasmo que nós historiadoras/res recebemos o livro A História (quase) secreta, fruto originalmente de uma tese de doutoramento junto ao programa em História Social da Universidade Federal da Bahia e que foi defendida há mais de uma década, em 2007. O livro que ora resenhamos foi apresentado pelo historiador Renato Venâncio (UFMG), especialista em história da infância. Além disso, teve o prefácio assinado pela antropóloga feminista Cecília Sardenberg (UFBA), uma das fundadoras do Neim – Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a mulher e gênero, da Bahia.
Atualmente, Andréa Barbosa é professora titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, dedicando-se, desde o início de sua carreira, aos estudos históricos sobre a infância pobre, mulheres, relações de gênero, corpo e sexualidade infanto-juvenil. É autora do já clássico A Infância Esquecida, Salvador, 1900-1940, 2 assim como, mais recentemente, organizou uma coletânea intitulada Revisitando Clio: estudos sobre mulheres e as relações de gênero na Bahia3 que, além de seu próprio trabalho, reuniu pesquisas feitas por outras historiadoras da área. Além disso, é coordenadora de um grupo de pesquisa e extensão, criado recentemente juntamente a um grupo de jovens historiadores, intitulado Nina Simone, com o objetivo de propiciar debates e pesquisas históricas e áreas afins sobre as relações de gênero, sexualidade etc. Leia Mais
Necropolítica
Achille Mbembe, ou Joseph-Achille Mbembe, é um pensador, professor e filósofo contemporâneo nascido no ano de 1957 em Centre, Camarões, que tem trazido grandes contribuições para o estudo do pós-colonialismo e, ao longo da produção aqui apresentada, tem a habilidade de relacionar diferentes realidades em uma mesma linha de raciocínio, com interpretações significativas e coerentes.
Necropolítica, em sua proposta inicial, foi publicado no Brasil pela primeira vez no ano de 2016, em forma de artigo, na revista Arte & Ensaio, vinculada ao Programa de PósGraduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quanto ao livro, teve publicação em 2018 e, ao longo de poucas páginas, dividese em cinco tópicos que contam com discussões muito precisas, capazes de fazer conexões entre a contemporaneidade e as heranças históricas construídas a partir de práticas de dominação do Estado – que, através de discursos racistas e excludentes, fez emergir as mais variadas formas de violência e genocídio. Leia Mais
La biblia del proletariado: traductores y edictores de El capital en el mundo hispanohablante | Horacio Tarcus
“O Capital” segue sendo uma das grandes obras da Modernidade, porém, tão referenciada quanto pouco lida e pouco estudada. A magnitude e a complexidade de seu conteúdo certamente contribuem para isso: trata-se de vários tomos, alcançando, a depender da edição, até 700 páginas. O que faz da obra um clássico é o fato de, apesar de mais de 150 anos da sua primeira “aparição” e das evidentes mudanças que nos separam do século XIX, expressa um pensamento incontornável, do qual partem os que insistem em decifrar o mundo contemporâneo. Partindo da hipótese de que as diferentes expressões do capitalismo requeriam uma análise profunda, rigorosa e científica – como pretendeu seu autor–, Marx buscou, com esse empreendimento intelectual de notório fôlego, explicar as leis e dinâmicas próprias do âmago do capitalismo. Longe de ser uma obra acadêmica, o trabalho destinava-se a contribuir com o movimento socialista do qual Marx era um militante, a partir da ideia de que não seria possível vencer o verdadeiro inimigo dos trabalhadores (e da humanidade) sem que estes conhecessem profundamente os mecanismos essenciais de seu funcionamento. Como esse trabalho chegou às mãos de seus leitores e leitoras, como foi interpretado, quem o publicou, quais os formatos das primeiras edições, como circulou entre os meios socialistas e entre operários e operárias? As edições acessíveis, hoje, no mercado editorial, correspondem aos originais escritos a punho por Marx? Qual a contribuição de Engels nesse processo? Como e quando foram vertidos os diferentes livros para as línguas dos países da periferia do capitalismo? Leia Mais
A impostura científica em dez lições | Michel de Pracontal
Tempos atrás, quando eu ainda era ouvido pela Editora Unesp, recomendei que se traduzisse e publicasse um livro instrutivo. Trata-se do volume escrito por Michel de Pracontal: A impostura científica em dez lições. A editora o publicou.
Muitos casos por ele recolhidos de charlatanismo continuam a ser praticados de modo impune. Um deles é saboroso: no debate sobre tema delicado de saúde pública a TV francesa reuniu vários cientistas e uma vidente ou algo assim. Terminado o programa, quem venceu no parecer dos telespectadores? A vidente, claro. Situações iguais são vividas tragicamente agora. Entre os médicos infectologistas e Olavo de Carvalho, quem é preferido pelo “governo”? O sabichão, claro. Leia Mais
Baku. Oil and urbanism | Eve Blau e Ivan Rupnik
Entre as grandes metrópoles energéticas contemporâneas marcadas por próspera economia e urbanização global, destaca-se a cidade de Baku, capital do Azerbaijão, nas margens do Mar Cáspio, eixo estratégico entre a Europa e a Ásia, cujo cenário arquitetural combina o antigo e o novo, ao contrário de Dubai a que é comparada. O país é rico em história, já fez parte do império persa, sofreu várias invasões (dos mongóis, entre elas), foi incorporado ao império russo em 1813, passando depois a pertencer à União Soviética, até declarar sua independência em 1991, quando essa dominação foi extinta. Baku conserva construções do século 7, muralhas da cidade fortificada do 12, mesquitas, palácios e minaretes que pontuam o centro antigo. Leia Mais
Metrópole à beira-mar. O Rio moderno dos anos 20 | Ruy Castro
Terminei de ler Metrópole à beira-mar – o Rio moderno dos anos 20, de Ruy Castro, publicado pela editora Cia. das Letras em 2019.
Posso estar enganado, mas a impressão que o livro traz é a de que Castro se adiantou a provar que o Rio de Janeiro já era moderno antes de São Paulo e da Semana de Arte Moderna de 1922, antecipando-se, assim, às homenagens pelos 100 anos da dita Semana (para os distraídos, ocorrida em São Paulo em 1922). Leia Mais
Virginia Artigas. Histórias de arte e política | Rosa Artigas
Mais do que pode ser, a vida é maravilhosa! Tenho nas mãos agora um livro encantador escrito por Rosa Artigas sobre sua mãe: Virgínia Artigas, histórias de arte e política.
Armênio, nosso camarada sereno e cordial, instalou a amizade entre nós. O livro no qual celebramos sua memória – Nosso Armênio (1) – será lançado em São Paulo no dia 17 de março de 2020 (2). Trinta e um amigos, inclusive nós, derramam emoções e afeto no quanto escreveram a respeito do “Tio”, como o chamávamos. Mas o que agora me fascina, de verdade, é o livro da Rosa. Leia Mais
Vacina antivariólica: ciência/ técnica e o poder dos homens (1808-1920) | Tania Maria Fernandes
O livro de Tânia Fernandes, recentemente lançado pela Editora Fiocruz, é produto de sua dissertação de mestrado defendida na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Aqueles que apenas passarem os olhos pelo título do livro e o tema tratado com certeza se lembrarão do também recente trabalho de Sidney Chalhoub, que aborda a questão da vacina antivariólica (Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial, São Paulo, Companhia das Letras, 1996). Entretanto, as semelhanças entre os dois livros terminam aí. As diferentes abordagens escolhidas pelos autores e a originalidade da trajetória e do enfoque de Tânia Fernandes tornam-se evidentes à medida que nos debruçamos sobre o livro da pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz. Enquanto o trabalho de Chalhoub está mais voltado para uma história cultural e procura resgatar as resistências da cultura popular carioca à prática da vacina, Fernandes volta sua atenção para a história da ciência, privilegiando a história da vacina propriamente dita, incluindo-se neste aspecto não apenas a história dos institutos encarregados de produzi-la e aplicá-la, mas também o conhecimento técnico e científico envolvido na sua produção.
Registre-se que, ao estudar as práticas científicas e as técnicas envolvidas na produção da vacina, Fernandes preocupa-se em mostrar como as concepções científicas não podem ser dissociadas das práticas políticas e dos interesses profissionais da comunidade médica, fugindo de qualquer compromisso com uma história ‘heróica’ da ciência. Esta perspectiva fica bastante evidente no capítulo três, onde analisa os conflitos políticos entre o barão de Pedro Affonso e Oswaldo Cruz em torno da concepção de a quem caberia o monopólio de produzir e aplicar a vacina: ao Estado ou à iniciativa privada. O barão de Pedro Affonso, primeiro médico a produzir com sucesso a vacina antivariólica animal e diretor do Instituto Vacínico Municipal do Rio de Janeiro entre 1894 e 1920, defendia seu monopólio privado conquistado ainda no final do Império, quando conseguiu reproduzir a vacina animal no país. Oswaldo Cruz, diretor do então Instituto Soroterápico e representante de uma tendência centralizadora e estatista, defendia a incorporação do Instituto Vacínico ao Instituto Soroterápico e o fim do monopólio privado de Pedro Affonso. Leia Mais
Interwoven. Andean Lives in Colonial Ecuador’s Textile Economy | Rachel Corr
En el siglo XVI, la conquista española de los territorios americanos propició su inserción a la dinámica de los mercados internacionales y, como parte de este proceso de globalización, las economías y sociedades regionales y locales experimentaron cambios significativos. Estos se reflejan en la implementación de un nuevo marco institucional colonial que permite reasignaciones en el uso y acceso a la tierra, recursos naturales y mano de obra local, así como la hegemonía de nuevos sectores económicos que redefinen la vida cotidiana de las familias y grupos en el poder, tanto nativos como españoles, y de la población esclava africana.
La organización social y económica de los Andes, durante el imperio incaico y el período previo a la conquista española, tuvo como eje central el trabajo. Pease (2011) concluye, a partir del análisis de los escritos de los primeros cronistas españoles y mestizos, que existía una estrecha relación entre parentesco, reciprocidad y riqueza. Al respecto y en base a una transcripción del Inca Garcilaso de la Vega, define a una persona rica como aquella que tiene hijos y familia que lo ayudan a que termine de forma rápida el trabajo relacionado con el tributo que está obligado a realizar. La importancia de las relaciones de parentesco en la sociedad Andina sobrevive al trauma de la conquista y la familia sigue siendo una institución fundamental para la población indígena en el nuevo escenario creado a partir del siglo XVI. Es en este contexto, que el libro de Rachel Corr analiza, desde un enfoque antropológico e histórico, las decisiones familiares de los pueblos indígenas que se enfrentaban a la obligación de trabajar en el obraje, así como los arreglos familiares que se pusieron en práctica con el objetivo de cumplir la cuota de producción asignada. La autora analiza también los mecanismos que implementaron la población indígena migrante y forastera para evitar el trabajo forzado en el obraje textil. Leia Mais
Il regno e il giardino – AGAMBEN (V)
AGAMBEN, Giorgio. Il regno e il giardino. Vicenza: Neri Pozza, 2019. Resenha de: GOMES, Ana Suelen Tossige; MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Entre dois paraísos: a nova arqueologia filosófica de Giorgio Agamben. Veritas, Porto Alegre, v. 65, n. 1, p. 1-6, jan.-mar. 2020.
O mais novo livro de Giorgio Agamben – Il regno e il giardino – publicado recentemente pela Neri Pozza, vem incrementar as incursões do filósofo italiano na teologia cristã, demonstrando uma vez mais como o poder ocidental pode ser lido, arqueologicamente, a partir de paradigmas teológico-políticos. A obra é dividida em seis capítulos que se comunicam pelas analogias operadas em torno do tema central investigado, o qual é lido desde a literatura teológica tardo-antiga e medieval (e alguns de seus críticos heréticos), até a Divina Comédia de Dante, passando por lampejos de história da arte e de filosofia política.
Combinando a figura edênica do jardim – do paraíso terrestre – com aquela do reino – tema central do tão conhecido Il regno e la gloria (2007) –, Agamben reconstrói um paradigma que, ainda que já estivesse presente na reflexão teológica, “foi relegado às margens pela tradição ocidental”, qual seja, o paradigma do jardim do Éden (AGAMBEN, 2019, p. 10).
Agamben inicia seu percurso a partir da interpretação de Wilhelm Fraenger acerca do sentido contido no tríptico de Jheronimus Bosch – O jardim das delícias –, pintura que está na capa da primeira edição do livro (em detalhe). A interpretação dada pelo estudioso alemão considera que Bosch teria elaborado tal obra de arte no contexto da heresia do Livre Espírito, a qual professava que “a perfeição espiritual coincidia com o advento do Reino e com a restauração da inocência edênica da qual o homem gozara no paraíso terrestre”. Fraenger chama a pintura central do tríptico de O reino milenar em vez de O jardim das delícias, pois associa o reino à morada de Adão no paraíso terrestre, entrelaçando, dessa maneira, reino e jardim (AGAMBEN, 2019, p. 9-10).
O termo paraíso teria aparecido pela primeira vez em Xenofonte que, por meio de um neologismo grego-iraniano, toma do avéstico a palavra pairideza, que significa “amplo jardim fechado”, murado. Assim, a palavra “paraíso” teria origem propriamente na ideia de jardim, e daí a razão pela qual as traduções bíblicas, desde a Septuaginta, optarem por paradeisos. O Éden é traduzido também não apenas como o nome do lugar, mas como tryphe, isto é, delícia. E talvez esteja aí, nos aponta Agamben, o motivo pelo qual o grande doutor da Igreja, São Jerônimo, tenha traduzido Éden por voluptas.
Há certo processo, contudo, que opera uma transformação radical na interpretação do paraíso: de lugar da delícia e da justiça originária ele passa a ser visto como o lugar da queda, do pecado e da corrupção. E essa interpretação será decisiva para o paradigma do jardim e para a noção a ele atrelada, tão importante para a cultura ocidental, que é a de natureza humana. No Gênesis a questão primordial passa a ser não o jardim, mas a expulsão do homem dele. Tendo sido expelido de sua morada específica – o jardim –, o homem perde o seu lugar originário, o seu habitat. Por isso ele é o ser vivente que “se encontra pela Terra duplamente peregrino: não somente porque sua vida eterna será no paraíso celeste, mas também e sobretudo porque ele foi exilado da sua pátria edênica” (AGAMBEN, 2019, p. 17-19).
O paraíso outrora uno e benigno, aparece então dividido em paraíso terrestre (perdido para sempre) e paraíso celeste (distante e futuro). E esse “traumatismo originário” traz sequelas profundas para a cultura cristã e moderna, à qual importa menos o paraíso em si do que a perda do paraíso por parte do homem. Daí o porquê de a expulsão do paraíso assumir o lugar de mitologema central na gênese cristã, tornando-se o “evento determinante da condição humana e o fundamento da economia da salvação” (AGAMBEN, 2019, p. 17-19).
Tal deslocamento semântico no paradigma do jardim não teria sido possível sem a presença de certos dispositivos teológicos. Dentre eles, Agamben (2019, p. 21) elenca como sendo “o mais implacável” de todos aquele do pecado original, pois é ele que condena a natureza humana a uma corrupção impossível de ser expurgada. Com a doutrina do pecado original, levada a cabo especialmente por Agostinho, o ser humano passa a ser visto como uma existência desde sempre já culpada, pois até mesmo o mais inocente dos infantes carrega consigo a mácula do pecado original, transmitido geneticamente pelo seu primeiro ancestral, Adão. Na visão de Agostinho, apenas por meio da graça o homem pode alcançar a salvação. E com isso o filósofo da Igreja acaba opondo natureza e graça: o homem será sempre pecador, mas por meio da graça transmitida pelos sacramentos ele pode se salvar. O catolicismo torna-se, desse modo, condição essencial para sua (futura) vida eterna no paraíso.
Será um herético como Pelágio que colocará em questão esse dualismo. Segundo sua teologia, a graça seria exatamente a possibilidade de não pecar, um dom que o ser humano teria recebido de Deus e que decorreria do livre arbítrio. Seria, portanto, algo inerente à natureza humana, e essa, por sua vez, derivando daquele que a criou, não poderia ser privada de graça, pois seria algo “‘que pertence propriamente a Deus’” (AGAMBEN, 2019, p. 32-33). Enquanto para Pelágio a alma humana conserva a possibilidade de não pecar, permanecendo dessa maneira em relação com a justiça originária que possuíra no paraíso terrestre, para Agostinho se trata de extirpar qualquer ligação com a justiça edênica. Pois, se o próprio Agostinho dizia em De Genesi ad litteram que os fatos descritos em Gênesis deveriam ser interpretados em sentido próprio, literal, e não em sentido alegórico, admitir a possibilidade de não pecar no homem implicaria aceitar que o jardim – um lugar físico real na Terra – poderia ser a qualquer momento reatualizado. Contudo, o paraíso terrestre deve permanecer, segundo Agostinho, para sempre vazio, a fim de que se mantenha exclusivamente a promessa de um paraíso celeste, destinado aos eleitos (AGAMBEN, 2019, p. 42-46).
Embora a doutrina agostiniana do pecado original tenha se imposto de modo dominante no pensamento medieval, este também contou com a presença de vozes dissonantes que não entendiam a natureza humana como maculada pelo pecado. Exemplos disso são Escoto Erígena e o grande filósofo-poeta Dante Alighieri. O primeiro, negava qualquer divisão entre natureza (vida) e alma, fisiologia e psicologia, compreendendo a alma como una e indivisível. E, ainda, entendia o paraíso não como um lugar real, mas como a própria natureza humana (AGAMBEN, 2019, p. 60). Dante, por sua vez, teria descrito a divina floresta como uma alegoria do paraíso terrestre, no qual o exercício da virtude – a felicidade – coincide com o “uso da coisa amada”, isto é, coincide com um ato de amor. Por isso o paraíso terrestre para Dante – figura da beatitude terrena e da felicidade – é também o lugar da justiça original da natureza humana (AGAMBEN, 2019, p. 70-72).
Como aduz Agamben, o tema do paraíso terrestre em Dante é na verdade uma profecia acerca da liberdade do homem, discussão presente em toda a obra dantesca: “a ‘divina floresta espessa e viva’ é, desse modo, para Dante, uma profecia que concerne à possível salvação do homem per arbitrii libertatem, até alcançar aqui e agora aquela beatitude, que consiste ‘no uso da coisa maximamente amada’” (AGAMBEN, 2019, p. 85). Assim, a doutrina do paraíso terrestre como figura dessa beatitude contradiz a tese escolástica, reafirmada por Tomás de Aquino, de que não é possível para o homem nesta vida a felicidade.
Em questão nas discussões sobre o paraíso terrestre sempre esteve o problema da natureza humana. Há uma vez mais aqui, como nos diz Agamben, uma cisão, uma bipartição, que divide natureza humana e graça, de modo semelhante a outras passagens de sua obra, presentes sobretudo na série Homo sacer, nas quais o filósofo italiano revela, arqueologicamente, a função de díades, tais quais: reino e governo, zoé e bíos, nómos e anomia etc. Ambos os termos – natureza humana e graça – pressuporiam e remeteriam um ao outro, mas a natureza humana, como um resto, existiria apenas enquanto algo separado da graça. Daí a afirmação dos teólogos de que a graça seria como uma veste e, por isso, “Adão e Eva antes do pecado não se davam conta da sua nudez, não por inocência, mas porque ela era recoberta de uma veste de graça” (AGAMBEN, 2019, p. 92). Nesse processo, o dispositivo que manteria unidos natureza e graça seria o pecado, pois a natureza definir-se-ia apenas como o que resta depois do homem ter sido despido da graça. Na mesma perspectiva, sendo algo não natural, a graça afirmar-se-ia somente no seu não mais existir, por obra do pecado. Por isso Agamben afirma que “o verdadeiro sentido da doutrina do pecado original é aquele de dividir a natureza humana e de impedir que nela natureza e graça possam coincidir nesta vida. Como é evidente no título do tratado antipelagiano de Agostinho, ‘natureza’ e ‘graça’ não são outra coisa senão dois fragmentos que resultam da cisão operada pela transgressão adamítica” (AGAMBEN, 2019, p. 96). O dispositivo teológico separa o âmbito da vida do homem dos atos que ele pode realizar naturalmente. “E o faz não retirando, mas adicionando algo: a graça, de modo que, uma vez que ela tenha sido subtraída por meio do pecado, a vida e as ações humanas se transformam em pura naturalia, marcadas por lacunas e defectividade”. Ou seja, a aporia consiste na invenção da graça (como algo divino, não intrínseco à natureza humana) e na sua contemporânea exclusão pela existência do pecado. Desse modo, conforme o modus operandi da exceção, a graça é incluída e imediatamente excluída, o que faz com que a própria natureza do homem se torne, então, insuficiente (AGAMBEN, 2019, p. 100).
Nesse sentido, se voltarmos nosso olhar para os pensamentos de Erígena e Dante, veremos que eles contestam radicalmente tal doutrina. Para Erígena, Deus criou o homem no gênero animal porque quis criar nele toda a natureza: ele é em todos os animais e todos estes são no homem (AGAMBEN, 2019, p. 101). De modo semelhante, mas em tons políticos, o que é punido na Divina Comédia de Dante não é a natureza, mas as ações humanas. A natureza, segundo Dante, é – em Cristo – inocente e livre e, portanto, permanece incorruptível. Por isso, em sua visão, contrastante com a teologia escolástica e com Tomás de Aquino,2
2 Como afirma Agamben (2019, p. 101-102), tendo em vista essa posição de Dante, torna-se contraditório interpretar sua obra por meio de Tomás de Aquino e da teologia escolástica, como é feito pela tradição, pois “o paraíso terrestre de Dante é a negação do paraíso dos teólogos”.o homem pode sempre reentrar no jardim, e ali encontrar Matelda, a figura do amor, da beatitude, da felicidade e da justiça original, que podem se realizar no paraíso terrestre. No sexto e último capítulo do livro o tema que retorna à discussão agambeniana é aquele do reino. Já estudado em seu Homo sacer II,2 – Il regno e la gloria – sob a chave da economia teológico-política trinitária, o tema do reino é agora tratado em sua relação com as teorizações sobre o paraíso.
O teólogo espanhol Suárez fez indagações sobre como seria a condição humana na hipótese de Adão não ter pecado, questionando, por exemplo, como se daria a reprodução humana no estado de inocência e como os homens governar-se-iam – a si mesmos e ao mundo ao seu redor – nessa condição. Interessa particularmente a Agamben o segundo ponto, o qual foi trabalhado por Suárez com fortes influências aristotélicas. Se a comunidade doméstica, dizia o teólogo, deve existir naturalmente em estado de inocência, como pensar a existência de uma sociedade política em um lugar em que não há inimigos e a família basta a si mesma para suprir suas necessidades? Em consonância com a Política de Aristóteles, contudo, Suárez afirma que em algum momento deveria surgir uma sociedade política, porque “a união dos homens em um Estado não acontece somente por acidente ou pela corrupção da natureza, mas convém aos homens em qualquer condição e concerne à sua perfeição” (AGAMBEN, 2019, p. 104).3
.Tal união traz a necessidade de se justificar certo tipo de governo, baseado em uma situação de domínio do homem sobre o homem. Todavia, na condição paradisíaca tal não implicaria o domínio proprietário tampouco a escravidão, mas apenas o domínio de jurisdição. Do mesmo modo que o homem dos tempos medievais tinha o poder de governo sobre sua esposa, seria necessário um governante – tal qual um príncipe – para guiar os súditos. Esse poder de governo não derivaria do pecado; ele seria intrínseco à natureza da comunidade, e estaria presente, portanto, seja no estado de inocência, seja no estado de corrupção. Sujeitar-se a esse governo não faria com que os súditos fossem privados do livre arbítrio, mas consistiria, na verdade, em “uma condição perfeita de vida” (AGAMBEN, 2019, p. 104-105).
A questão que Agamben coloca aqui é saber se o paraíso terrestre constitui um paradigma político para os teólogos da cristandade, especialmente, neste caso, para o referido Suárez. A resposta do filósofo italiano a tal pergunta é negativa. No entanto, ele ressalva que “uma antiga tradição, que os teólogos não podiam ignorar, tinha colocado em relação o paraíso terrestre com o conteúdo fundamental do anúncio evangélico: a basileia tou theou, o Reino de Deus” (AGAMBEN, 2019, p. 106). Nesse sentido, em duas das três passagens em que o termo “paraíso” aparece no Novo Testamento, ele é relacionado ao reino. Como aponta Agamben (2019, p. 107-108): “quando (em Lucas, 23, 42) o malfeitor crucificado ao seu lado lhe disse: ‘Recorda-te de mim quando ireis ao teu Reino (eis basileian sou)’, Jesus responde: ‘Hoje estarás comigo no paraíso (en toi paradeisoi)’”, reino e paraíso aparecem quase como sinônimos. E, ainda, “em Apocalipse, 2, 7, o Espírito anuncia que ‘ao vitorioso’ – isto é, àquele que tendo superado a prova escatológica, pode entrar no Reino eterno – ‘farei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus’”, novamente o paraíso vem ao lado do reino. Entretanto, podemos acrescentar à discussão agambeniana o fato de que tais passagens tratam do reino como sinônimo de paraíso, mas não remetem ao paraíso terrestre. Falam, na verdade, de um paraíso extramundano. Nesse sentido, quando, por meio da voz de outro evangelista, Jesus Cristo diz que “meu reino não é deste mundo” (João, 18, 36), a interpretação do reino como sinônimo de paraíso não se afasta da exegese dos teólogos escolásticos, reafirmando a ideia de que há um paraíso celeste que não coincide com o jardim edênico.
Depois de tal aproximação, Agamben dirá que não é de se espantar o fato de que “no silêncio dos teólogos sobre o assunto, movimentos religiosos chamados de heréticos (desde o Livre Espírito que teria inspirado o tríptico de Bosch) tenham identificado o paraíso terrestre com o Reino”. E afirma ainda que entre os primeiros padres da Igreja, “a relação apresentada entre Jardim e Reino é semelhante à tradição apocalíptica hebraica (de um reino terreno que precede o fim dos tempos)” (AGAMBEN, 2019, p. 108). A explicação de Ireneu, por exemplo, afastaria a contradição de que o paraíso celeste – o reino eterno de que trata o Novo Testamento – seria diverso daquele terrestre, pois segundo a sua teologia do reino “a beatitude temporal sobre a Terra deve preceder à beatitude eterna”. Nesse sentido, o reino seria “necessário porque os homens devem reencontrar na sua própria condição terrena aquela felicidade da qual foram nela mesma privados” (AGAMBEN, 2019, p. 110-111). No entanto, nos diz Agamben, a teologia do reino de Ireneu e dos primeiros padres teria sido eliminada progressivamente com o reforçar-se da institucionalidade da Igreja. Ocorre, então, “uma negação do reino terreno”,que coincide com “a exclusão da restauração da condição paradisíaca” (AGAMBEN, 2019, p. 113).
Assim também, neutralizando a ideia de um reino milenar que, próximo ao reino messiânico hebraico, desconhece uma separação entre o porvir e o tempo de agora, grandes padres da Igreja como Agostinho acabam por inaugurar um único tempo histórico, o qual torna possível a existência da historiografia cristã (AGAMBEN, 2019, p. 115-116). Com isso, impedem qualquer aproximação com a tradição messiânica, para a qual o reino que está por ser instaurado é já presente no aqui e no agora. Agamben não deixa de notar, nesse sentido, que o mesmo Evangelho que anuncia a presença imediata do reino sobre a Terra, o relega a um tempo por vir. O reino aparece como a atualidade dos atos de Cristo neste mundo, ao mesmo tempo em que é apresentado como escathon, ou seja, o tempo último (AGAMBEN, 2019, p. 117).
Perpassando outras analogias, a conclusão a que chega o filósofo ao final do livro é que paraíso terrestre e reino são duas realidades que se originam da tentativa dos teólogos em pensar a natureza humana e a sua possível beatitude. Ambos – paraíso e reino – cindem-se em um elemento pré-histórico, que seria o Jardim do Éden, e um elemento pós-histórico, o Reino, os quais, permanecendo separados e incomunicáveis, são inacessíveis ao homem. O jardim, enviado a um arqui-passado, é desde sempre inatingível, ao passo que o Reino projetado para o futuro coincide com o reino dos céus. Mas, como nos diz Agamben (2019, p. 120), Contra essa separação forçada dos dois polos, é necessário recordar, com os quiliastas e com Dante, que o Jardim e o Reino resultam da cisão de uma única experiência do presente, e que no presente eles podem, portanto, se reunir. A felicidade dos homens sobre a Terra é tensionada entre esses dois extremos polares. E a natureza humana não é uma realidade preexistente e imperfeita, que deve ser inscrita por meio da graça em uma economia da salvação, mas é o que aparece toda vez aqui e agora na coincidência – isto é, no cair juntos – de Paraíso e Reino. Só o Reino dá acesso ao Jardim, mas só o Jardim torna pensável o Reino. Ou seja: acessa-se a natureza humana só historicamente através de uma política, mas esta, por sua vez, não tem outro conteúdo que o paraíso – que, nas palavras de Dante, é “a beatitude desta vida”.
Esse conteúdo nada mais é do que a felicidade. Assim, a questão que se abre ao final do livro é sobre esse meio (ou, melhor dizendo, esse meio-sem-fim) da política, cujo conteúdo não se diferencia da “beatitude desta vida”, isto é, da felicidade. Reconectam-se, dessa maneira, temas caros ao autor, a exemplo da política como forma-de-vida, vislumbrada sob as figuras do reino e do jardim. O esquecimento do jardim – enquanto paraíso terreno – e a preponderância do reino demonstram, assim, o modo paradigmático com que o Ocidente tem pensado a política: uma política teleológica direcionada a uma prometida “paz perpétua” vindoura, mas que só pode chegar com a morte, com a negação da vida. Pensar diversamente, reinterpretando os Evangelhos e refletindo já talvez em termos de uma teologia política radical,5 significa abrir-se à possibilidade sempre latente de que o paraíso, que nada mais é que um “cair juntos” de jardim e reino, está desde sempre aqui. Basta que, em tons benjaminianos, modificando-se esta ou aquela coisa, ele seja habitado, e as delícias do corpo-alma possam definitivamente se fundir
Referências
AGAMBEN, Giorgio. Il regno e il giardino. Vicenza: Neri Pozza, 2019.
AGAMBEN, Giorgio. Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo. Milano: Neri Pozza, 2007.
ARISTÓTELES. “Política” [Capítulo I, Livros I e II]. Trad. José Oscar de Almeida Marques. Departamento de Filosofia, IFCH-Unicamp [Online]. Disponível em: www.unicamp.br/~jmarques/cursos/1998-hg-022/politica.doc. Acesso em: 28/06/2017 BÍBLIA. Vol. I. Novo testamento: os quatro evangelhos. Trad. do grego, apresentação e notas Frederico Lourenço. Lisboa: Quetzal, 2016.
BÍBLIA. Vol. II. Novo testamento: apóstolos, epístolas, apocalipse. Trad. do grego, apresentação e notas Frederico Lourenço. Lisboa: Quetzal, 2017.
GOMES, Ana Suelen Tossige; MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Da unidade/diferença à modalidade: a arqueologia da ontologia no pensamento de Giorgio Agamben. Kriterion, Belo Horizonte, v. 59, n. 141, pp. 651-670, set/dez 2018. https://doi.org/10.1590/0100-512x2018n14101astg MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Representação política contra democracia radical: uma arqueologia (a)teológica do poder separado. Belo Horizonte: Fino Traço, 2019.
Notas
2 Como afirma Agamben (2019, p. 101-102), tendo em vista essa posição de Dante, torna-se contraditório interpretar sua obra por meio de Tomás de Aquino e da teologia escolástica, como é feito pela tradição, pois “o paraíso terrestre de Dante é a negação do paraíso dos teólogos”.
3 Afirmação em consonância com a máxima aristotélica segundo a qual a melhor realidade possível para uma comunidade, a comunidade política – a cidade – é o télos para o qual ela se direciona. Cite-se: “Portanto, se as primeiras comunidades são um fato da natureza, também o é a cidade, porque ela é o fim daquelas comunidades, e a natureza de uma coisa é o seu fim: aquilo que cada coisa se torna quanto atinge seu completo desenvolvimento, nós chamamos de natureza daquela coisa, quer se trate de um homem, de um cavalo ou de uma família. [1253a] Além disso, a causa final e o fim (télos) de uma coisa é o que é o melhor para ela; ora, bastar-se a si mesma é, ao mesmo tempo, um fim e um bem por excelência. Essas considerações tornam evidente que a cidade é uma realidade natural e que o homem é, por natureza, um animal político (politikón zôon)” (ARISTÓTELES. “Política” [Capítulo I, Livros I e II]. Trad. José Oscar de Almeida Marques. Departamento de Filosofia, IFCH-Unicamp [Online]. Disponível em: www.unicamp.br/~jmarques/cursos/1998-hg-022/politica.doc. Acesso em: 28 jun. 2017)
4 Tal como se vê da obra de Tertuliano, De ressurrectione (AGAMBEN, 2019, p. 112-113).
Ana Suelen Tossige Gomes – Mestra e doutoranda em Direito e Justiça pela Faculdade de Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais, com período de Doutorado-Sanduíche na Scuola Normale Superiore di Pisa (2018/2019) com bolsa da CAPES. Bolsista CAPES. Autora do livro O direito no estado de exceção efetivo (Belo Horizonte, D’Plácido, 2017).
Andityas Soares de Moura Costa Matos – Doutor em Direito e Justiça pela Faculdade de Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil) e Pós-Doutor em Filosofia do Direito pela Universitat de Barcelona (Catalunya), com bolsa da CAPES. Doutor em Filosofia pela Universidade de Coimbra. Professor Associado de Filosofia do Direito e disciplinas afins na Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG. Professor Visitante na Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona entre 2015 e 2016. Professor Residente no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares – IEAT/UFMG entre 2017 e 2018. Mais artigos em: https://ufmg.academia.edu/AndityasSoares. Endereço para correspondência: Ana Suelen Tossige Gomes/Andityas Soares de Moura Costa Matos Universidade Federal de Minas Gerais – Faculdade de Direito Av. João Pinheiro, 100; Centro, 30130-180 Belo Horizonte, MG, Brasil
História das Ideias do Ensino da Dança – VIEIRA (Urdimento)
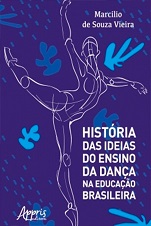 VIEIRA, Marcilio de Souza. História das Ideias do Ensino da Dança na Educação Brasileira. Editora Appris, 2019. 183p. Resenha de: NASCIMENTO, Diego Ebling do; RICHTER, Sandra Regina Simonis. Urdimento, Florianópolis, v.1, n.37, p. 456-462, mar/abr 2020.
VIEIRA, Marcilio de Souza. História das Ideias do Ensino da Dança na Educação Brasileira. Editora Appris, 2019. 183p. Resenha de: NASCIMENTO, Diego Ebling do; RICHTER, Sandra Regina Simonis. Urdimento, Florianópolis, v.1, n.37, p. 456-462, mar/abr 2020.
No livro História das ideias do ensino da dança na educação brasileira, o professor, pesquisador e artista da dança Marcilio de Souza Vieira apresenta o resultado das investigações realizadas em seu pós-doutoramento na Universidade Federal da Paraíba. Na obra, o autor apresenta conteúdos de documentos – Leis, Resoluções, Minutas, Diretrizes, Parâmetros e Base Curriculares – com o objetivo de realizar uma reflexão crítica do pensamento pedagógico brasileiro a partir do percurso histórico da frágil presença da Dança na educação brasileira.
Como afirma o autor, ao destacar sua opção metodológica pela “nova história” como contraposição às grandes narrativas ou teorias de cunho positivista, há que “desfazer a mitologia do olhar isento e indicar o sentido e a intenção do olhar do estudioso em/da Dança” (Vieira, 2019, p. 20). Para tanto, propõe uma obra em três atos – As Bases da Arte, Os Sistemas e As Problemáticas: A crise revelada – compostos por 14 cenas que permitem situar distintas concepções de arte e políticas para o ensino da dança no pensamento educacional brasileiro, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, incluindo os Cursos Técnicos de Dança. As cenas propostas são pautadas por uma revisão analítica sustentada na perspectiva da historiografia da dança moderna brasileira e ocidental.
A relevância da investigação realizada por Vieira em torno da presença – ou não – da dança na educação brasileira está em contribuir para compreendermos com Jorge Larossa (2006) que a produção, legitimação e controle de determinados modos de pensar, acessar e constituir conhecimentos refletem, indistintamente, na formulação de políticas educacionais que favorecem certos modos do corpo linguageiro aprender a estar sendo no e com o mundo. Em outros termos, implica compreender que a legitimação e o controle educacional de distintas experiências de linguagem produzem diferença na corporalidade, na sensibilidade, nas possibilidades singulares de imaginar e sonhar, de perceber e agir na pluralidade mundana.
Nesta compreensão, em sua revisão analítica do ensino das artes no Brasil, sem a intenção de esgotar a amplitude do tema, o autor discorre sobre o lugar da dança nas instituições de ensino e demonstra que ela sempre esteve à margem nas políticas educacionais em nosso país até a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9.394/96, ou seja, apenas há pouco mais de duas décadas. Essa conquista, destaca Vieira, decorre da constituição de associações de arte no Brasil e dos movimentos em prol das artes na educação que emergiram na década de 1970.
Tais movimentos exerceram relevante força política para garantir o debate em torno da inserção do componente curricular “educação artística” nas escolas e na formação de professores, sendo os propulsores para a inclusão das diferentes dimensões das linguagens da arte nas LDBEN de 1971 (Lei n. 5692/71) e de 1996 (Lei n.
9394/96). Porém, se a formação em dança no ensino superior e técnico é garantida na LDBEN de 1971, é apenas com a LDBEN de 1996 que será afirmada como ensino obrigatório na educação básica brasileira. Mesmo assim, destaca o autor, não há hoje garantias satisfatórias para a presença da linguagem da dança nas escolas de educação básica e na formação superior.
Não há garantias para a presença da dança nos currículos escolares e na formação de professores de artes pois, de acordo com o autor, hoje, o ensino de Artes na Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) “é relegado à subcomponente e à unidade temática, favorecendo uma aprendizagem polivalente da área e negando a produção de conhecimento de cada uma das linguagens que o aluno da educação básica tem direito” (Vieira, 2019, p. 135). O autor destaca que a implementação da BNCC, na especificidade do ensino das Artes/Dança, consiste em uma retroação que empobrece os currículos escolares e, consequentemente os de formação de professores, por equiparar-se “aos problemas não muito diferentes daqueles associados ao passado” (Vieira, 2019, p. 133). Ou seja, a histórica instabilidade do acesso à Dança na escola é dada pelas opções políticas voltadas para a formação específica de profissionais habilitados a exercerem o ensino das diferentes dimensões linguageiras da arte. As artes na escola continuam sendo um tenso campo de disputa.
Nesse sentido, a legitimidade da temática emerge do momento histórico da BNCC (Brasil, 2017) se encontrar em fase de implementação e o próprio contexto escolar se constituir como um espaço eficaz de resistência à permanência das artes nos currículos da Educação Básica. Resistência que aponta a relevância educacional de manter a insistência em fomentar uma educação estética e poética que potencialize a vida e os modos de existir.
A ausência da dança em diversos registros de diferentes períodos da história da educação brasileira faz com que até a “Cena 5” do livro o autor se debruce na discussão do encontro entre artes e educação escolar focalizando o ensino das artes do desenho e da música. Tal ênfase indica que o ensino da Dança ocorria prioritariamente em espaços não escolarizados, porém não explora como este ensino acontecia. A Dança, por inúmeras vezes, é tratada apenas como um “assunto” que de quando em quando é resgatado.
Neste sentido, é um livro que anuncia, pelo seu título, a especificidade da dança na educação, mas que muitas vezes não fala sobre ela, nela ou dela. A constatação decorre de um percurso histórico que demonstra, no resgate realizado pelo autor, a resistência à presença da dança nas políticas educacionais do país e, consequentemente, na escola e na formação de professores.
No “Terceiro Ato”, voltado para “As problemáticas: a crise revelada”, há uma tentativa de focalizar a Dança a partir da interrogação pelo “lugar reservado às Artes/ Dança na Base Nacional Comum Curricular” (Vieira, 2019, p. 129), porém, mais uma vez, muitos parágrafos são dedicados a trazer conceitos e discussões que evitam ou driblam a proposta da “História das Ideias do Ensino da Dança na Educação Brasileira” ao priorizar a diluição da área Arte – e suas consequências na formação de professores de Arte – com o campo da Dança.
Ainda neste Terceiro Ato, Vieira (2019) aponta diferentes políticas educacionais implementadas nos últimos anos para a garantia da Dança nos diferentes níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. No entanto, esquece o Ensino Técnico. O que é bastante intrigante, pois em momentos políticos como o nosso discutir a formação técnica nos parece extremamente relevante.
Será que o Ensino Técnico em Dança também não estará em crise? Outro apontamento que consideramos importante sublinhar nesta resenha é a desconsideração pelos estudos contemporâneos em Arte e Educação os quais vêm, cada vez mais, legitimando modos de fazer/pensar/viver dos povos originários do Brasil. O que aqui questionamos é a manutenção da ampla tendência da abordagem eurocêntrica na história do encontro político entre artes e educação no Brasil – desencadeado pelos Jesuítas e reduzido à cognição pelo ensino pragmático de listagens de conteúdos formulados como “direitos e objetivos de aprendizagem” na terceira versão da BNCC (Brasil, 2017). Ao seguir tal tendência, o autor expõe não apenas a intencionalidade política no apagamento da forte presença popular das matrizes culturais africanas e indígenas como a tensão conceitual gerada pela opção educacional de conceber arte como cognição passível de ser formulada em prévios conhecimentos ou “objetivos de aprendizagem” a serem ensinados.
A tensão é dada pelo esquecimento de que “se pensa sempre com o corpo” (Zumthor, 2007, p. 77), ou seja, pela desconsideração conceitual de que, primordialmente, “arte não faz sentido, faz sentir” (Nancy, 2016, p. 18). Talvez, essa tensão ou imprecisão nas concepções de arte no processo formativo de crianças, jovens e adultos, antes de ser limitadora, possa impulsionar outras interrogações que permitam expor o esquecimento pedagógico de que o enigma da força poética da arte/dança emerge da impossibilidade de apreender a transfiguração do sensível pois, como já disse Merleau-Ponty (1999), esta emerge de uma intencionalidade do corpo que independe de “representações”. Aqui, o paradoxo da ludicidade e lucidez que traduz os perigos da linguagem (Richter, 2016).
A publicação do livro de Vieira contribui para fomentar o debate em torno das memórias de dança no meio acadêmico e artístico ao sistematizar documentos orientadores do ensino da arte. Sua escrita cria condições para que possamos compreender, de modo amplo, a constituição histórica das políticas públicas para a área da Arte e da Educação, na qual a dança ocupa um lugar periférico no texto, evidenciando que necessita encontrar o seu lugar na educação brasileira.
Por fim, a importância da análise histórica realizada por Vieira na especificidade da presença da arte/dança no país está em expor o tenso percurso da disputa política pelos modos como educacionalmente definimos quais saberes optamos em apresentar aos novos que chegam no mundo e com qual atitude pedagógica nos posicionamos frente a eles. Nesse sentido, a publicação contribui para ampliar uma bibliografia tão escassa quanto relevante para o inadiável debate em torno do encontro entre artes e educação.
O livro é recomendado para estudantes, professores, pesquisadores e artistas que têm por objetivo adentrar nos paradoxos dos percursos históricos do ensino da Arte no país. O texto é acessível ao possibilitar a todos e todas, independente de sua área de atuação, realizar uma instigante leitura sobre as políticas educacionais brasileiras e suas relações com o ensino da arte/dança na escola e no ensino superior.
Referências
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Base Nacional Comum Curricular. Secretaria de Educação Básica e Conselho Nacional de Educação. Brasília: SEE/CNE, 2017.
LARROSA, Jorge. Uma lengua para la conversación. In: MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten (Eds.). Mensajes e-ducativos desde tierra de nadie. Traducción de María Rosich. Barcelona: Laertes, 2006, p. 45-56.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
NANCY, Jean-Luc. Demanda. Literatura e filosofia. Florianópolis: Ed. UFSC; Chapecó: Argos, 2016.
RICHTER, Sandra R.S. Educação, arte e infância: tensões filosóficas em torno do fenômeno poético. Revista Crítica Educativa, v. 2, n. 2, 2016, p. 90-106, Dossiê: Infância e Educação Infantil: abordagens e práticas.
VIEIRA, Marcilio de Souza. História das Ideias do Ensino da Dança na Educação Brasileira. Editora Appris, 2019.
ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
Diego Ebling do Nascimento – Doutorando em Educação na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC); professor da Universidade Federal do Tocantins (UFT). digue_esef@yahoo.com.br.
Sandra Regina Simonis Richter – Doutora em Educação, professora e pesquisadora da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC; Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação da UNISC, líder do grupo de pesquisa Estudos Poéticos: Educação e Linguagem UNISC/CNPq. srichter@unisc.br.
Le baptême de Clovis (24 décembre 505 ?) – DUMÉZIL (APHG)
DUMÉZIL, Bruno. Le baptême de Clovis (24 décembre 505 ?). Paris: Gallimard, coll. « Les journées qui ont fait la France », 2019. 320p. Resenha de: PROUVOST, Yveline. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 20 fev. 2020. Disponível em: <https://www.aphg.fr/Le-bapteme-de-Clovis-24-decembre-505>Consultado em 11 jan. 2021.
Le pari du livre de Bruno Dumézil, comme celui de la collection dans lequel il est publié, est d’inscrire le baptême de Clovis parmi ces journées particulières qui ont pu participer, d’une façon ou d’une autre, à la construction de la France.
L’auteur, qui part des commémorations de 1996, nous projette ensuite au tournant du VIe siècle. Il se place dans la continuité et l’utilisation des travaux précédemment rédigés autour de cet événement, ceux de Georges Tessier, Michel Rouche, Laurent Theis ou encore Stéphane Lebecq par exemple.
Bruno Dumézil commence par présenter tout ce que l’on peut savoir de ce baptême en le comparant à ceux de cette époque, analysant pour cela la source principale de cette information, tant dans sa forme que dans son contenu : la lettre d’Avit de Vienne dont il montre aussi les limites.
Afin de tenter de comprendre ce baptême, ce sont les sociétés de l’Antiquité tardive que l’auteur fait revivre : l’ethnogenèse franque, les Francs, et leur rapport à l’Empire romain, l’apparition de la « dynastie » mérovingienne : tout est évoqué, analysé, mis en question.
Cette approche montrant ses limites, dans un second temps, Bruno Dumézil replace le baptême dans le contexte religieux des Ve– VIe s. : il nous présente le christianisme de la fin de l’Empire romain, son expansion progressive, mais aussi ses divisions et querelles nombreuses. Il distingue ainsi classiquement les tendances religieuses ariennes et nicéennes, mais aussi la croyance homéenne qui domine un temps largement l’Occident européen, jusqu’à la bataille d’Andrinople en août 378. La question des schismes est fondamentale. Le schisme d’Acace d’abord qui divise profondément la communauté chrétienne entre Orient et Occident de 484 à 519 et contraint chaque chrétien à prendre position. Mais aussi le schisme de 498 au sein de l’Eglise de Rome, issu de la double élection pontificale de Symmaque et Laurent. Dans ces querelles : quelles positions Clovis a-t-il tenu ? L’enquête va jusqu’à scruter les cadeaux envoyés par Clovis au Saint Siège pour tenter de cerner ses fidélités. Bruno Dumézil replace ainsi la religion chrétienne, son expansion et son imprégnation dans toute l’épaisseur de la société gallo-romaine de ce tournant du VIe siècle. Cependant, et malgré certaines hypothèses convaincantes, la question du choix religieux de Clovis demeure irrésolue.
Face à cette nouvelle impasse, Bruno Dumézil tente alors de reconsidérer la place de ce baptême dans le règne du Franc. Il montre alors ce que les sources nous permettent de comprendre du règne de Clovis, ainsi que sa portée pour les générations suivantes. Il met à jour la quasi amnésie mérovingienne concernant Clovis… et, a fortiori, son baptême. Là encore les sources, comme l’œuvre de Grégoire de Tours, sont finement analysées et critiquées, montrant bien leur peu de fiabilité quant à l’évènement considéré, ce qui n’enlève rien à leur intérêt.
On découvre rapidement comment jusqu’au début du règne des Carolingiens, Clovis ne resurgit que de façon très opportune dans la mémoire : comme modèle ou anti-modèle, afin de montrer les défauts des rois régnants sans s’en attirer les foudres. La figure de Clovis est utilisée, modifiée, transformée selon les besoins politiques du temps.
S’ensuit alors une tentative de datation du baptême elle-même conçue tel un jeu : l’auteur scrute chaque possibilité de date, la critique, avant de se risquer à en proposer une, dont il ne manque pas non plus de montrer les limites. C’est au travail de fond de l’historien, à sa démarche réflexive, qu’on est alors confronté, même si, avec une grande honnêteté intellectuelle, aucune réponse nette et définitive n’est apportée.
Enfin, il remonte le cours du temps jusqu’à nos jours pour mesurer la portée et surtout l’utilisation (ou non) de cet événement au fil du temps : s’attardant autant sur les périodes de construction et d’utilisation du mythe que sur celles de sa disparition tout aussi édifiantes. Il nous montre les querelles suscitées autour de Clovis et de son baptême, contribuant au passage à la réhabilitation de certains historiens tels Aimoin de Fleury ou l’abbé Dubos.
Bruno Dumézil, face à cet exercice particulièrement périlleux d’évocation d’un sujet largement traité et dont la sensibilité resurgit périodiquement, s’en tire donc avec brio et humour, redonnant de l’épaisseur à la période traitée, envisagée sous tous ses aspects, mettant au jour l’essentiel de la démarche historique et ses éventuelles limites. Il fait véritablement œuvre ici d’historien mesurant la place d’un évènement (on pourrait presque dire d’un « non-événement » au VIe s.) dans la construction de la France, à partir d’une analyse précise et même impitoyable de notre maître absolu : les sources.
Il nous livre ainsi tout au long de cet ouvrage la riche histoire d’un « détournement de fonts » (sic).
Yveline Prouvost
[IF]Em defesa da liberdade: libertos, coartados e livres de cor nos tribunais do Antigo Regime português (Mariana e Lisboa, 1720- 1819) | Fernanda Pinheiro Domingos
Desde a década de 1980, o estudo das chamadas “ações de liberdade” se consolidou na historiografia da escravidão brasileira. Muitos foram os trabalhos publicados sobre a luta judicial pela liberdade e também foram recorrentes estudos sobre crime, família escrava, tráfico e outras questões que se valeram desses processos judiciais como fontes fundamentais para a análise do cotidiano e da agência de escravos, libertos e pessoas livres de cor. O livro de Fernanda Domingos Pinheiro, Em defesa da liberdade: libertos, coartados e livres de cor nos tribunais do Antigo Regime português (Mariana e Lisboa, 1720-1819), insere-se nesse campo já consolidado da história da escravidão, apresentando inúmeras informações que ainda não eram de amplo conhecimento dos pesquisadores do campo e levantando novas questões e perspectivas de análise sobre as relações entre direito, liberdade e escravidão. O livro apresenta uma pesquisa rigorosa e minuciosa sobre os significados e a precarização da liberdade no Império português, baseada, sobretudo, na análise de processos judiciais ajuizados em Mariana e Lisboa. Nessa análise, a autora não deixa de lado nem os argumentos e formas jurídicas específicas que constituíram esses documentos, nem o debate acerca da vivência das pessoas de cor em sociedades escravistas em um sentido mais amplo. Leia Mais
The fearless Benjamin Lay: the Quaker dwarf who became the first revolutionary abolitionist | Marcus Rediker
A memória do antiescravismo por seus agentes
Em 1808, logo após o Parlamento britânico aprovar a extinção do tráfico transatlântico de escravos, o famoso abolicionista Thomas Clarkson publicou o livro The history of the rise, progress and accomplishment of the abolition of the African slave trade by the British parliament. Era o momento ideal para dar início à construção da memória do antiescravismo.2 Clarkson narrou a história do movimento a partir de um ponto de vista fortemente alinhado aos ideais do grupo que assumiu a frente da luta contra a escravidão, que, por sua vez, exprimiam suas concepções políticas e classistas de homens da “middle class” britânica, comprometidos com o credo da religião oficial anglicana. Nessa obra, Clarkson apresentou uma alegoria fluvial para ilustrar o crescimento e fortalecimento do movimento contra o tráfico e a escravidão na Europa e América do Norte. A despeito de seu etnocentrismo, que desconsiderou quase todas as iniciativas antiescravistas ibéricas anteriores, sua alegoria (ou mapa) é um registro valioso da concepção iluminista de progresso, que norteou essa vertente antiescravista. Na alegoria, numa distribuição espaço-temporal, vê-se, por volta de 1650, as primeiras iniciativas antiescravistas. São pequenos regatos e riachos, que trazem nomes de indivíduos ou pequenos grupos, simbolizando as vozes isoladas que se opuseram à escravidão, mas que acabavam desaguando numa única direção e num mesmo rio; com o passar dos anos, apareceram afluentes mais numerosos, que, por sua vez, foram tornando mais encorpado o rio principal; a partir de aproximadamente 1750 as iniciativas se multiplicaram e esses tributários já desaguavam num grande rio que se dirigia ao oceano. Apesar de Clarkson deixar sugerida a conexão existente entre essas iniciativas, ele tomou o cuidado de destacar dois grandes rios separadamente, um da Europa e outro da América do Norte, que virtualmente se encontrariam no oceano da liberdade (CLARKSON, 1808, v. 1, entre as págs 258 e 259). Leia Mais
Tiempo de política, tiempo de constitución: la monarquía hispánica entre la revolución y la reacción (1780-1840) | Ivana Frasquet e Encarna García Monerris
É recorrente o interesse tido pela historiografia em estudar temas relativos à transição do Antigo Regime para a ordem liberal, entendida como o alvorecer da modernidade política. Trata-se de um dos períodos de maior relevância para a história – não só do continente europeu, como também de boa parte da América – em que são compreendidas as transformações do início do século XIX no interior de uma espacialidade Atlântica. Tal aspecto tem profundo destaque também pela historiografia ibero-americana. Nesse caso em específico, busca-se compreender as dinâmicas em torno da ascensão do regime liberal, visto a partir da crise das monarquias espanhola e portuguesa e, consequentemente, da fragmentação dos antigos impérios ibéricos. O livro aqui resenhado trata-se exatamente de uma obra que, de maneira bastante original, se insere nessa lógica. Leia Mais
Diálogos Makii de Francisco Alves de Souza: manuscrito de uma congregação católica de africanos Mina, 1786 | Mariza de Carvalho Soares
A publicação de fontes históricas não é algo muito comum no mercado editorial brasileiro. Neste sentido, é mais do que bem-vinda esta narrativa sobre uma congregação religiosa católica formada por africanos que originalmente vieram para o Brasil escravizados do Golfo do Benim (atual Togo, Benim e Nigéria). Este documento, guardado na seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, foi apresentado ao público através do trabalho de Mariza de Carvalho Soares, uma das mais destacadas africanistas em atividade no Brasil. Partes dele tinham sido exploradas em trabalhos anteriores da pesquisadora, mas somente agora uma edição crítica do documento, com notas explicativas, veio a lume.
Antes deste livro, a autora já havia publicado Devotos da cor, obra que trata da Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia no Rio de Janeiro durante o século XVIII (SOARES, 2000). Ademais, ela também organizou um livro sobre a diáspora da Costa da Mina para o Rio de Janeiro (SOARES, 2007). Em outras palavras, é uma conhecedora desta região africana e da diáspora no Brasil dos povos desta área (conhecida pelos linguistas como “área dos gbe-falantes”). A iniciativa contou com o apoio da Chão, editora nova no mercado e que já tinha publicado documentos sobre Jovita Feitosa, uma voluntária para a Guerra do Paraguai, com comentários de José Murilo de Carvalho (CARVALHO, 2019). Leia Mais
A classe trabalhadora: de Marx ao nosso tempo | Marcelo Badaró Mattos
Marx não dedicou um escrito exclusivo sobre classes sociais. Sobre o tema tratado explicitamente, restou apenas um fragmento de um texto inacabado. Já no Livro I de O Capital o termo “classe operária” aparece dezenas de vezes, porém sem uma conceituação precisa que a defina. Contudo, a despeito de apenas referir-se a elas de forma marginal ou indireta (por vezes proletariado, movimento operário, produtores), por certo constituem um fio condutor que atravessa toda sua obra. Mais que isso, possivelmente, e de forma contraditória, constituam-se de sua categoria mesma de maior alcance, sua “ultima thule2” (MARX, 2011, p. 306-307) um precepto heurístico capaz de transcender as bordas do mundo que ele próprio conheceu. É seguramente ancorado nessa percepção que o professor de História do Trabalho e Sindicalismo, Marcelo Badaró Mattos, da Universidade Federal Fluminense, nos entrega o texto A classe trabalhadora: de Marx ao nosso tempo. Uma sofisticada análise que põe em tela a estrutura e a dinâmica da classe trabalhadora desde sua gênese até sua expressão contemporânea. Leia Mais
Forças Armadas e Política no Brasil | José Murilo de Carvalho
Em 2015, o historiador José Murilo de Carvalho chamou a atenção para um episódio cuja gravidade havia passado despercebida no âmbito da opinião pública. O General Hamilton Mourão celebrou o golpe de 1964 sem despertar reação dos seus superiores ou da presidência da República. Uma luz amarela acendeu-se. Um sinal de alerta a desfazer a crença na reclusão dos militares às suas atividades profissionais. Significava a retomada do envolvimento das Forças Armadas na política brasileira?
Com a redemocratização do Brasil e a aprovação da Constituição de 1988, a agenda política foi tomada por outros assuntos mais urgentes, passando os militares a um papel secundário no quadro das preocupações dos analistas, da imprensa e das forças partidárias. Entretanto, a atuação dos militares nos recentes acontecimentos do País modificou tal percepção, restaurando a questão do protagonismo político dos militares. O livro de José Murilo é mais do que oportuno. Recoloca uma vez mais não só a necessidade, mas a urgência do estudo dos militares no passado e no presente da vida nacional. Trata-se de uma reedição ampliada, disponível em versão impressa e em formato digital, que oferece aos leitores, novos capítulos tanto sobre a história dos militares quanto da sua atuação recente. Leia Mais
Políticas da inimizade | Achille Mbembe
Saiu em português de Portugal pela Antígona, com o título Políticas da inimizade, a tradução de Politiques de l’inimitié, publicado em 2016 pela Éditions La Découverte, do professor de história e de ciência política Achille Mbembe. Nascido em 1957 em Otété, Camarões, um dos mais importantes intelectuais cosmopolitas da atualidade, o autor leciona no Witwatersrand Institute for Social and Economic Research e já publicou títulos importantes como Crítica da razão negra (MBEMBE, 2014) que também tem tradução em Portugal, original, Critique de la raison nègre (MBEMBE, 2013a), Sortir de la grande nuit (MBEMBE, 2013b) e De la postcolonie (MBEMBE, 2000).
O livro tem cinco capítulos, alguns deles já publicados em revistas em edições anteriores, uma introdução e uma conclusão. Além do profundo e crítico diálogo com os estudos pós-coloniais, o chamado pós-estruturalismo e a historiografia e teoria política contemporâneas, familiar para quem conhece o autor, os ensaios possuem um interlocutor principal: o martiniquenho Frantz Fanon. Leia Mais
Descobrindo padrões em mosaicos | Ruy Madsen Barbosa
Por trás da beleza, da complexidade e das cores dos mosaicos, encontram-se as relações geométricas, os padrões, a matemática. No livro Descobrindo padrões em mosaicos, Ruy Madsen Barbosa revela os conceitos que estruturam a pavimentação do plano, fazendo emergir a matemática oculta desses padrões.
Repleto de definições, fórmulas, ilustrações, demonstrações e um pouco de história, o livro possibilita uma leitura em vários níveis de profundidade, sendo igualmente atraente para leitores curiosos sobre o assunto com para matemáticos. Os conhecimentos apresentados no livro permitem ao leitor não só descobrir como também desenvolver seus próprios padrões visuais, aplicáveis em projetos de pavimentações ou até mesmo de padronagens, tornando essa leitura de interesse para arquitetos e designers. Leia Mais
Os restauradores | Camillo Boito
Os Restauradores foi uma conferência realizada por Camillo Boito (1836-1914) na Exposição de Turim em 7 de junho de 1884 e posteriormente publicada em texto. Ela é considerada bibliografia básica para quem deseja entender sua obra e a história do restauro como um todo.
Boito foi uma personalidade muito importante para a conceituação teórica acerca da restauração. Ele formulou teorias influenciadas por inúmeros aspectos, conhecidas como restauro “científico” ou “filológico”, que resultaram numa espécie de meio-termo entre as conflitantes mais discutidas na época sobre restauração: as do francês Viollet-le-Duc e as do inglês John Ruskin. Leia Mais
Gramsci: una nuova biografia A. D’orsi
O italiano Antonio Gramsci (1891-1937) pode ter seu pensamento caracterizado como essencialmente dialógico. Tendo sua personalidade intelectual construída em um período de crises marcado pela I Guerra e a ascensão do nacionalismo fascista, procurou dar respostas às questões de seu presente tanto no âmbito da elaboração intelectual como na política prática. Compreender seu pensamento exige conectá-lo com seu tempo histórico e assumir como premissa a dupla orientação de pensamento e ação que lhe marcou. Essa premissa pode parecer banal, mas devemos lembrar que se trata de uma produção mobilizada e disputada inicialmente pelo PCI (Partido Comunista Italiano) e depois pela leitura liberal estimulada especialmente a partir de Norberto Bobbio. Mais recentemente, conservadores radicais nos EUA e Brasil têm tratado a produção gramsciana como um tipo de manual que haveria orientado a esquerda em uma luta cultural, segundo esses conservadores vencida por seus antagonistas. Embora tais grupos e leituras não possam ter tratados como equivalentes, elas ilustram a persistente atenção a Gramsci e suas ideias, ainda que por vezes as mesmas sejam simplesmente instrumentalizadas ou intencionalmente distorcidas. Enfim, Gramsci está bastante vivo nos debates e controvérsia do tempo presente e não apenas no Brasil. Leia Mais
Educational memory of Chinese Female Intellectuals in Early Twentieth Century – JIANG (SEH)
Lijing Jiang /
 JIANG, L. Educational memory of Chinese Female Intellectuals in Early Twentieth Century. Singapore: Springer, 2018. Resenha de: GUO, Mengna. Social and Education History, v.9, n.2, p.224-226, feb., 2020.
JIANG, L. Educational memory of Chinese Female Intellectuals in Early Twentieth Century. Singapore: Springer, 2018. Resenha de: GUO, Mengna. Social and Education History, v.9, n.2, p.224-226, feb., 2020.
Educational Memory of Chinese Female Intellectuals in Early Twentieth Century describes the campus life, teacher-student interaction, academic career, and ideological change of the first generation of female intellectuals trained in higher education in China as the Chinese society changed in the early 20th century.
Using the research methods of life history, oral history, and history of mentalities, the author reveals the special experiences and ideological journeys of Chinese female intellectuals by the literature works of three firstgeneration Chinese female intellectuals and other people’s interpretations and commentary on their works. It also analyzes the relationship between many factors such as society, academia and education, especially higher education, and female intellectuals.
Chapter 1 is the introduction of the whole book. It explains the emergence of Chinese intellectuals, in particular, Chinese female intellectuals. The author also illustrates two essential factors that promote the transformation of traditional Chinese intellectuals into contemporary intellectuals, and states research methods.
Chapter 2 Flexible Borderline: Beijing Female Normal School in 1917 describes the architectural structure design of Beijing Female Normal School and the relationship between its design and traditional Chinese culture. After that, the author introduces the educational life of the students of Special Training Major of Chinese Literature and Language in Beijing Female Higher Normal College and compares the traditions of female education in feudal China with the educational situation of Peking University that only recruit male. The process and obstacles of Beijing Female Normal School transformed to Beijing Female Higher Normal University are also mentioned, as well as the role played by key men during this process. All of the above indicate the variability of the external environment and the reconstruction of social order in China, providing possibilities for social and educational changes.
Chapter 3 Diversified Traditions: Early Education Life of Female Individuals describes the early life and educational experience of three firstgeneration female intellectuals in China– Cheng Junying, Feng Shulan and Lu Yin. Their early experience reveals their reasons for giving up traditional female identities and lifestyles, as well as their motivation to study. It is a very unique growth experience and life story different from the male intellectual.
In the 19th century, there were three schools of thought in the mainstream of Chinese literature academia in the 1990—Tongcheng Style, Wenxuan Style, Jiangxi Style inherited from Song Dynasty. In chapter 4 Education Situation Plagued by Academic Conflicts: Beijing Female Higher Normal College During May Fourth Movement, since Hu Shi proposed literary reform, the concept of orthodox literature ideas began to be criticized at the end of 1916, and two Chinese literature masters coming to the Special Training Major of Chinese Literature and Language of Beijing Female Normal School in August 1918 proposed to “carry on extinct studies and support marginal studies”. But this cannot stop the rejection of the new trend of thought. The reform of Chen Zhongfan and the emerging of intellectuals such as Hu Shi and Li Dazhao not only contributed to the establishment of a modern academic education system, but also provided indispensable conditions for the generation of Chinese female intellectuals.
In Beijing Female Higher Normal College, the three female intellectuals underwent the impact of traditional Chinese learning and new culture, revolutionists and reformists. Their obedience and stubborn abidance to traditions and authority were replaced by independent choice-making rights.
Chapter 5 Seeking for and Recognizing the New Identity: Female Individual’s Transmutation and Rebirth deeply describes the transformation of three females, Cheng Junying, Feng Yuanjun (Feng Shulan), and Lu Yin, in Beijing Female Higher Normal College and their academic interaction with the teacher. Meanwhile, the three female intellectuals also gradually found their true vocation and the “irreplaceable” inner aspiration and interest through constant attempts and exploration under the intricacies of influences.
Although the three Chinese female intellectuals’ early experiences and specific careers are different, they all “had the responsible sense of ‘mission in life’ inherited from Chinese traditional culture or inspired by the society behind their personal interest and pursue”. Chapter 6 Scholars and Academia: Female Individuals’ Long Journeys for Gentry introduces the educational life, academic life and family life of the three female intellectuals after they left the campus. In this period, they have encountered harsh life and challenges, but the spirit which transcends personal interest and considers culture inheritance as personal responsibility has driven them to move forward.
This book shows the changes in thoughts and interests experienced by three Chinese female intellectuals with the changes of the broad social context. At the same time, it also tries to show the special role played by higher education in promoting academic transformation and establishing a modern academic education system.
Mengna Guo – Universidad de Barcelona. E-mail: guomengna19940511@gmail.co.
[IF]La mujer que salvaba a los niños – MULLEY (SEH)
MULLEY, C. La mujer que salvaba a los niños. Barcelona: Alienta Editorial, 2018. Resenha de: SÁNCHEZ, Elena Duque. Social and Education History, v9, n.1, p.121-123, feb., 2020.
El presente libro es una biografía de Eglantyne Jebb, nacida en 1876 en Ellesmere (Reino Unido) en una familia de clase media intelectual, que tal y como se detalla en el libro, poseían una casa en la que en todas las habitaciones era posible encontrar libros. Una pasión, la lectura que Eglantyne inició desde pequeña y no abandonó hasta su muerte. Licenciada en historia por la universidad de Oxford decidió en 1899 comenzar a dar clases en una escuela para niños y niñas de clase trabajadora y con situación económica precaria. Esta experiencia la llevó a apasionarse por la educación y por la búsqueda de mejores metodologías de aprendizaje y a estudiar la carrera de magisterio.
Tal y como se muestra a través del libro, los varios problemas de salud que tuvo nuestra Eglentyne generaron que tuviera que pasar largos períodos sin trabajar. Fue a partir de 1916 que empezó a unirse aún más a su hermana Dorothy, que movida afiliada a Liga internacional por la paz y la libertad y activista pacifista. Dorothy estaba convencida que la promoción de una visión más humanitaria de los enemigos de la Gran Bretaña se podría conseguir una paz negociada (recordemos que para esas fechas, ya se había iniciado la I Guerra Mundial). Uno de los proyectos de Dorothy para combatir la información sesgada sobre la guerra en los periódicos de Gran Bretaña, fue la de publicar noticias de la misma guerra, pero en periódicos de los países enemigos o neutrales. Con el objetivo de mostrar el sufrimiento de ambos bandos y no justificar la guerra. Entre su equipo de colaboradoras y traductoras se encontraba su hermana Eglentyne que dominaba con fluidez el francés y el alemán En 1919, entre cuatro y cinco millones de niños y niñas se estaban muriendo de hambre en Europa. Dorothy creó en marzo la Oficina de Información sobre el Hambre con el objetivo de recoger información fiable de la verdadera situación de los niños y niñas víctimas colaterales de la guerra. En estos momentos se empezaron también a elaborar y distribuir folletos de niños y niñas austríacas hambrientas, mostrando así las secuelas que estaba teniendo la guerra para un colectivo totalmente inocente. Motivo por el que fue detenida Eglentyne y otra compañera y llevadas a juicio. El motivo fue la distribución de propaganda no autorizada por el gobierno.
La propaganda involuntaria de dicho juicio fue aprovechada por las dos hermanas y convocaron una “Reunión contra la hambruna” el 19 de mayo de 1919. Fecha que se considera la creación de Save de Children. En dicha reunión Eglentyne dio un mensaje muy poderoso sobre los niños y niñas: “Tenemos un único objetivo, salvar a tantos como sea posible. Tenemos una sola regla, les ayudaremos sea cual sea su país, sea cual sea su religión” (p.319).
Aunque existían otras organizaciones humanitarias en terreno de guerra, la realidad era que los niños y sus necesidades no eran tenidos en cuenta.
Siendo así que Save the Children se convirtió en la primera organización benéfica especial creada para niños sin hogar y la primera fundada por mujeres. También es la mayor organización internacional independiente para la mejora de la infancia. Y, por lo tanto, también ha contribuido a crear conciencia de la existencia de derechos de un colectivo totalmente invisibilizado como eran los niños y niñas.
A partir de su creación, el trabajo se centró en recaudar fondos para hacer llegar la ayuda al máximo de niños y niñas y a crear una conciencia de que éstos ser considerados terreno neutral. Para hacer aún más clara esta posición de la asociación, se decidió poner su sede en Ginebra, considerado país neutral.
Al trabajo en Save the Children como presidenta de Eglentyne, se unió su empeño por crear un documento con reconocimiento que reuniera los derechos imprescindibles de los niños y niñas, tal y como se detalla en el capítulo 15, llevó a Eglantyne a elaborar un inicial redactado llamado “Carta del niño” con cinco puntos que fue el punto de partida de la promulgación de los Derechos del niño y la niña por parte de las Naciones Unidas. En este libro se pueden encontrar los detalles de la trayectoria de una mujer que se rebeló también contra las imposiciones sociales de su época y consiguió hacer partícipe a la humanidad de la necesidad de poner en el centro del bienestar a los niños y niñas.
Elena Duque Sánchez – Universidad de Barcelona. E-mail: elenaduquesa@ub.edu.
[IF]O fotógrafo Benicio Whatley Dias | Cêça Guimaraens
O que seria da arquitetura sem seus fotógrafos? Ou antes, o que seria de uma cidade sem eles? De Paris sem Atget; de Nova York sem Stieglitz; do Rio sem Ferrez; de São Paulo sem Militão; de Buenos Aires sem Coppola; de Salvador sem Verger; do Recife sem Benicio Dias? O que sua presença – como de tantos outros fotógrafos – tem a dizer dessas cidades que eles retrataram? Da transformação de sua fisionomia, das múltiplas maneiras de enxerga-las, dos acúmulos temporais nelas flagrados, dos vestígios do perene, do fugidio, do insólito? Que cidades ao fim e ao acabo eles revelaram? Que imagens elaboraram ou consagraram a seu respeito?
O livro acerca da obra fotográfica de Benicio Dias organizado por Cêça Guimaraens ajuda-nos a responder algumas dessas questões. Não apenas aos que, como nós, nascemos no Recife ou que estudamos a história da cidade em que cedo ele emergiu como um de seus intérpretes mais vigorosos. Mas a todo aquele interessado nas relações da cidade com a fotografia e com as arenas culturais que estimularam o surgimento de representações visuais tão eloquentes acerca do urbano. Leia Mais
Instituto de Menores Artesãos (1861-1865): informação, poder e exclusão no Segundo Reinado | Douglas de Araújo Ramos Braga
Resultado de uma pesquisa de iniciação científica que se tornou tema de trabalho de conclusão de graduação, o livro é fruto da monografia de Douglas de Araújo Ramos Braga- graduado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), mestre em História das Ciências e da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz (COC-FIOCRUZ) e atualmente doutorando em História pela Universidade de Brasília (UNB) 1.
Instituto de Menores Artesãos (1861-1865): informação, poder e exclusão no Segundo Reinado concede centralidade às noções de “criança”, “infância” e “menor”, numa análise que busca entender a experiência institucional do instituto de vida efêmera que exerceu profundo impacto sobre os indivíduos que para ela foram enviados-retirados das ruas ou mandados por familiares que não tinham condições de criá-los. O que eram crianças? O que eram menores? Como e porque eram inseridos junto a outras figuras – homens, mulheres, livres, escravos, imigrantes, africanos livres de diversas idades – nas chamadas “classes perigosas”? O que era ser criança, o que era infância? São algumas das perguntas que norteiam as reflexões do autor, que insere sua problemática no debate maior acerca das políticas públicas de controle e esquadrinhamento social pelo Estado Imperial. Leia Mais
Le silence dans l’art médiéval. Liturgie et théologie du silence dans les images médiévales – DEBIAIS (APHG)
DEBIAIS, Vincent. Le silence dans l’art médiéval. Liturgie et théologie du silence dans les images médiévales. Paris: Éditions du Cerf, 2019. 312p. Resenha de: PIERROT, Loïc. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 22 jan. 2020. Disponível em: <https://www.aphg.fr/Vincent-Debiais-Le-silence-dans-l-art-medieval>Consultado em 11 jan. 2021.
Il existe bien des silences. Il y a celui du repos, le soir venu, après une journée saturée par les bruits du travail et de la ville ; celui de la vie intérieure au passage des pensées et des émotions ; ou encore celui, plus gênant, d’une conversation incommode. Les chercheurs se sont naturellement emparés de ce fait aux aspects multiples, en particulier les « historiens du sensible ». En France, Alain Corbin a proposé une approche des « paysages sonores » là où d’autres, à l’étranger, ont développé les sensory studies ou encore les sound studies. En 2010, l’anthropologue David Howes allait jusqu’à suggérer un sensual turn s’ajoutant aux nombreux autres tournants que les sciences sociales emprunteraient aujourd’hui. Le silence comme objet d’étude n’en est pas moins difficile à situer en l’absence d’une approche globale de celui-ci dans une perspective historique. Parmi tous ces remous heuristiques, Vincent Debiais s’est néanmoins démarqué en 2019 en proposant une histoire du silence à la croisée de l’histoire, de l’histoire de l’art et de la philosophie. Historien chargé de recherche au CNRS, Vincent Debiais questionne le silence dans l’art médiéval en le traitant comme une « positivité » (p.11), c’est-à-dire comme une entité présente dans l’image et dans son sujet. Il contribue ainsi à dégager une nouvelle approche des évocations du silence et de sa présence dans les productions artistiques du Moyen Âge, tout en rappelant le rôle essentiel du fait-silence dans la culture et la vie spirituelle de l’Occident chrétien.
L’approche de V. Debiais, à la fois solide et prudente, comprend aussi quelques audaces intéressantes en osant à plusieurs reprises des parallèles avec l’art contemporain et son traitement du silence. Ces comparaisons ne sont jamais gratuites et permettent de restituer sa radicalité au geste créatif médiéval. Sa méthode ne se départit pas, enfin, d’une vigilance appréciable vis-à-vis des conceptions contemporaines du silence. L’historien ne se laisse déborder ni par les théories contemporaines du silence artistique – où il n’existe pour l’essentiel qu’en tant que performance en soi ou comme paratexte de l’œuvre –, ni par les constructions néo-romantiques ou pseudo-zen du silence qui ont cours aujourd’hui. Avec Vincent Debiais, le silence médiéval devient un signe à part entière et retrouve son épaisseur sémantique et créative.
Un sens chrétien du silence
Les images médiévales ne nous parlent pas. Elles ne nous parlent plus, du moins, comme elles le faisaient avec leurs observateurs du Moyen Âge. Ce constat abrupt paraît d’autant plus vrai face aux représentations médiévales du silence. Il serait peut-être intéressant, si nous nous risquons comme l’auteur au jeu de la comparaison, de rapprocher ce rapport incomplet à l’image passée avec celui décrit par Chris Marker et Alain Resnais dans Les Statues meurent aussi (1953) : devant les figurations médiévales du silence, ce sont deux mondes qui se font face, parce que notre manière de voir et de comprendre n’est pas médiévale. Les intentions se heurtent et font place à une incompréhension qui comporte le risque de la déformation, voire de l’exotisme. Pour comprendre à nouveau le silence dans l’art, il faut donc partir sur les traces du silence médiéval. La première partie de l’ouvrage de Vincent Debiais est consacrée à la définition de ce silence. Au terme de développements sur la discipline et la ritualité du silence dans la civilisation gréco-romaine, l’auteur aborde la question du silence biblique et chrétien. Au sein du corpus vétérotestamentaire, les épisodes de silence marquent généralement une distance angoissante de Dieu – ainsi le livre d’Ézéchiel – ou bien un temps de pédagogie divine vers la sagesse – comme dans le livre de Job. Ce silence pédagogique se retrouve également dans le Nouveau Testament, lorsque le serviteur attend la parole du maître, mais il se double aussi du silence résigné de la Passion qui n’est brisé qu’au dernier souffle du Christ. Or, malgré la récurrence des silences dans la Bible, seules deux scènes se démarquent particulièrement dans la production artistique du Moyen Âge : le silence primordial de la Genèse et le silence à l’ouverture du septième sceau. Cela ne signifie pas pour autant que le silence est absent de la théologie chrétienne. Les Pères de l’Église lui consacrent quelques réflexions parfois concurrentes, mais tous s’accordent pour dire que le silence – subi ou recherché – est une condition nécessaire d’accès à Dieu, qu’il constitue un à-côté de la parole de vérité et de foi et qu’il peut être caractérisé et apprécié au même titre que la lumière ou le son. Le silence s’avère central pour des théologiens apophatiques comme Clément d’Alexandrie (Stromateis, IIe-IIIe s.) ou Philippe de Harvengt (De silentio, v. 1150) parce que la contemplation de Dieu est pour eux au-delà du langage, là où les paroles sont silence. Augustin d’Hippone, pour sa part, distingue la parole silencieuse de Dieu, chargée de vérité intérieure, de la parole sonore et inconséquente des hommes. Plus encore : Augustin estime qu’en musique le silence n’est pas un « vide » mais un son prononcé silencieusement, une pause mesurable, dotée de qualités esthétiques. Conçu comme un « plein », le silence connaît une telle portée au Moyen Âge qu’il est pourvu d’une note au cours de la théorisation de la musique au XIIIe siècle. Après Augustin, le silence devient qualifiable et représentable. Le Moyen Âge s’en saisit.
Le silence dans tous ses états
Vincent Debiais propose une typologie du silence dans les arts médiévaux. Il distingue tour à tour le silence comme transparence, le silence-lieu, le silence-geste et le silence-corps qu’il présente au lecteur en quatre parties richement illustrées. Il observe d’abord les représentations de l’ouverture du septième sceau dans l’Apocalypse de Jean en examinant les enluminures et leur dispositif en regard du texte (« Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure » – Ap 8,1). L’historien s’attarde sur l’Apocalypse de Beatus de Liébana puisque le moine Beatus a insisté dans sa glose sur le fait que le silence devient visible dans la révélation johannique, mais il complète son analyse avec d’autres manuscrits. Il mentionne le cas du ms. Vitrina 14-2, f. 162 (Madrid, Biblioteca Nacional), où la monumentalisation épigraphique du mot silentium, tracé avec des modules larges, rempli d’or et en écriture d’apparat, semble donner une consistance physique au silence et crever le parchemin en faisant « émerger du fond de la peau un cri assourdissant » (p.67). Ce cri de silence n’est pas sans rappeler à V. Debiais un autre cri, celui peint par Edvard Munch en 1893, qui est resté la figuration la plus célèbre du cri silencieux. L’auteur trouve dans d’autres manuscrits un souci de rendre perceptible le silence par l’ornement, restituant ainsi la brutalité du verset biblique en produisant l’effet du silence dans la lecture.
Au chapitre suivant, Vincent Debiais s’attache à mieux comprendre le silence monastique. Il rappelle brillamment que la conception médiévale du désert n’est pas celle d’un espace silencieux, mais d’un espace isolé et hostile ; ce qui est silencieux, en revanche, c’est le pendant métaphorique du désert : le monastère. Jusqu’au XIIe siècle, sous l’influence de l’interprétation clunisienne de la règle bénédictine, le silence monastique remplit trois fonctions : la lutte contre les péchés de la langue, la concentration dans la louange de Dieu et la mise en accord de la vie du moine avec celle de l’ange (disciplina coelestis) qui, en face à face avec Dieu, n’a plus besoin de parler pour connaître et louer. Le silence clunisien est alors renoncement au monde et, par imitation, présence terrestre d’une réalité céleste. Quant au silence cartusien, qui n’est pas une simple retenue de la parole mais une abstinence absolue, il est moins un silence angélique qu’un silence de quiétude nécessaire rendant le cœur disponible à la contemplation de Dieu. Vincent Debiais remarque, à juste titre, que le silence monastique est un processus : il est pour le moine un moyen d’accéder à un état de l’âme. Le bâti du monastère se doit alors d’être une « traduction architectonique d’un état du monde » (p.117). Le cloître comme lieu de silence absolu, hors du cadre cartusien, est une construction théologique qui n’a jamais existé dans les faits. Il est l’image du Paradis, coin de terre ouvert au ciel, alliant le minéral, le végétal et la lumière, exigeant le silence. Les feuilles d’acanthe des chapiteaux du cloître sont d’ailleurs moins des motifs ornementaux qu’une végétalisation de la pierre rappelant le Paradis. Le cloître apparaît donc, en tant qu’image du silence céleste, comme un absolu du silence servant de toile de fond au silence relatif de la vie monastique. L’auteur propose ici un parcours de quelques abbayes, notamment Notre-Dame de Sénanque et Saint-Pierre de Moissac. Il en conclut qu’au monastère, il n’existe pas de représentation en soi du silence, mais une mise en ordre des lieux et des décors qui imposent le silence.
Les deux dernières parties de l’ouvrage sont consacrées au silence liturgique et à la corporalité du silence. Partant d’œuvres d’artistes contemporains comme John Cage ou Yves Klein, Vincent Debiais insiste sur le fait que les images montrent moins la normativité du silence que sa portée spirituelle. D’où l’importance du silence dans le temple et le service divin : nombreuses sont les représentations du silence imposé par la domus Domini qui utilisent essentiellement l’image de l’index ou de la main couvrant les lèvres, aussi bien sous la forme de mosaïques – comme au baptistère de la basilique Saint-Marc de Venise – que dans les enluminures. La représentation de Zacharie privé de parole par l’ange, qui est plus une privation de la nature prophétique de la parole qu’un silence sensoriel selon l’auteur, ouvre une réflexion sur le silence rituel. La liturgie romaine d’aujourd’hui laisse moins de place au silence qu’au Moyen Âge, où il était une condition nécessaire à la célébration efficace de l’eucharistie. Le silence liturgique donne lieu à de multiples représentations : les apôtres faisant silence pour louer Dieu dans leur cœur en sont une manifestation aussi frappante que la représentation du roi David silencieux face au diable. Silence de protection de soi vis-à-vis du péché, silence de respect et d’humilité, silence de prière et de disponibilité à Dieu, ce silence du rite se superpose aux signes sonores de la messe comme les paroles du prêtre et les tintements des cloches. Il est une performance singulière et quiète de la voix placée au centre de l’expérience spirituelle médiévale. Ce silence contraint de la liturgie devient par ailleurs silence de plénitude au moment de communier : « la bouche, organe de la voix, est remplie de l’image du Christ, empêchée de parler par la réalité matérielle du mystère » (pp.204-205). Après ce rapprochement du silence du cœur et du silence des lèvres, Vincent Debiais poursuit la combinaison des sens en liant le silence à la vue. Les récits de vision béatifique de Dieu (visio Dei), genre littéraire florissant dès le XIIIe siècle, mettent en avant une expérience éminemment visuelle indissociable d’un silence complet du corps. Nombreuses sont les enluminures et sculptures qui donnent à voir la stupor admirationis ressentie lors de la théophanie, particulièrement lors de l’Apocalypse. C’est ainsi que l’Apocalypse Getty (Los Angeles, Getty Museum, ms. Ludwig III 1) montre Jean contemplant le silence : c’est, pour V. Debiais, un « basculement sensoriel » et une « mise en voir du silence » (p.221). Ces représentations remarquables finissent par amener l’auteur à un développement sur l’angéologie médiévale. L’ange était en effet supposé savoir ce qui n’est pas dit et évaluer la qualité du silence, de même qu’il était tout à la fois doté d’une voix compréhensible en s’adressant aux hommes et inaudible face à Dieu. Il est la présence de la louange, parole silencieuse et silence de lumière. Jusqu’à l’extrême fin du Moyen Âge, jusque dans les fresques florentines de Fra Angelico, les paroles et les silences emplis de l’Esprit-Saint sont représentés par la lumière – là où le noir et le mauve qui envahissent la toile ou le mur sont silence de mort.
Face à l’image
Au terme de notre promenade silencieuse, que retenir ? Comment comprendre le silence sans le forcer à parler ? Pour Vincent Debiais, l’étude du silence médiéval échappe à toute approche iconographique car il ne peut se plier à une traduction signe-à-terme. Les silences de l’art sont trop variés et leurs artistes trop différents. Le silence médiéval, qui n’est en aucun cas absence de bruit, est toujours une évocation, une présence contenue dans l’image qu’il faut sans cesse traquer – sans la provoquer. Ce silence de l’art médiéval, chrétien et religieux, qui ne prend pas en compte les silences qui peuplent les sources littéraires et judiciaires, est finalement à lui seul un discours qu’il appartient à l’observateur d’aujourd’hui de retrouver. Le livre généreux et éclairant de Vincent Debiais nous donne les clés pour le faire. S’il s’adresse pour l’essentiel à un public averti et ne pourra guère convenir à un lectorat trop jeune, il ravira à coup sûr les enseignants et les étudiants qui sauront en tirer une culture plus solide et, sans doute, un regard plus acéré.
Loïc Pierrot – Élève à l’École nationale des Chartes, étudiant à l’École normale supérieure de Paris.
[IF]Arqueologia – FUNARI (VH)
FUNARI, Pedro Paulo. Arqueologia. São Paulo: Contexto, 2010, 125p. ALMEIDA, Fábio Py Murta de. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 47, Jan./ Jun. 2012.
O livro Arqueologia, do professor doutor Pedro Paulo Funari, livre docente de História da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), é uma composição ímpar, indicado especialmente aos cursos introdutórios de História, Arqueologia e de História da Literatura do Antigo Oriente Próximo. Seu texto tem forma agradável e objetiva; mérito do autor, fruto dos anos de atividade profissional e dedicação ao estudo arqueológico. Assim, pela larga experiência na temática, Pedro Funari busca objetivamente apresentar a Arqueologia tendo em vista o ramo da história cultural, isso com uma linguagem fácil e direta; aponta logo no início da obra que a arqueologia não se compreende apenas pelas descobertas das figuras e das imagens, mas institui-se num campo muito reflexivo, envolvendo tanto a leitura, quanto a prática nos sítios arqueológicos.
Olhando mais detidamente sua obra, Pedro Funari começa informando basicamente o “estado da questão” da ciência arqueológica, definindo seu objeto de estudo e a evolução do pensamento. Para ele, a arqueologia consiste nos conhecimentos dos primórdios, dos relatos das coisas antigas. Só mais recentemente, por conta do campo de atuação e de envolvimento (diálogo) com ciências sociais, é que a arqueologia vem se traçando de forma interdisciplinar. Com ela, não se visa revelar apenas o sentido das coisas e dos artefatos desenterrados, mas configurar que os “ecofatos e biofatos são vestígios do meio ambiente e restos dos animais que passaram sobre apropriação do ser humano”, o que retira a limitação do estudo arqueológico apenas ao passado, mas, também, liga-o ao presente, como o é na arqueologia industrial. Mesmo assim, pensando especificamente na idealização do passado, indica-se que esse pensamento é metodologicamente pautado nas etapas arqueológicas, sempre olhando dados e artefatos. Materiais entre os quais podem ser vistos indicativos das relações sociais que foram produzidos, uma vez que atuam como mediadores das atividades humanas, determinando estereótipos e comportamentos de uma sociedade. Para a atividade é fundamental entender que a partir da “reintegração dos artefatos a um contexto cultural como o nosso e em um invólucro da relação de poder que o artefato produz, o mesmo adquire importância crucial”, portanto, o arqueólogo tem que inserir tais objetos no interior das relações sociais em que foram produzidos, fazendo-os exercer novas funções de mediações. Portanto, é dentro da cultura,1 como desenvolvimento e criação humana, que o objeto transforma-se em artefato, recebendo uma formulação junto à humanidade.
Outro nicho de saberes destacado pelo autor são as formas de pesquisa na arqueologia: indicando um “complexo de técnicas utilizadas pelo arqueólogo, formulações não neutras, que se inserem num complexo de questões metodológicas que derivam das políticas do arqueólogo”. Técnicas, por exemplo, como o desenterramento e a escavação estratificada. Elas teriam evoluído ao longo do tempo dividindo-se em três importantes fases: a primeira, a preocupação com a superposição de níveis de ocupação e com datação relativa aos artefatos; a segunda, com o estudo e registro dos estratos; e a terceira, com a escavação de amplas superfícies, preocupada com o estudo do funcionamento da sociedade que ali viveu. Infelizmente, no Brasil, inicialmente, houve uma “desvalorização do contexto histórico devido às grandes importações de técnicas e ideologias (no caso, arqueológicas), advindas da Europa, ou seja, a valorização de um passado externo ocasionou a desvalorização da memória nativa (indígena)”. Ainda sim, apesar do desenvolvimento exemplar que a arqueologia vem tendo no Brasil, ela está longe de ser valorizada. Percebe-se que recentemente está ocorrendo uma grande reviravolta na pesquisa brasileira e internacional, trazendo um diálogo entre a arqueologia brasileira e a mundial, o que dinamiza o estudo nacional. No detalhe da relação entre a arqueologia e as outras áreas do conhecimento, Pedro Funari mostra que essa ciência não pode ser desarticulada das outras disciplinas. Deve estar relacionada com as demais ciências (como a história, a antropologia, a biologia, a geografia, a física, a arte, a arquitetura, a filosofia, a linguística e a museologia), pois elas são e foram fundamentais para sua evolução, como já indicamos.
No fim, a obra Pedro Funari faz uma explanação e um convite ao aprendizado arqueológico no Brasil. Indica, antes de qualquer coisa, que o arqueólogo deve ter o compromisso com a burocracia regional e responsabilidade social. Também, aponta que deve haver respeito para com a sociedade no todo, desde grupos majoritários até os minoritários. Para ele, a arqueologia é uma ação política2 que, por isso, tem algumas dificuldades de inserção no Brasil, até mesmo por que, como profissão, tem um difícil reconhecimento por não haver uma graduação específica na área. Mesmo assim, existe pós-graduação nessa área de atividade profissional, e pode-se atuar como professor, pois em museus, laboratórios, arqueologia (setor burocrático) de contrato, como maneira de proteger o patrimônio arqueológico, e na gestão turística do patrimônio arqueológico brasileiro. Enfim, algumas áreas podem servir como convite ao estudo e trabalho arqueológico. Merece destaque a gama de projetos e novos horizontes arqueológicos, pois nosso território é um vasto campo de pesquisa sobre as comunidades que aqui habitaram no passado.
Por fim, com vasto conhecimento acerca da ciência arqueológica, não só no Brasil, mas também, em outros países em que realiza suas pesquisas, Pedro Paulo Funari expõe de maneira singular, sucinta e principalmente realista uma ampla visão acerca da arqueologia e do seu desenvolvimento ao longo dos últimos séculos. Sobre a abordagem dos conceitos e objetos de estudos, o livro Arqueologia pode ser encarado como um belo convite ao seu estudo como disciplina acadêmica. Caso os leitores queiram aprofundar os apontamentos apresentados pelo autor, vale a pena à consulta de obras, como, por exemplo, a História do pensamento arqueológico de Bruce G. Trigger3 e algumas obras da vasta bibliografia do professor Pedro Funari.4 Ao fim da resenha, destacamos a admiração pelo esforço do autor que, mesmo em um texto relativamente pequeno, consegue ter riqueza de detalhes e não deixa de enaltecer as questões histórico-metodológicas da disciplina. Por isso, pensamos que cumpriu o objetivo de explorar de forma suscita questões que vem levantado a arqueologia nos últimos anos, bem como exauriu o intento de introduzir suas questões de forma geral. Assim, em termos de historiografia, o autor faz uma aproximação da disciplina de arqueologia junto a um ramo da história, a luz dos termos e conceitos reconhecidos na história cultural. Propriamente, aproxima a variante da nova história cultural, principalmente a estilizada por Roger Chartier, com as questões que vêm levantado os embates da cultura material escavada como as: representações, poder e práticas culturais – ajudando no diálogo história e arqueologia sobre o prisma do conceito simbólico de cultura de Clifford Geertz e de Marshall Sahlins.5 Agora, pensando mais longe, é urgente que as editoras se preocupem em produzir livros desse tipo, sendo relevantes ao nicho dos alunos e aos cursos introdutórios de nível superior. Assim, fica aqui o apelo para a produção de livros e materiais que sejam sucintos e que possam da melhor forma introduzir o estudo dos discentes às cadeiras acadêmico-científicas.
1 A noção de cultura utilizada pelo autor é ligada á história cultural, vista em FUNARI, Pedro Paulo A. e PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. Patrimônio histórico e cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. Quando Pedro Funari utiliza da contribuição decisiva de Roger Chartier, autor que aponta a história cultural relacionada com a “noção de ‘representação’ e de ‘práticas’ (…) tanto os objetos culturais seriam produzidos ‘entre as práticas e representações’, como os sujeitos produtores e receptores da cultura circulariam entre esses dois pólos, que de certo modo corresponderiam respectivamente aos ‘modos de fazer’ e aos ‘modos de ver'”, como cita BARROS, José D’Assunção. O campo da história: especialidades e abordagens. Petrópolis: Vozes, 2004, p.76.
2 Sobre ação política e seu destaque dentro da história política, vide a descrição de Marieta de Moraes Ferreira quando comenta a obra de René Rémond: “Nova História Política (…) ao se ocupar do estudo e da participação na vida política (…) integra todos os atores, mesmo os mais modestos, perdendo assim o caráter elitista e individualista e elegendo as massas como seu objeto central”, RÉMOND, René. Por uma história política.Rio de Janeiro: FGV, 2003, p.7. Assim, a ação política permeia o respeito aos atores sociais de diferentes grupos ligados as redes de poder que constituem a sociedade.
3 TRIGGER, Bruce G., História do pensamento arqueológico. Tradução de Ordep Trindade Serra. São Paulo: Odysses Editora, 2004.
4 Citamos aqui, por exemplo, as duas obras: FUNARI, Pedro Paulo A. Arqueologia e patrimônio, Erechim: Habilis, 2007; e FUNARI, Pedro Paulo A. (org.). Cultura material e arqueologia histórica. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1999.
5 Assim para Clifford Geertz e Marshall Sahlins o conceito de cultura pode ser definido como um conjunto de sistemas de signos e significados constituídos pelos grupos sociais. Portanto, para interpretar as culturas, no caso do antropólogo Clifford Geertz significa interpretar: símbolos, mitos, ritos. Agora, partindo de Clifford Geertz, Marshall Sahlins defende que os grupos de uma cultura também “representam” suas interpretações do passado no presente. Vide para isso, GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978; e SAHLINS, Marshall. Ilhas de história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
Fábio Py Murta de Almeida – Historiador e mestre em Ciências da Religião pela UMESP. Professor de História da Faculdade Batista do Rio de Janeiro (FABAT) e pesquisador do grupo de Arqueologia do Mundo Bíblico ligado a UMESP Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Rua Jose Higino 416, Tijuca, Rio de Janeiro. CEP: 20510-412. pymurta@gmail.com.
História Agrária: conflitos e resistências (do Império à Nova República) | Dayane Nascimento Sobreira e Júlio Ernesto Souza Oliveira e Rafael Sancho Carvalho Silva
Obra organizada por Dayane Nascimento Sobreira, Júlio Ernesto Souza Oliveira e Rafael Sancho Carvalho Silva, o livro História Agrária: conflitos e resistências (do Império à Nova República) apresenta as recentes discussões realizadas na I Jornada de História Agrária: Conflitos e Resistências na Construção da Nação, evento que ocorreu na Universidade Federal da Bahia (UFBA) entre os dias 10 e 11 de 2019. O colóquio foi organizado pela equipe do GT História Agrária da Bahia (HISTAGRO).
Analisando processos históricos de luta pela terra, partindo da ruralidade como eixo de análise, o livro se propõe a discutir a História do Brasil através de dimensões de violência e resistência que são constitutivas dos conflitos agrários, observando tais conflitos em suas múltiplas especificidades nos períodos imperial e republicano brasileiro. Dividida em quatro partes, a obra aborda a História Agrária como um campo plural em suas possibilidades de estudo e pesquisa. Os textos discutem a História Agrária a partir de relações fundiárias, étnico-raciais, de gênero e de trabalho, com reflexões teórico-metodológicas que contribuem para o campo da História Agrária e Rural da Bahia. Leia Mais
Brasil caníbal. Entre la Bossa Nova y la extrema derecha | Florencia Garramuño
Durante las últimas dos décadas, la historia política brasileña ha adquirido un creciente interés en las ciencias sociales y políticas en Argentina, tal vez como una forma elíptica para comprender las vicisitudes locales, bajo el candil de un país en creciente expansión y resonancia internacional desde la llegada del gobierno del Partido de los Trabajadores y la figura de Lula da Silva a la presidencia1 . La vocación por poner en palabras castellanas los avatares lusitanos del vecino país, llevaron inclusive a que se produjera un enorme acervo de traducciones de obras brasileñas, bajo el intento de ofrecer retazos para construir una biografía ordenada o un “caminho das pedras”2 que permita transitar la multiplicidad que encierra aquel país. En este marco, la aparición del libro de Florencia Garramuño, Brasil caníbal…, es un intento acertado por ofrecer parajes o destinos donde anclar en este archipiélago diverso y complejo de la historia brasileña del siglo XX y XXI, más que brindar una brújula para un tránsito apolíneo que clausure los sentidos o desoiga los cantos de sirena que trasuntan por la Odisea brasileña.
En esta publicación se entremezclan aproximaciones desde los estudios culturales y la literatura, la historiografía sobre el pasado reciente y la sociología, las observaciones participantes y la perplejidad de la experiencia en primera persona. Sin embargo, claramente estás observaciones están escritas a caballo de un presente que la inquieta por la radicalización y la llegada de un gobierno post autoritario de Jair Bolsonaro por un lado, y la proliferación de aristas que la han llevado a enamorarse de Brasil como un enigma, por el otro. Escrito con una pluma liviana, voraz, seductora y profusa, ofrece un derrotero panorámico, complejo y ligero sobre el devenir de ese país desde su configuración identitaria como Estado nación hasta su perplejidad actual como sociedad en crisis. Leia Mais
Uma ecologia política dos riscos: princípios para integrarmos o local e o global na promoção da saúde e da justiça ambiental – PORTO (TES)
PORTO, Marcelo Firpo de Souza. Uma ecologia política dos riscos: princípios para integrarmos o local e o global na promoção da saúde e da justiça ambiental. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, 2. ed., 270 p. Resenha de: MIRANDA, Ary Carvalho de; TAMBELLINI, Anamaria Testa. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.12, n.1, jan./abr. 2014.
A abordagem de Marcelo Firpo de Souza Porto, em Uma ecologia política dos riscos…, traz uma contribuição valorosa ao debate, não só acadêmico, mas do conjunto da sociedade, sobre os riscos à saúde humana e ao ambiente a que estamos submetidos, decorrentes do modelo de desenvolvimento socioeconômico em curso. A partir da identificação dos conflitos socio-ambientais, fundamenta, com a complexidade conceitual que este campo de conhecimento e- prática exige, o escopo metodológico de abordagem de riscos ambientais e ocupacionais, não só fazendo a crítica aos modelos reducionistas utilizados, mas também apontando para caminhos que nos permita um desenvolvimento que tenha como preocupação fundamental a condição humana.
A compreensão sobre Vulnerabilidade Social é colocada no centro deste estudo como fio condutor da construção metodológica sobre os riscos, numa perspectiva integradora de diversos campos de conhecimentos, incluindo aqueles oriundos de fora do meio acadêmico. Deste modo, a sabedoria que provém da experiência das pessoas atingidas pelos problemas estudados se constitui também num pilar fundamental na construção do conhecimento necessário aos seus enfrentamentos. Unificando a ciência acadêmica com o conhecimento advindo de fora dela, no exercício da transdisciplinaridade, o autor nos apresenta caminhos mais consistentes aos desafios dos riscos em contexto no qual as complexidades tecnológicas de sistemas e produtos consumidos pela sociedade já não permite conferir à Ciência Normal e ao Estado a exclusividade de seus enfrentamentos. Os vários exemplos de acidentes ampliados, decorrentes de tecnologias complexas, como as tragédias de Chernobyl e Bhopal, apenas para citar dois acidentes que ganharam enorme notoriedade, pela gravidade e extensão, atestam esta realidade.
É preciso, portanto, desnaturalizar e contextualizar o risco, com base em uma visão crítica às concepções tecnicistas que sistematicamente desconsideram as populações afetadas, sobretudo as mais vulneráveis. Tal contextualização permitirá também estabelecer conexões entre os fenômenos locais e aqueles de natureza mais global, conferindo à análise das situações concretas de riscos a capacidade de articulá-los aos modelos socioeconômicos que imperam no mundo globalizado em que vivemos. Esta opção, particularmente, destaca o autor, “não é apenas uma técnica didática para facilitar a vida do leitor”, mas tem sua origem numa concepção teórico-filosófica que faz parte dos vários conflitos que marcam a crise da chamada Ciência Normal, tal como formulada por Thomas Kuhn, em A estrutura das revoluções científicas. Trata-se, então, de uma cosmologia que coloca o universo epistemológico necessariamente mediado pela ética, sem a “neutralidade” propagada pela ciência moderna e que supera a dicotomia entre o pesquisador e seu objeto de estudo. É uma abordagem metodológica que permite que o conhecimento gerado para construção de soluções concretas, diante dos riscos a que estamos submetidos, possa ser apropriado pelo conjunto da sociedade, proporcionando soluções compartilhadas, fazendo da ciência um componente importante na tomada de consciência social e adoção de medidas que possam pavimentar não a sustentabilidade do modelo vigente, mas uma sociedade sustentável.
Tendo tais princípios como referência às abordagens metodológicas para prevenção de riscos ambientais e ocupacionais em suas complexidades, o autor destaca que não existem respostas fáceis nem exclusivas. O desafio deve incorporar, de forma integrada, conceitos provenientes de diversos campos de conhecimento, tais como a saúde coletiva, as ciências sociais, as ciências ambientais, a ecologia política e a economia ecológica. Com esse pressuposto, estrutura o trabalho em cinco capítulos, traçando um recorrido que começa apresentando os referenciais empíricos e teóricos, ponto de partida fundamental aos estudos de riscos. Já neste momento está destacada a incorporação das dimensões éticas e sociais inerentes à sua abordagem, sustentando a necessidade de superação dos limites reducionistas para compreensão dos territórios. Tal superação será buscada nos postulados de Milton Santos sobre o território, ou seja, é um lugar de projetos e disputas, de onde emergem, ademais, questões sociais, ambientais e de saúde. É nos territórios onde a vida se constrói, expressando as contradições de uma sociedade estratificada econômica e socialmente. Esta estratificação gera contextos diferenciados, tornando inadequada a generalização de modelos científicos na análise, controle e prevenção de riscos. Nessa diferenciação se expressa a vulnerabilidade de grupos sociais, reveladora da lógica de modelos de desenvolvimentos que se dão em nome do crescimento produtivo, que concentra poder e riqueza ao mesmo tempo que gera exclusão social e pobreza. É nesse cenário que o autor traz o conceito de ‘vulnerabilidade’ como elemento central para o desenvolvimento de análises integradas e contextualizadas dos riscos. A partir deste conceito, destaca suas diversas dimensões, prioriza a Vulnerabilidade Social como componente fundamental do pro- cesso analítico, articula o local e o global, revela as limitações da Ciência Normal e assume uma nova base epistemológica: as concepções da Ciência Pós-normal, tal como formulada por Funtowics e Ravetz.
Deste modo, as respostas sociais tornam-se componente de destaque na perspectiva de enfrentamento dos riscos socioambientais. O autor enfatiza, então, a importância do Movimento pela Justiça Ambiental e as ações solidárias em rede, como manifestações dos movimentos sociais voltadas para a transformação da realidade e destaca o princípio da precaução, colocando-o como desafio civilizatório no enfrentamento das incertezas decorrentes da complexidade tecnológica, que cada vez mais é incorporada à vida social. Nesta dimensão, a incerteza passa a assumir condição de destaque nas avaliações de risco. E são vários os tipos de incertezas assignados. Vão da incerteza técnica, relacionada, por exemplo, à qualidade de bases de dados utilizados para a formulação de cálculos, passando pela incerteza metodológica, expressa na margem de valores relacionados a intervalos de confiança, chegando à incerteza epistemológica, esta a mais grave, pois, conforme assinalado no livro, expressa uma “lacuna estrutural entre o conhecimento disponível e a capacidade de analisar e realizar previsões acerca do problema analisado”.
Para melhor precisar o referencial conceitual analítico na análise dos riscos, ou seja, a Vulnerabilidade, e, apoiado nos marcos da epistemologia ambiental da ciência Pós-normal, o trabalho destaca que a Vulnerabilidade é um conceito polissêmico, utilizado em diversos campos de conhecimentos e, portanto, em diversas situações. No mundo fisicalista, analisado pela física, química e as engenharias, a Vulnerabilidade está relacionada a máquinas, instalações e processos produtivos possíveis de acidentes e falhas. Trata-se de uma abordagem funcionalista, cujo universo considera apenas a perda de função do sistema técnico. A ergonomia francesa do pós II Guerra dá uma passo adiante com relação a esta abordagem reducionista, ao transformar sistemas técnicos em sociotécnicos, relacionando, assim, a confiabilidade técnica à humana.
No mundo da vida, analisado pelas ciências biológicas e biomédicas, a Vulnerabilidade é um conceito relacionado aos sistemas complexos dos seres vivos, envolvendo organismos e ecossistemas. No universo da biologia e da ecologia, é considerada como perda de vigor, incapacidade adaptativa ou descontinuidade de espécies ou ecossistemas. Na biomedicina, a noção de vulnerabilidade está referida à existência de indivíduos ou grupos sociais suscetíveis com predisposição para contração de doenças diante de situações de risco. Ao desconsiderar as dimensões sociopolíticas, econômicas, culturais e psicológicas, na análise das situações de saúde, este paradigma reduz a vida a sua dimensão biológica ou genética, cujo exemplo histórico ficou cunhado na difusão da eugenia aplicada pelos nazistas para produzir, com base na seleção humana sustentada pela genética, a superioridade de certas ‘raças’.
Na perspectiva de superação do reducionismo do paradigma biomédico, o campo da saúde pública passa a incorporar elementos sociais, culturais e econômicos na análise de situações de riscos a determinadas doenças. Será, então, no mundo do humano que a noção de Vulnerabilidade ganha sua dimensão mais complexa, estando relacionada a sistemas sociais, sociotécnicos e de relações de poder. Tem, então, como campos de conhecimento as ciências sociais e humanas, assim como a filosofia, exigindo que questões de natureza ética e moral sejam incorporadas às suas análises. Visto sob esta perspectiva, o estudo destaca a natureza humana e social da Vulnerabilidade, valorizando os processos históricos no condicionamento dos riscos gerados pelos modelos de desenvolvimento econômico e tecnológico. Trata-se, então, de considerar Contextos Vulneráveis. Nesses contextos, o conceito de Vulnerabilidade Social protagoniza-se e está tipificado em dois componentes: o das populações vulneráveis, aquelas mais atingidas em situações de injustiça ambiental, e aquele relacionado ao Estado e à sociedade civil.
O primeiro componente, chamado de ‘Vulnerabilidade Populacional’, corresponde a grupos sociais submetidos a determinados riscos, decorrentes de maior carga de danos ambientais que incidem em populações de baixa renda, grupos sociais discriminados, grupos étnicos tradicionais, bairros operários e populações marginalizadas em geral. Expressam-se, por exemplo, através de discriminação social e racial, que se concretizam por desigualdades no acesso à renda, educação, moradia, proteção social, atenção- à saúde, assim como em precárias relações de trabalho. São grupos sociais muitas vezes ‘invisíveis’, com baixa capacidade de organização e influência nos poderes decisórios, situação que contribui, também, para a invisibilidade dos riscos a que estão submetidos, tornando-os ainda mais vulneráveis.
O segundo componente, a Vulnerabilidade Institucional, relaciona-se ao papel do Estado, envolvendo capacidade institucional (incluindo recursos técnicos e humanos), assim como as políticas econômicas, tecnológicas e arcabouço jurídico. Resulta de relações complexas de alcance internacional, nacional e local, expressando contradições e disputa de interesses decorrentes do antagonismo de classes. No escopo deste componente da Vulnerabilidade Social, o autor destaca o fenômeno da globalização atual que procura impor a quebra de barreiras de proteção aos Estados nacionais, fazendo fluir fluxos financeiros internacionais, cuja dinâmica pode produzir colapsos em economias nacionais, com importantes impactos sociais.
Por fim, são expressos 11 princípios norteadores da proposta de análise integrada e contextualizada de riscos em situações de vulnerabilidade e injustiça ambiental, no sentido de proporcionar uma visão abrangente dos problemas ambientais e ocupacionais, em situações de importantes desigualdades sociais, como é caso da realidade brasileira. Englobam a ecologia política dos riscos; a visão ecossocial da saúde humana; os aspectos multidimensionais e cíclicos dos riscos; as relações entre os níveis local e global; a necessidade de integração de conhecimentos e práticas; o agravamento dos ciclos do perigo em contextos vulneráveis; as singularidades de contextos onde os riscos ocorrem; a importância do conhecimento local e das metodologias participativas nas abordagens analíticas dos riscos; as incertezas inerentes a situações de risco; a importância da prevenção, precaução e promoção e o destaque às articulações dos movimentos sociais no enfrentamento das ameaças. São, em verdade, 11 pilares sobre os quais a análise integradora de situação de risco é sustentada com maior firmeza metodológica.
Toda esta construção metodológica traz consigo a busca de uma “ciência sensível” superando as dicotomias estabelecidas entre o técnico, o humano e o social, incrustadas nos discursos e práticas reducionistas da ‘ciência normal’. Com esta superação articula técnicos, cientistas, trabalhadores e cidadãos em geral na defesa da vida e da democracia. Enfim, é um trabalho solidário, justo e de grande densidade intelectual, refletindo a possibilidade concreta de encontros produtivos da ciência com os afetos.
Ary Carvalho de Miranda – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. E-mail: ary@fiocruz.br
Anamaria Testa Tambellini – Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: anatambellini@gmail.com
[MLPDB]A pesquisa histórica em trabalho e educação – CIAVATTA; REIS (TES)
CIAVATTA, Maria; REIS, Ronaldo Rosas (Orgs.). A pesquisa histórica em trabalho e educação. Brasília: Liber Livro Editora, 2010, 200 p. Resenha de: DAMASCENO, Rosangela Aquino da Rosa. Revista Trabalho, Educação e Saúde, v.12, n.1, Rio de Janeiro, jan./abr. 2014.
A coletânea dos organizadores Maria Ciavatta e Ronaldo Rosas Reis apresenta estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do Programa de Cooperação Acadêmica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Procad/Capes) que resultam de cinco pesquisas, duas teses e uma dissertação. Estruturado em duas partes – a primeira, “Trabalho e educação: interfaces com a história e a arte”, e a segunda, “Trabalho e educação: a indústria, seus processos e ideologias” -, o livro é permeado de registros sobre a produção da existência humana, mais especificamente no que tange à pesquisa histórica em trabalho-educação.
Conduzindo o olhar para os centros de memória, observa-se que eles se constituem para a preservação das múltiplas memórias e integram um espaço estimulador de reflexão do fazer histórico dos vários segmentos sociais. Em um entendimento mais aprofundado de cidadania, a memória torna-se processo de construção da identidade, porque contribui para a formação cultural, compreensão do real e análises da evolução de lutas sociais que se desenvolvem no tempo e no espaço.
A pesquisa “Arquivos da memória do trabalho e da educação: centros de memória e formação integrada para não apagar o futuro”, de Maria Ciavatta, expressa os resultados de uma pesquisa mais ampla, da qual foram selecionados os seguintes recortes: a historicidade do conceito de formação integrada nos debates político-pedagógicos; arquivos escolares e centros de memória sobre a escola e o trabalho; a memória fotográfica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis, unidade Rio de Janeiro (Cefetq), e o Centro de Memória do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (Cefet/RJ). Partindo dessas abordagens, a autora situa a história em sua relação espaço-tempo e defende a importância do registro na construção da identidade de grupos sociais. A questão da relação trabalho-educação é dissecada no espaço das escolas de ensino médio-técnico de forma contextualizada, com a proposta, sobretudo, de discussão e reflexão sobre o tema da formação integrada. Assim, a escola, em toda a sua complexidade, cenário de lutas ideológicas, se inscreve com todas as suas tensões e mediações como ‘lugar de memória’.
Nesse contexto, a falta de políticas e fomento para criação de espaços destinados à guarda de acervo e à preservação do patrimônio colabora de forma ostensiva para os apagamentos da memória institucional, o que o texto em diversos momentos flagra. O estudo aponta ainda a memória do trabalho e da educação como um tema pouco explorado. Ressalta também a pesquisa à luz das fotografias, realizada nos centros de memória do Cefetq e do Cefet/RJ, como uma fonte de pesquisa social que precisa constituir-se num movimento de intertextualidade com outras fontes. Em suas considerações finais, alerta: “o primeiro pressuposto da formação integrada é a existência de um projeto de sociedade” – e defende o centro de memória “como elemento aglutinador, gerador de coesão social”.
Ainda na primeira parte do livro, Jorge Gregório da Silva apresenta o artigo “A reconstrução dos caminhos da educação profissional em Manaus (1856-1877): refletindo sobre a criação da Casa dos Educandos Artífices”, no qual, sob a lente do materialismo histórico, busca desvelar as categorias recorrentes no discurso sobre trabalho e educação em Manaus. Partindo de um levantamento baseado em uma pesquisa documental e uma pesquisa bibliográfica, revela que a Casa dos Educandos Artífices alicerçou sua proposta pedagógica em um detalhado plano de organização didática e administrativa da educação escolar. Para esta publicação, o autor dividiu seu estudo em três seções: trabalho e capital: antecedentes históricos do projeto de educação profissional em Manaus; a criação da Casa dos Educandos Artífices de Manaus; os efeitos das categorias de análise no processo histórico de construção da educação profissional em Manaus (1856-1877). As reflexões sobre estas questões, notadamente, mobilizam uma argumentação que se alimenta no protagonismo do ideário marxista.
No artigo “Trabalho, arte e educação no Brasil – notas de pesquisa: sobre a dualidade no ensino de arte”, Ronaldo Rosas Reis coaduna as interfaces da arte com a história. Ao apresentar o contexto do trabalho desenvolvido, ressalta que há alguns anos pesquisa as relações sociais entre produção artística e o ensino de arte no Brasil. De forma analítica, introduz três notas sobre as investigações: nota explicativa, sobre o sistema de belas-artes; nota 1, sobre a Escola de Arte e de Ofícios numa sociedade ‘modernizada’; nota 2, sobre a arte no modernismo; e nota conclusiva, a razão dualista, a arte e o ensino artístico. O resultado, uma fecunda obra com significativa contribuição para os estudos sobre educação e arte e trabalho-educação, descortina oportunidades para outros estudos e mediações sobre o tema.
Encerrando a primeira parte do livro, Maria Inês do Rego Monteiro Bonfim apresenta o artigo “Trabalho docente na escola pública brasileira: as finalidades humanas em risco”, organizado em duas seções: o capitalismo e as especificidades do trabalho de ensinar; e o Estado brasileiro e o enfraquecimento do trabalhador docente. Com ênfase, defende a ideia de que o trabalho docente é determinado historicamente pelo modo de produção capitalista e denuncia, de forma contundente, a expropriação do trabalhador docente ante a dominação e o controle hegemônico, reiterando a importância de se pensar o trabalho docente da escola pública em sua articulação com a dinâmica social no capitalismo da atualidade.
A segunda parte do livro é protagonizada pela relação trabalho-educação, em temas ligados à indústria, seus processos e ideologias. Abre a cena o trabalho de Arminda Rachel Botelho Mourão, comprometido em subsidiar estudos que trazem para discussão a universidade tecnológica no contexto das políticas de ciência e tecnologia. Assim, “Tecnologia: um conceito construído historicamente”, estudo indispensável por seu caráter de atualidade e relevância do tema, é explicitado nas seções: a técnica: diferentes concepções (a técnica como instrumento de uso; a técnica como entidade autônoma; e a técnica como produto histórico); discutindo a tecnologia; e a construção de uma nova visão tecnológica.
O trabalho de Eliseu Vieira Moreira, “A teoria da qualidade total como política educacional do capitalismo”, está estruturado didaticamente em duas partes. A primeira – a teoria da qualidade total: um novo simulacro transplantado para a educação básica – busca “entender que a materialidade histórica da transplantação ideológica da qualidade total, do campo empresarial para o campo educacional, se deu em quatro focos diferentes”. A segunda – a qualidade como categoria de controle da educação – mostra as políticas implementadas pelo Banco Mundial e outros organismos, visando ao ajuste estrutural e sua manipulação nas relações de trabalho. Contrapondo-se à teoria da qualidade total, um projeto integralmente baseado na lógica do ideário neoliberal, o autor defende a ideia de uma qualidade na qual esteja inserida a qualidade de vida. Aportado em suas reflexões, filia-se claramente ao embate teórico, colocando-se frontalmente contra a transplantação da teoria da qualidade total no campo produtivo-empresarial para o campo das políticas educacionais. A pesquisa instiga a reflexão e a necessidade de se pensarem formas de intervenção e resistência ao modelo perverso e excludente ditado pelo ideário neoliberal.
Em “Crescimento econômico do capital, emprego e qualificação profissional no Amazonas”, Selma Suely Baçal de Oliveira debruça-se sobre a questão do desemprego, analisando as modificações impostas pelos atuais padrões do processo produtivo – competitividade e maior acumulação – presentes no conflito histórico entre capital e trabalho. O contexto da investigação desmembra-se nos temas metodologia e procedimentos; o debate teórico; o movimento do emprego/desemprego no estado do Amazonas no início do século XXI; e a indústria eletroeletrônica no Brasil e o contexto manauara. Com atenção aos processos metodológicos da pesquisa, promove um detalhado levantamento no qual analisa os indicadores de emprego e desemprego na Zona Franca de Manaus, no período de 2000 a 2003, com trabalhadores da categoria de eletroeletrônicos. Sua abordagem contempla a reflexão sobre as relações de trabalho e o contexto atual da disputa trabalho-capital. Alerta ainda para significativas mudanças no ‘mundo do trabalho’, em que destaco: a forte entrada do capital estrangeiro, o avanço tecnológico (automação da produção) e as perdas dos direitos sociais de cidadania conquistados pelo conjunto dos trabalhadores, cidadania essa preconizada pelo Estado em suas reformas.
A segunda parte do livro encerra-se com “Educação corporativa na indústria naval”, artigo de Antonio Fernando Vieira Ney. Notável por suas contribuições ao debate sobre educação corporativa, revela a manobra do capital para formar mão de obra do seu interesse. Para tal, lança seu olhar sobre a indústria naval e sobre como ocorre a divisão do trabalho nos estaleiros. Desdobra suas análises em questões como a conceituação de educação corporativa; a constituição da educação corporativa; as considerações sobre o trabalhador da indústria naval e a aplicação do tecnólogo na indústria naval. O autor elabora seu estudo com expressiva contribuição para pesquisadores da área trabalho-educação, trazendo à luz elementos que podem auxiliar na compreensão do interesse do capital em assumir a responsabilidade de formação profissional, abrindo um campo de possíveis reflexões e ações no espaço político.
Por fim, cabe o registro da percepção de uma costura ideológica e uma linha discursiva contra-hegemônica permeando as produções dos autores.
Rosangela Aquino da Rosa Damasceno – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: rosangela.rosa@ifrj.edu.br
[MLPDB]Amazonia 1900-1940. El conflito, la guerra y la invención de la frontera | Carlos Gilberto Zárate Botía
O tema das fronteiras amazônicas, seja em sua concepção de linhas demarcatórias de territórios nacionais, seja como zonas de múltiplas interações envolvendo diferentes sujeitos, impõe desafios significativos à pesquisa histórica. Primeiramente, trata-se de um espaço que, a despeito de sua vastidão geográfica, nem sempre recebeu a devida atenção no conjunto das historiografias sul-americanas. Em segundo lugar, a investigação sobre as fronteiras amazônicas requer o cruzamento de fontes procedentes de arquivos espalhados nos países da Pan-Amazônia (e, por vezes, em outros continentes) e o cotejamento de bibliografias de diferentes nacionalidades, que frequentemente apresentam linhas de interpretação francamente antagônicas.
O livro Amazonia 1900-1940, do historiador e cientista social colombiano Carlos Gilberto Zárate Botía, representa justamente uma contribuição que supera esses desafios ao revisitar o tema dos conflitos peruano-colombianos na definição dos limites amazônicos entre os dois países. O autor é professor da Universidad Nacional de Colombia– Sede Amazônica (Letícia), com destacada atuação no Grupo de Estudios Transfronterizos, vinculado ao Instituto Amazónico de Investiagaciones (IMANI). Carlos Zárate é um dos mais importantes cientistas sociais que se dedicam ao estudo das fronteiras amazônicas e, em sua vasta obra, o enfoque interdisciplinar sobre o tema se destaca. Leia Mais
Diritto pubblico e diritto privato: una genealogia storica | Bernardo Sordi
Bernardo Sordi, professor de história do direito medieval e moderno na Universidade de Firenze (Itália), grande especialista na área da história da administração e do direito administrativo, integrante da renomada Escola Florentina de História do Direito e membro do conselho editorial da importante revista jurídica “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, na obra “Diritto pubblico e diritto privato: una genealogia storica”, publicado pela editora Il Mulino, realiza uma reflexão muito interessante e erudita do longo e complexo itinerário europeu da dicotomia público e privado.
Como não poderia deixar de ser, o autor procura incansavelmente historicizar e problematizar a distinção, demonstrando que, para além das palavras (ius publicum e ius privatum), os significados e os imaginários envolvendo a dicotomia são profundamente dependentes dos seus contextos culturais, são sempre contingentes (Hespanha, 2012, p. 13)2 Bernardo Sordi evidencia e explica a profunda relatividade histórica dos termos. Diferentes temporalidades e localidades, riqueza e diversidade deste jogo de palavras. Leia Mais
Mosaico. Goiânia, v.13, 2020.
NOVAS PERSPECTIVAS DA RELIGIOSIDADE POPULAR
Editorial
- RELIGIOSIDADE POPULAR E HISTÓRIA: POR UMA REVISÃO DO SINCRETISMO
- Thais Alves Marinho
Apresentação / Presentation
- NOVAS PERSPECTIVAS DA RELIGIOSIDADE POPULAR
- Eduardo Gusmão de Quadros, Robson Rodrigues Gomes Filho
Artigos de Dossiê / Dossier
- CONGADA DE CATALÃO (GO): O SINCRETISMO DA FESTA POPULAR NA PERSPECTIVA DOS DEVOTOS
- Marcos Manoel Ferreira
- OS BENTINHOS COMO PATUÁS: O PROCESSO DE AFRICANIZAÇÃO DE UM OBJETO DEVOCIONAL CATÓLICO NO BRASIL ESCRAVISTA
- Daniel Precioso
- EXU: O IMAGINÁRIO INDIVIDUAL E COLETIVO DO CANDOMBLÉ
- Paulo Petronilio Correia
- ULTRAMONTANISMO E CATOLICISMO POPULAR EM GOIÁS NO INÍCIO DO SÉCULO XX: CARACTERIZAÇÕES E PROBLEMATIZAÇÕES
- Robson Rodrigues Gomes Filho
- INTERPRETANDO O DIVINO PAI ETERNO EM TRINDADE
- Karine Monteiro da Silva
- A MEMÓRIA NOS GUIA: TRAJETOS E TREJEITOS DE UMA FESTA RELIGIOSA NO POVOADO DO BACALHAU – GOIÁS
- Eduardo Quadros, Raquel Miranda Barbosa
- A RELAÇÃO ENTRE MÍSTICA, RELIGIOSIDADE E POLÍTICA NO PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO ASSENTAMENTO ELI VIVE (MST – LONDRINA – PR)
- Lenir Candida Assis, Fabio Lanza, José Wilson Assis Neves
Artigos Livres / Articles
- O QUILOMBISMO NA CANÇÃO: UM DIÁLOGO COM AS TEXTUALIDADES INTELECTUAL DE ABDIAS NASCIMENTO E LÍRICA DE DONA IVONE LARA
- André Luiz de Souza Filgueira
- TERRITORIALIDADE E DESTERRITORIALIDADE NA HISTÓRIA DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS
- Fudio Matsuura, Antônio Pasqualetto, Ubirajara de Lima Ferreira
- CORES, HINOS E MASCOTE: GOIÂNIA ESPORTE CLUBE
- Djalma Oliveira de Souza
- A NEGRITUDE NO SÉCULO XXI NAS HQ’S DA TURMA DA MÔNICA
- Tatianne Silva Santos, Eduardo José Reinato
- O PRESIDENTE COMO EXECUTOR E ADMINISTRADOR DA PROVÍNCIA: A PREOCUPAÇÃO COM NOVOS CAMINHOS PARA MATO GROSSO
- Patrícia Figueiredo Aguiar
- O PODER SIMBÓLICO EM OS REIS TAUMATURGOS: DIÁLOGO ENTRE PIERRE BOURDIEU E MARC BLOCH
- Diego Sander Freire
Resenhas / Reviews
- KALUNGA: HISTÓRIA E MEMÓRIA DE UM QUILOMBO GOIANO
- Rosinalda Côrrea da Simoni
O lugar do saber / Márcia W. Kambeba
A obra em análise é um livro de sessenta e quatro páginas e editado pela Casa Leiria, de São Leopoldo/RS. O livro teve apoio do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida – OLMA, ligado à Província dos Jesuítas do Brasil. Tal livro coloca-se como o volume 1 da Série Saberes Tradicionais desta editora e traz poemas da escritora indígena Márcia Wayna Kambeba.
Vale falar um pouco da autora para melhor compreender esta obra poética. Márcia Kambeba é uma indígena amazonense da etnia Omágua/Kambeba. Ela nasceu na aldeia Tikuna chamada Belém do Solimões, no Alto Solimões/AM. Kambeba vive em Belém e trabalha a partir desta cidade urbana. Sendo muito requisitada atualmente, ela visitou vários cantos do Brasil e do mundo, participando de eventos, programas de rádio e televisão, executando suas performances e dando entrevistas. Leia Mais
Enseigner l’histoire à l’heure de l’ébranlement colonial. Soudan, Égypte, empire britannique (1943-1960) – SERI-HERSCH (CEA)
SERI-HERSCH Iris. Enseigner l’histoire à l’heure de l’ébranlement colonial. Soudan, Égypte, empire britannique (1943-1960). Paris: IISMM – Karthala, 2018. 382p. Resenha de: MATASCI, Damiano. Cahiers d’Études Africaines, v.240, p.1042-1044, 2020.
Version remaniée d’une thèse de doctorat soutenue en 2012 à l’université d’Aix-Marseille, cet ouvrage, rédigé par Iris Seri-Hersch, propose une analyse fascinante et empiriquement bien étayée de l’enseignement de l’histoire tel qu’il était dispensé au Soudan colonial entre 1943 et 1960. Ce sujet est abordé à partir d’une perspective de recherche qui mérite d’emblée deux considérations générales. Tout d’abord, l’auteure se focalise principalement sur les contenus et les prescriptions officiels associés à cette discipline scolaire, plutôt que sur les usages sociaux des manuels ou les réceptions des élèves. Son but est de montrer toute la pertinence de s’intéresser (encore) au point de vue des colonisateurs, pariant sur le potentiel heuristique d’une approche méthodologique mettant en lumière les effets recherchés de l’entreprise éducative coloniale. À cet égard, Iris Seri-Hersch rappelle que l’histoire de cette dernière est riche en paradoxes, car contrairement à certaines lectures « postcoloniales » parfois trop hâtives, l’éducation n’a pas comme seul et unique objectif l’uniformisation culturelle et le gommage de l’identité des colonisés. Ensuite, la période au cœur de l’enquête, celle de l’« ébranlement colonial », terme qui est préféré à celui de « décolonisation », jugé trop linéaire et théologique, présente un grand intérêt. Les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale sont en effet marquées par une grande incertitude quant à l’avenir des territoires africains, ce qui favorise les expérimentations et les réformes pédagogiques. Elles se caractérisent aussi par un tournant « paternalo-progressiste » de la politique coloniale, de plus en plus influencée par l’idéologie du « développement ». Iris Seri-Hersch restitue donc l’importance, encore quelque peu négligée par l’historiographie, des enjeux éducatifs au moment culminant de la « crise des empires », mettant notamment à jour les liens entre une discipline scolaire — l’histoire — et le processus de construction nationale au Soudan.
On l’aura compris, ce livre se situe à la croisée de plusieurs champs historiographiques et amène des éclairages inédits, non seulement sur l’histoire du Soudan mais aussi, plus largement, sur la production des savoirs coloniaux, sur la didactique de l’histoire et sur les réalités multiformes de l’éducation (post)coloniale. Les deux premiers chapitres présentent le contexte — politique et éducatif — dans lequel s’inscrit la trajectoire scolaire soudanaise, rendue particulièrement intéressante par le statut de ce territoire, un condominium soumis à la double tutelle britannique et égyptienne. Ils apportent au lecteur, notamment au non-spécialiste, les éléments de compréhension nécessaires pour aborder le cœur de l’ouvrage, à savoir le contenu et les modalités de l’enseignement de l’histoire dans les écoles primaires, qui est de loin la filière la plus fréquentée durant l’époque coloniale. L’étude se focalise tout particulièrement sur l’analyse des programmes pensés et élaborés après la Seconde Guerre mondiale (chapitre 3), sur le système de valeurs et les représentations du passé qui y sont transmises (chapitre 4), ainsi que sur les modalités de communication, d’apprentissage et d’évaluation de l’histoire scolaire (chapitre 5). Enfin, un dernier chapitre compare le cas soudanais avec celui d’autres colonies et de la Grande-Bretagne. De cette analyse serrée et bien menée se dégagent, tout d’abord, les particularités du type d’histoire prescrit aux autochtones. Contrairement à une image reçue, celui-ci ne véhicule pas nécessairement un message univoque où le passé africain serait négligé ou effacé. Comme l’ont récemment montré Céline Labrune-Badiane et Étienne Smith pour l’Afrique occidentale française, l’enseignement est adapté aux contextes locaux et aux connaissances pratiques des élèves1.
Ainsi, l’histoire dispensée dans les écoles est à la fois celle des colonisateurs et des colonisés, les programmes incluant des sujets relevant de l’histoire « mondiale », européenne, islamique et soudanaise, allant de l’Antiquité à l’ère contemporaine. Encore plus surprenant, le thème de la lutte anticoloniale y est fortement présent. Celle-ci, toutefois, ne se traduit pas par une critique directe du condominium anglo-égyptien (qui n’est par ailleurs pas véritablement intégré au passé historique), mais vise plutôt les envahisseurs ottomano-égyptiens du XIXe siècle et renvoie à des héros et à des figures mythiques comme Guillaume Tell. Quant à l’histoire du Soudan, elle est mise en récit suivant un enchevêtrement de perspectives nord-soudanaises et britanniques : les équipes chargées de l’élaboration des programmes et des manuels n’incluent pas d’acteurs sud-soudanais ou égyptiens et doivent composer avec les objectifs politiques des autorités britanniques de Khartoum, hostiles à une éventuelle unification du Soudan avec l’Égypte. C’est donc pour des raisons pragmatiques que les éducateurs coloniaux s’attellent — par le biais d’un enseignement de l’histoire s’adressant à la population musulmane arabophone et ignorant les minorités religieuses et linguistiques — à alimenter un nationalisme soudanais « indépendantiste » et à accompagner la transition du pays vers une modernité post-impériale.
3Iris Seri-Hersch inscrit aussi la trajectoire scolaire soudanaise dans le contexte plus large de la fin de l’Empire britannique, afin d’en dégager les spécificités et les similarités avec d’autres colonies africaines (Ouganda, Rhodésie du Nord, Nigeria), l’Inde, l’Égypte ou encore avec l’enseignement en métropole. Particulièrement avisée, cette démarche comparative a l’avantage de rendre compte de la grande diversité des situations et des multiples finalités de l’histoire scolaire. Elle permet également de « connecter » l’exemple soudanais à des débats qui dépassent largement le cadre d’une seule colonie ou d’un empire. Rapidement évoquée par l’auteure, cette question mériterait par ailleurs d’être approfondie. Il serait en effet intéressant de retracer les circulations transimpériales — d’idées, de modèles et d’individus — qui ont accompagné l’élaboration des manuels d’histoire soudanais, ainsi que de savoir comment les expériences en cours dans d’autres territoires ont servi de référence ou de repoussoir. Une telle ouverture entrerait aussi en écho avec les appels récents, issus notamment du monde académique britannique, invitant à décentrer l’étude du fait colonial et à placer dans un seul cadre analytique les dynamiques de connexion, de rivalité et de coopération qui ont émaillé l’expansion européenne et la fin des empires.
Avec les dimensions circulatoires, l’examen de la période postcoloniale constitue une autre piste de recherche prometteuse. Comme le rappelle justement Iris Seri-Hersch dans ce livre et dans ses autres travaux sur le sujet, l’indépendance ne marque pas nécessairement une rupture quant au contenu et à l’usage des manuels coloniaux. Dans le cas du Soudan, la reconfiguration des programmes précède l’accès à la souveraineté nationale, les textes scolaires ne subissant par ailleurs pas de changements particuliers jusqu’aux années 1970. À nouveau, l’auteure donne à voir la complexité et les paradoxes qui caractérisent le fait éducatif (post)colonial, laissant entrevoir ses multiples répercussions jusqu’à nos jours. Les conclusions de l’ouvrage sont en effet particulièrement instructives pour comprendre la situation actuelle. À la question de savoir dans quelle mesure l’enseignement de l’histoire au cours de la période coloniale tardive a pu contribuer à la scission du pays en 2011, Iris Seri-Hersch répond avec une hypothèse captivante : les représentations de l’histoire soudanaise dans les manuels coloniaux, utilisés pendant des décennies, auraient participé à renforcer le fossé social et culturel opposant les Khartoumois (britanniques et nord-soudanais) aux populations des périphéries (Darfour, Monts Nouba, Sud-Soudan), favorisant de ce fait la remise en cause, dès 1956, de la nature même de l’État postcolonial soudanais.
Notes
1 C. Labrune-Badiane & É. Smith, Les Hussards noirs de la colonie. Instituteurs africains et « petites patries » en AOF (1913-1960), Paris, Karthala, 2018.
[IF]Shifting the Meaning of Democracy: Race, Politics/and Culture in the United States and Brazil | Jessica Lynn Graham
A atual ascensão da extrema-direita mostra contornos verdadeiramente globais. Com maior ou menor intensidade, ocorre em todos os continentes e ganha corpo em países de trajetórias históricas as mais distintas. Dada a natureza dos problemas que ele coloca às democracias mundo afora, o fenômeno tem tornado lugar-comum a comparação da presente conjuntura com o período de gestação do fascismo e do nazismo na Europa. A profunda recessão econômica, já esperada como decorrência da pandemia de coronavírus, que grassa o mundo no momento mesmo em que escrevo estas linhas, faz com a Crise de 1929 uma comparação cada vez mais atraente. Leia Mais
Planos de Saúde e Dominância Financeira – SESTELO (TES)
SESTELO, José A. F.. Planos de Saúde e Dominância Financeira. Salvador: EDUFBA, 2018. 397p. Resenha de: ANDRIETTA, Lucas Salvador. Planos de saúde: protagonistas da acumulação de capital na saúde brasileira. Revista Trabalho, Educação e Saúde, v.18, n.1, Rio de Janeiro, 2020.
As lacunas que se pode apontar no livro de Sestelo são consequência de seus próprios méritos: a ambição de seus objetivos e o rigor de sua execução. Trata-se de um trabalho inconcluso, em muitos sentidos, embora não menos interessante.
Fruto de uma abordagem exploratória, o livro acrescenta peças importantes a discussões em andamento. Não hesita em enfrentar debates teóricos controversos e não ignora que trata de uma matéria em movimento. Ao fazê-lo, contribui enormemente para colocar algumas questões em outro patamar. Nesse sentido, as perguntas que deixa em aberto são mais valiosas que suas conclusões.
Como resultado, o autor nos oferece um extenso mosaico, tanto teórico quanto empírico, embora sua obra deixe suspensa no leitor a expectativa por uma síntese.
Sestelo nos apresenta uma tese bastante atual. Dedica-se a compreender como os traços mais marcantes do capitalismo contemporâneo se expressam na atuação das empresas de planos de saúde no Brasil. Suas conclusões são inequívocas: os aspectos fundamentais daquilo que se convencionou chamar de financeirização se manifestam cada vez mais intensamente na saúde brasileira.
O livro vem somar-se à tradição de trabalhos que buscaram problematizar e compreender a convivência incômoda entre a lógica sanitária e a lógica empresarial. Esta herança está evidenciada ao longo de todo o texto, seja no diálogo crítico que faz com essa literatura, seja de forma implícita nas inquietações que perpassam o trabalho.
Contudo, não se restringe ao tributo monótono às referências do passado. Embora mostre como o empresariamento da saúde é um processo com décadas de continuidade, Sestelo enfatiza a todo momento a importância de compreendermos suas novidades históricas. Nesse sentido, contribui para um esforço atual – e coletivo – de abordar o papel de grandes grupos econômicos dentro do sistema de saúde brasileiro.
Para isso, explora a trajetória de seu objeto, os planos de saúde, revelando seus contrastes e transformações. Recupera o passado de arranjos comerciais incipientes, empresas familiares de pequeno alcance e esquemas que, mesmo quando atingiam maior escala, permaneciam geridos de forma simplória.
Mas não o faz senão para evidenciar as características das empresas que hoje dominam o setor. Entes que atuam em escalas muito mais elevadas, em mercados de concorrência mais acirrada; que profissionalizam sua gestão; que despertam o interesse do capital nacional e estrangeiro, promovendo operações financeiras de grande magnitude; e que transitam por diversas atividades econômicas, – não apenas na saúde.
Algumas escolhas teóricas e metodológicas feitas pelo autor merecem a atenção especial da comunidade acadêmica que se situa na fronteira entre a Saúde Coletiva e as Humanidades. O livro aponta para algumas questões comuns a todos nós. Ainda que sem resolvê-las todas, tem o mérito de limpar o terreno de pistas falsas e concepções equivocadas que tanto influenciam o senso comum e, também, o trabalho de especialistas. Destacamos algumas dessas escolhas.
Em primeiro lugar, o autor rejeita a visão do mercado de planos de saúde no Brasil como algo ‘natural’, ou seja, uma necessidade inexorável induzida pela demanda espontânea da população. Nesse sentido, resgata a tradição da Economia Política ao buscar compreender o real papel das operadoras dentro do sistema, sobretudo o esforço permanente que realizam para criar, recriar e ampliar seus espaços de atuação e suas condições de acumulação de capital.
Em segundo lugar, o autor se afasta de interpretações binárias e estanques sobre as noções de ‘público’ e ‘privado’ que permeiam o sistema de saúde (cap. 1). Nesse sentido, enfrenta um problema crucial: como apreender corretamente as inúmeras articulações, sobreposições, contradições e fluxos entre os distintos componentes do sistema de saúde? Como fazê-lo sem perder uma perspectiva sistêmica? Sem restringir-se à mera apreciação de mixes público-privados, como um enólogo que comenta uma carta de vinhos?
Em terceiro lugar, o autor demonstra cuidado no tratamento do conceito de financeirização, que tantas acepções distintas recebe na literatura (cap. 2). Sem entrar aqui nos pormenores relacionados ao termo ‘dominância financeira’, o trabalho acerta ao enquadrar sua análise empírica das empresas como entidades integrantes do padrão de acumulação que caracteriza o capitalismo contemporâneo.
Para isso, apoia-se numa definição de ‘capital financeiro’ que nos parece a mais apropriada. O autor se distancia daqueles que insistem em separar o que é inseparável. Que insistem em tratar como diferentes e antagônicos os interesses do ‘capital produtivo’ e do ‘capital rentista’. Pelo contrário, encara o capital financeiro precisamente como a fusão das formas parciais do capital. Como nos lembra Eleutério Prado: “ambos têm de ser compreendidos como momentos da totalidade social constituída pelo próprio capital” (Prado, 2014, p. 21).
Dessa forma, Sestelo consegue escapar de armadilhas recorrentes e enquadrar melhor seu objeto. O leitor não encontrará em seu trabalho uma ‘esfera das finanças’ descolada e independente da ‘economia real’. Não encontrará também empresas não financeiras passivas diante de um processo que lhes subverte as ‘virtudes’.
O que o leitor encontrará é um esforço de compreender como as empresas de planos de saúde expressam a lógica geral do sistema e a ela se integram. Em outras palavras, como esta lógica se difunde de forma cada vez mais intensa sobre domínios como a intermediação assistencial.
No caso específico da saúde, não se trata de dizer que os esquemas de comércio de planos e seguros são uma novidade recente. Mas sim de mostrar como o processo vivido pelo setor, sobretudo nas últimas duas décadas, aprofunda tendências que antes eram incipientes. Especialmente, como algumas empresas relativamente irrelevantes se transformaram em grandes grupos econômicos multissetoriais, multifuncionais e transnacionais, capazes de impor sua agenda sobre inúmeros assuntos de interesse público no campo da saúde.
Além do esforço de articular diferentes temas num referencial teórico consistente, o livro recorre a uma extensa pesquisa documental (cap. 3). O resultado é um quadro rico de informações sobre a trajetória das maiores empresas de planos de saúde brasileiras.
Mais que o mero interesse nas transformações e pormenores do mundo corporativo, Sestelo sugere, durante todo o texto, possíveis desdobramentos de seus achados e reflexões, deixando em aberto uma agenda de pesquisa ampla.
Sobressai a conclusão de que as empresas de plano de saúde ocupam, cada vez mais, um papel central dentro do ‘complexo econômico-industrial da saúde’:
Não há dúvida de que o esquema de intermediação assistencial ocupa um lugar estratégico nessa constelação. O lugar da intermediação permite múltiplas interfaces de relacionamento comercial e fundamentalmente detém o poder discricionário de gestão financeira sobre os valores pagos a título de contraprestação pecuniária pelos trabalhadores/clientes, seja na forma de pré-pagamento ou pós-pagamento (p. 360).
Esta constatação se desdobra em muitas questões atuais, algumas delas enunciadas pelo próprio autor.
Contribui, por exemplo, para elucidar a grande capacidade dos planos de saúde de manterem seu desempenho durante as oscilações econômicas que afetaram a economia brasileira nos últimos anos. Não apenas pelo seu poder de mercado diante de clientes, fornecedores e prestadores, mas também pela facilidade com que obtêm benesses do setor público, seja do ponto de vista tributário, seja da regulação de suas práticas. Este tema excede a problemática específica das empresas, sobretudo num país com grandes desigualdades em saúde, que essas tendências parecem estar aprofundando.
Outros campos de pesquisas recentes podem se beneficiar do trabalho de Sestelo, embora não façam parte do escopo da obra. Vale a pena mencionar dois deles.
Primeiro, o papel que os planos e seguros ocupam hoje no sistema de saúde faz com que sejam protagonistas nas transformações observadas no mundo do trabalho dos profissionais de saúde. As novas formas de contratação, as mudanças nas condições de trabalho, as relações de trabalho que fogem à legislação ou que foram remodeladas pela recente reforma trabalhista.
Igualmente, é preciso sempre lembrar que o mercado de planos de saúde brasileiro é constituído por uma grande maioria de planos coletivos empresariais vinculados a contratos formais de trabalho. Tem, portanto, uma relação íntima com a dinâmica do mercado de trabalho em geral. E os planos de saúde, embora de forma ainda indefinida, terão de reagir às tendências futuras do mundo do trabalho brasileiro.
Segundo, o livro corretamente menciona o Sistema Único de Saúde (SUS) no sentido de explicar como as acepções sobre a articulação público/privada abriram espaço para a conformação de um mercado hipertrofiado de saúde suplementar no Brasil. Contudo, o trabalho não aprofunda a discussão sobre o espaço que o SUS e o orçamento da saúde ocupam nas estratégias atuais dos planos de saúde. Este passo adicional contribuiria muito, empiricamente, para as pesquisas dedicadas a entender os processos de mercantilização e privatização que afetam as políticas públicas, não apenas na saúde.
Esses caminhos abertos por Sestelo ajudam a alargar uma agenda de investigações sobre as empresas que atuam na saúde brasileira. Seus apontamentos deixam claro que essas pesquisas não ficam limitadas aos fenômenos que interessam aos clientes de planos privados – cerca de 1/4 da população brasileira –, mas interferem nas questões relativas a todo o sistema de saúde.
Pelas razões expostas acima, o livro Planos de saúde e dominância financeira é muito bem-vindo ao acervo da Saúde Coletiva, assim como despertará o interesse daquelas pessoas situadas nas suas fronteiras com outras áreas do conhecimento.
Referências
PRADO , Eleutério . Exame Crítico da Financeirização . Crítica Marxista , n. 39 , p. 13 – 34 , 2014 . [ Links ]
Lucas Salvador Andrietta – Universidade de São Paulo , Faculdade de Medicina e Grupo de Pesquisa e Documentação sobre o Empresariamento da Saúde . Campinas , SP , Brasil . E-mail: lucasandrietta@gmail.com
(P)
Entre controvérsia e hegemonia: os transgênicos na Argentina e no Brasil – MOTTA (TES)
MOTTA, Renata. Entre controvérsia e hegemonia: os transgênicos na Argentina e no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018. 260p. Resenha de: ALMEIDA, Vicente Eduardo Soares de; FRIEDRICH, Karen. Lavouras transgênicas: ciência, liberdades civis e Estado de Direito em risco. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.18, n.1, 2020.
Descortinar os caminhos que explicitam a controvérsia e a construção da hegemonia no contexto da implantação de culturas transgênicas na Argentina e Brasil é o objeto de análise do instigante estudo “Entre controvérsia e Hegemonia: os transgênicos na Argentina e no Brasil” de autoria de Renata Motta. A obra lança mão de instrumentos metodológicos que nos permitem aprofundar ao nível mais explícito possível, evidenciando não apenas seu contexto macro político e social, mas as estratégias adotadas por atores sociais preponderantes nessa trama.
Sob o construto conceitual da bio-hegemonia, a autora disseca o modus operandi de uma renovada aliança das elites ruralistas envolvendo o poder material, institucional e discursivo de grandes corporações, decisores políticos, elites agrárias e especialistas, para os quais a fome é apenas uma “oportunidade” manipulável por grandes corporações da indústria agrobioquímica. Aponta ainda que essa elite busca não só fazer prevalecer sua narrativa mas, especialmente, construir um consenso de que seus interesses na promoção dos organismos geneticamente modificados refletem os interesses da sociedade, embora falsos axiomas como a diminuição do uso de agrotóxicos e o aumento da produtividade agrícola venham sendo refutados em estudos com dados do Brasil e de outros países ( Benbrook, 2016 ; Almeida et al, 2017).
A busca por esse “consenso” passa por estratégias de supressão das liberdades democráticas dos movimentos de resistência, incluindo a criminalização de movimentos sociais camponeses e o silenciamento de cientistas dissidentes.
Neste contexto, a autora nos apresenta uma reflexão de que o sistema político bio-hegemônico não suporta a dissidência nem a existência de pesquisas continuadas sobre os impactos ambientais e na saúde dos Organismos Geneticamente Modificados (OGM). Que a tendência cada vez maior no sentido de cientifização da política e a politização da ciência tem sido alvo de diversos estudiosos sobre controvérsias relativas aos transgênicos, considerando os debates da mídia e as consultas públicas patrocinadas por governos.
Com um caminho teórico que combinou análise macrossociológica com foco no ator social com os níveis meso e macrossociológico, a autora lançou mão de categorias analíticas tais como: 1. Quem são os ativistas (suas bases sociais e organizacionais e suas identidades coletivas); 2. Como os movimentos agem (suas estratégias ou repertórios de ação); 3. Quais significados eles associam aos transgênicos (os problemas encontrados e os enquadramentos discursivos); 4. Quais são os resultados e 5. Quais são as estruturas de oportunidades e as ameaças que enfrentam.
O discurso e a agenda dos movimentos de resistência ao modelo bio-hegemônico, combinaram as temáticas ambientais, direitos humanos e direito a informação, trazendo um novo e fortalecido fronte de batalha com ideias associadas ao “interesse público, participação, transparência e responsabilidade pública, em oposição às práticas descritas como portas fechadas, ilegalidade e percepção de ilegitimidade” (p. 164). No entanto, como demonstra a autora, essa expressiva atuação dos movimentos sociais de resistência aos transgênicos no Brasil, não foi observada na mesma intensidade na Argentina.
Uma contribuição fundamental do livro trata da reflexão sobre as contradições existentes na condução do Estado Brasileiro por governos progressistas e suas decisões no sentido de consolidação dos interesses hegemônicos baseado numa política de conciliação de classes, equivocadamente vista pelos movimentos sociais como uma expressão de um “governo em disputa” (p. 157). As políticas de não enfrentamento de classe no campo agrário e na lógica econômica do assim chamado “agronegócio”, eram seguidas de táticas compensatórias e não estruturantes que, além de permitirem um avanço do modelo hegemônico, lastreavam uma série de programas sociais que “amorteciam” as bases sociais desses movimentos, impedindo-os de “radicalizar” suas pautas de reivindicação.
A formalização da aliança PT/PMDB, ainda no segundo mandato do governo Lula, culminando com a ocupação de vários quadros ruralistas da base do PMDB no governo, foi o sinal dado à sociedade de que as políticas para o modelo de desenvolvimento agrário seguiriam os interesses da chamada “governabilidade”, subordinando os temas ambientais, agrários e até mesmo de direitos humanos, ao crivo dessa aliança. E se, por um lado, o esforço econômico era de reduzir desigualdades por meio de transferência de renda do Estado, por outro, a concentração da terra se manteve intacta, e o poder político e econômico da elite agrária, com o boom dos preços das commodities e o amparo Estatal, foi enormemente ampliado.
O racha na bancada no Partido dos Trabalhadores – PT quanto à liberação dos transgênicos foi um outro golpe profundo na Campanha Por um Brasil Livre de Transgênicos, o que acabou por fragilizar o movimento, além das políticas de cooptação e amortização social.
Assim, a biotecnologia foi, neste período de governos progressistas, a “pedra de toque” para penetração do capital na agricultura, onde a ação negligente sobre a regulação das normas de investigação e monitoramento dos impactos ambientais e à saúde na população contaram mais do que seus alegados atributos tecnológicos, ou mesmo das garantias legais de uma lei de direitos de propriedade intelectual sobre as sementes. E os governos têm sido, via de regra, permissivos ao projeto bio-hegemônico, com o estabelecimento de padrões questionáveis de proteção à saúde e ambiente, alvos de crítica e alerta de cientistas em todo o mundo. No Brasil, a regulação dos transgênicos cabe a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBIO), instância colegiada multidisciplinar, instituída em 2005 pela lei 11.105 de 24 de março. A atuação da Comissão é repleta de fragilidades técnicas e conflitos de interesse como exposto em uma carta denúncia de ex-membro da Comissão ( Torres, 2018 ).
O efeito discursivo e midiático das grandes corporações não foi suficiente para suplantar os obstáculos da resistência à implantação dos transgênicos no Brasil, o que reforçou suas táticas diretas de violência contra ativistas, com assassinatos, perseguições e criminalizações praticados por diversos setores integrantes dessa rede biotecnológica; cassando os direitos civis e políticos de seus adversários. Segundo a autora, o ato de violência contra um ativista defensor dos direitos humanos é um ato exemplar para demonstrar que o ativismo político e a mobilização não serão tolerados. Em sua essência, o livro nos traz a compreensão de que o regime agroalimentar bio-hegemônico é, portanto, um regime politicamente autoritário e repressivo, incapaz de reconhecer dissidências e tolerar o exercício pleno da democracia nas suas dimensões mais fundamentais da dignidade humana como o direito à informação e a alimentação e ao ambiente saudável.
Em tempos de restrição democrática em que vive o Brasil, ainda mais notórios são os interesses que justificam a aliança ruralista no atual governo, por sua natureza fascista e refratária aos direitos civis e ao ativismo social e ambiental. Daí a importância estratégica desse livro que busca, na investigação do tema, apreender a dinâmica dos conflitos existentes de forma tão honesta e profunda, que, claro, não esgotam os esforços de entendimento e superação das limitações da organização social em busca da soberania alimentar e do exercício da cidadania.
Assim, um roteiro categórico sobre a agenda de pesquisas que possam investigar as oportunidades de transformação dessa realidade, a partir do referencial dos movimentos sociais, são elencados pela autora, tais como: 1. A existência de uma democracia participativa; 2. A independência e pluralidade dos meios de comunicação; 3. A efetiva independência de divisão entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 4. A existência de políticas e ações concretas contra a violência e a criminalização a ativistas e aos pobres do campo e lideranças rurais; 5. Proteção contra o clientelismo e a cooptação política.
Em breve análise desses indicadores, vimos que o conjunto da obra das políticas e decisões do atual governo versam em sentido contrário as oportunidades de transformação citadas acima. A desconstituição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA é um dos exemplos mais evidentes dessa política de destruição da democracia participativa, que avança assustadoramente em vários setores da vida política do país. Ou ainda o alinhamento dos meios de comunicação, centralizado e guiado por uma política anti-pluralista e anti-cidadã, focada na cobertura de agendas políticas ditadas pela elite financista e empresarial, como a reforma trabalhista e previdenciária. A desconstrução dos espaços de controle social e as tentativas de negação e revisionismo histórico da política de tortura e perseguição dos dissidentes como ocorrido na ditadura militar, são fatos preocupantes que apontam para uma realidade de reforço do modelo hegemônico. Mas mesmo num contexto tão desfavorável, a conclusão do estudo inspira a necessidade de lutar, pois o direito é resultado de um construto social dinâmico, e não um resultado automático dos marcos legais eventualmente e efemeramente civilizatório. Em suma, mesmo que as controvérsias não resultem em mudanças concretas na correlação de forças, estas são necessárias para a construção de um novo tempo e manter acesa a chama de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e plural.
Referências
ALMEIDA , Vicente E. S. et al . Use of Genetically Modified Crops and Pesticides in Brazil: Growing Hazards . Ciencia e Saúde Coletiva , Rio de Janeiro , v. 22 , n. 10 , out . 2017 . [ Links ]
BENBROOK , Charles M . Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally . Environmental Sciences Europe , v. 28 , n. 3 , p. 1 – 15 , 2016 . [ Links ]
TORRES , Raquel . Carta de Antonio Andrioli sobre CTNBio . Outra Saúde , São Paulo . 22 abr . 2018 . Disponível em: https://outraspalavras.net/outrasaude/carta-de-antonio-andrioli-sobre-ctnbio/ . Acesso em: 21 jul. 2019 . [ Links ]
Vicente Eduardo Soares de Almeida1 Universidade de Brasília , Brasília , DF , Brasil.
Karen Friedrich2 Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca , Rio de Janeiro , RJ , Brasil. Email: karenfriedrich@hotmail.com
(P)
Escola “sem” Partido – Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira – FRIGOTTO (TES)
FRIGOTTO, Gaudêncio (Orgs.). Escola “sem” Partido – Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017. 144p. Resenha de: HANDFAS, Anita. Por uma escola pública, democrática, reflexiva e plena de conhecimentos. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.18 n.2, 2020.
Resistência ao autoritarismo; gênese e significado; educação; redes políticas; criminalização do trabalho pedagógico; avanço do irracionalismo; democracia; reestruturação curricular – esses são apenas alguns dos aspectos do proclamado movimento Escola sem Partido, tematizado ao longo da coletânea organizada por Gaudêncio Frigotto. Fruto de investigações minuciosas realizadas por dezenove pesquisadores, seu objetivo é mapear os principais aspectos do Escola sem Partido, cujas primeiras manifestações surgiram em 2004, ganhando fôlego desde então e deixando rastros cada vez mais marcantes no contexto atual de avanço do obscurantismo no Brasil.
O livro é uma obra de compreensão sociológica acerca das conexões entre educação e autoritarismo. A coletânea é composta por nove capítulos. O eixo condutor que atravessa o livro é traçado pelos princípios da escola pública, democrática e laica, em diálogo crítico com os preceitos do Escola sem Partido, como já aponta o subtítulo. Ou seja, nesse livro há um terreno comum por onde percorrem os autores, em defesa de uma escola que promova o conhecimento científico, a reflexão e o debate, princípios a partir dos quais, os capítulos buscam oferecer ao leitor um diagnóstico rigoroso do referido movimento.
Nessa direção, o livro demonstra com clareza de dados e informações que, a despeito da propalada liberdade, o Escola sem Partido constrange o professor, sufoca o trabalho pedagógico e encoraja práticas de denuncismo entre os sujeitos que convivem no espaço escolar.
Para dar conta da diversidade de olhares contemplados na coletânea, o organizador mobilizou um conjunto de temas tratados nos capítulos que lograram, por um lado, focar em características específicas do movimento e, por outro, constituir um todo do fenômeno investigado, elucidando as questões centrais sobre o que vem a ser esse movimento, assim como os impactos sobre a educação, a escola e o trabalho docente.
O livro inicia com uma apresentação de Maria Ciavatta que nos convida à reflexão, mostrando que, ao buscar a gênese do Escola sem Partido, os autores da coletânea chamam à organização e à ação todos aqueles que lutam por uma sociedade democrática e por uma educação emancipadora.
No primeiro capítulo, Gaudêncio Frigotto nos chama a atenção para a ameaça que representa o Escola sem Partido. Ao evocar a metáfora da “esfinge” e do “ovo da serpente”, adverte para os perigos da propagação da ideologia desse movimento, cujo alvo é o esvaziamento da função social da escola pública. Abrindo caminho para os capítulos seguintes, Frigotto traça um amplo panorama sobre a gênese do movimento, mostrando que a ideologia tão propalada por ele funciona, em última instância, como um mecanismo para encobrir seus interesses políticos e econômicos, tendo em vista a posição atual ocupada pelo Brasil no interior das contradições do capitalismo.
No capítulo seguinte, é a vez de Fernando Penna analisar o discurso do Escola sem Partido. O autor mostra que por detrás daquilo que muitos professores entendiam por absurdo, deboche e mesmo improvável, o movimento alcançou êxito em suas posições na escola e na sociedade, ao partir de uma estratégia discursiva simples e próxima ao senso comum que desqualifica o professor e coloca pais e responsáveis pelos alunos numa posição inquisidora. O autor destaca e analisa quatro aspectos do discurso do movimento: (1) a concepção de escolarização; (2) a desqualificação do professor; (3) a acusação da escola como espaço de ideologização, e dos docentes como militantes travestidos de professores.
O terceiro capítulo foi escrito por Betty Solano Espinosa e Felipe Campanuci Queiroz. Nele, os autores adotam a perspectiva analítica das redes sociais, para quantificar e qualificar os agentes e as ideias que formam o Escola sem Partido, buscando identificar suas interações com atores de variados espectros sociais. Ao mapear a teia de articulação existente, Bety e Felipe concluem que os membros que compõe o movimento estão vinculados a partidos políticos, instituições religiosas e grupos empresariais poderosos.
No quarto capítulo, Eveline Algebaile traça um quadro geral “do que é”, “como age” e “para que serve” o Escola sem Partido. Ao esquadrinhar a plataforma principal do movimento, um sítio virtual da internet, a autora mostra que, ao contrário do que pode parecer, o Escola sem Partido não se constitui enquanto um movimento, no sentido de agir e organizar seus adeptos orgânica e fisicamente, mas tem todas as suas ações veiculadas por meio de uma plataforma virtual, espaço onde são difundidas suas ideias e divulgadas as orientações para denúncias contra supostas práticas de doutrinação ideológica por parte dos professores.
O capítulo seguinte foi escrito por Marise Ramos e se dedica a analisar os impactos das ideias difundidas pelo Escola sem Partido sobre o trabalho pedagógico dos professores. Para tal, a autora desmonta a suposta neutralidade do ato educativo aventada pelo movimento, asseverando que as contradições e disputas por concepções de mundo presentes no espaço escolar nada mais são do que manifestações salutares inerentes ao ato de educar. Para a autora, sem isso, a escola se torna amorfa e cativa da ideologia das classes dominantes.
O sexto capítulo, escrito por Mattos et al, lembra que o debate em torno do caráter secular e democrático da educação pública vem de longa data e a atuação de grupos religiosos contra a laicidade é uma marca na história da educação brasileira. Na atualidade, segundo os autores, essas posições se revestem em ataques aos conteúdos veiculados na escola e nos livros didáticos, sob o pretexto do Escola sem Partido, de que somente aos responsáveis dos alunos caberia velar pelos valores morais, religiosos e sexuais de seus filhos.
Em seguida, o capítulo de Isabel Santa Barbara, Fabiana Lopes da Cunha e Pedro Paulo Gastalho de Bicalho parte do entendimento de que historicamente a escola tem sido uma instituição normalizadora e disciplinadora da classe trabalhadora. No entanto, os autores argumentam que quando a escola passa a representar uma oportunidade real de ascensão social das camadas populares, setores conservadores interessados em preservar a hierarquia social e os valores das classes dominantes passam a atacar a escola e os professores. É neste cenário que o Escola sem Partido ganha terreno para operar por meio de mecanismos de “governamento”, no sentido de impor novas condutas e subjetividades no espaço escolar.
O oitavo capítulo, escrito por Rafael de Freitas e Souza e Tiago de Oliveira propõe uma reflexão filosófica sobre o Escola sem Partido. Partindo dos conceitos de doxa (opinião ou crença comum) e logos (razão), os autores mostram como o obscurantismo que atravessa o discurso do movimento fere os princípios da razão e do conhecimento científico na escola, garantidos inclusive pela legislação nacional, para dar lugar à opinião, ao senso comum, fortalecendo assim as crenças e convicções religiosas, como mais uma forma de atacar o conhecimento e o trabalho pedagógico realizado de forma competente pelo professor.
Fechando a coletânea, o capítulo de Paulino José Orso é propositivo de uma alternativa pedagógica e curricular que possa fazer frente ao desmonte da escola, do conhecimento e do trabalho pedagógico do professor. Nessa direção, o autor defende um currículo que contemple uma sólida formação teórica, possibilitando ao aluno uma visão crítica sobre o passado histórico e a compreensão da sociedade atual.
Com a apresentação sintética dos capítulos que compõe a coletânea Escola “sem” Partido – Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira, fica claro que se trata de um livro da maior importância, sobretudo no contexto atual de avanço do obscurantismo do governo Bolsonaro que ataca a ciência e o conhecimento científico porque quer supor que tudo não passa de construções. A ideologia do Escola sem Partido quer fazer crer que a opinião é tão importante quanto o conhecimento, visão que nos empurra para o relativismo, tão contrário ao esforço investigativo e ao conhecimento, tão necessários para a construção de uma escola libertária. Em tempos sombrios como os que estamos enfrentando atualmente, parece ser mais uma vez oportuna a advertência feita por Saviani (2018) de que a luta pela escola democrática passa por sua articulação com a luta pela democratização da sociedade.
Nesse sentido, a coletânea em pauta é a um só tempo, um livro de denúncia e combate e por isso deve ser lido por todos aqueles que defendem uma educação pública, gratuita, laica e que contemple todas as dimensões da vida humana.
Referências
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia, 43. ed. Campinas: Autores Associados, (2018). [ Links ]
Anita Handfas – Universidade Federal do Rio de Janeiro , Faculdade de Educação , Laboratório de Ensino de Sociologia Florestan Fernandes , Rio de Janeiro , RJ , Brasil. E-mail: anitahandfas@gmail.com
(P)
Black Feminisms Reimagined: After Intersectionality | Jennifer C. Nash
Black Feminisms Reimagined, o segundo e mais novo livro de Jennifer C. Nash, crítica cultural e professora de estudos afro-americanos, de sexualidade e gênero, analisa a complexa história institucional e intelectual do feminismo negro, na era do que ela chama de “guerras de interseccionalidade”, e propõe um armistício entre departamentos de estudo de gênero e o feminismo negro através da teoria do afeto. Nash leciona na Universidade Northwestern em Evanston, Illinois, nos Estados Unidos, e é doutora em Estudos Afro-Americanos pela universidade de Harvard. Seu primeiro livro, The Black Body in Ecstasy: Reading Race, Reading Pornography, publicado em 2014, analisa representações visuais do corpo de mulheres negras em um espaço que ela define como “lugar de desconforto” para o feminismo negro: a pornografia racializada. Nesse livro, ela questiona os limites das interpretações vigentes no engajamento teórico do feminismo negro com as representações visuais sexualizadas. Sendo assim, ambos os estudos de Nash procuram investigar os limites teóricos, ou zonas de desconforto, dentro do feminismo negro. Leia Mais
Crescendo em silêncio: a incrível economia escravista de Minas Gerais no século XIX | Roberto Borges Martins
Arqueología de la costa del Golfo: Dinámicas de la Interacción Política, Económica e Ideológica – BUDAR et al (CA)
BUDAR, Lourdes; VENTER, Marciel L.; GUEVARA, Sara Ladrón. Arqueología de la costa del Golfo: Dinámicas de la Interacción Política, Económica e Ideológica. Facultad de Antropología/Universidad Veracruzana. Administración Portuaria Integral de Veracruz, 2017. Resenha de: LARA, Pedro Jimenez. Clio Arqueológica, Recife, v.35, n.1, p.228-233, 2020.
Arqueología de la Costa del Golfo – Dinámicas de la Interacción Política, Económica e Ideológica, publicado por la Universidad Veracruzana y coordinado por la Dra. Lourdes Budar Et. Al pone en relieve desde una perspectiva distinta al área conocida como la Costa del Golfo una de las 9 componentes de la macro región conocida como Mesoamerica. En este volumen participan diversos investigadores que presentan avances de sus pesquisas en esta área conocida como La Costa del Golfo. En ella quedan vertidas sus posturas y visiones ante esta rica y diversa región mesoamericana abarcando aspectos que les permitieron una aproximación a los grupos que aquí se desenvolvieron y la forma como interactuaron abarcando aspectos de la vida cotidiana, sociales, económicas, administrativas, religiosos (rituales). Como lograr implantar y forjar aspectos de su desarrollo tanto interna como externamente.
En esta obra quedan plasmadas diversas miradas y postura de los que escriben los resultados de sus investigaciones del crisol cultural que representa la Costa del Golfo de México. Otros de los aspectos a resaltar es que aquí se presentan temas desconocidos de algunas de las tres regiones geográficas, norte, centro y sur, que integran esta área cultural. Se enfatiza el centro-sur.
Aparte de la nueva información vertida en muchos de los artículos publicados en esta edición llamada Arqueología de la Costa del Golfo – Dinámicas de la Interacción Política, Económica e Ideológica corresponden al Clásico sin olvidar los antecedentes y datos posteriores, continuidades y discontinuidades en algunas de las regiones estudiadas.
Abordar el paisaje como parte de la dinámica establecida en los diversos grupos que se desarrollaron en esta región fue otro de los retos, muchas veces los sitios se ven de forma aislada cuando no fue así, tuvieron ejes articuladores que fueron más allá de ser simples ocupaciones incomunicadas y tomar como referente el paisaje fue y es importantísimo para el establecimiento y que ha sido la pauta para entender las dinámicas de los diversos asentamiento que aquí se establecieron y desarrollaron. El espacio geográfico fue vital para estos grupos y lo sigue siendo para el desarrollo de la humanidad.
Es claro que los resultados presentados en esta publicación se demuestra que hay una articulación contemporánea de sitio a sitio según la fase en que se desarrollaron, hablando cronológicamente. Si bien en la composición y tamaño de cada asentamiento hay variaciones eso no impidió su relacionamiento a veces por el comercio o el simple conocimiento entre ellos, las ideas viajaron y quedaron plasmada ideológica y materialmente Otro de los hilos conductores es la arquitectura sus diferentes objetivos para las cuales surgieron y el lugar que ocuparon algunos edificios según su estructuración, van de estructuras dedicadas a lo sagrado, orientaciones especificas a los más común y espacialmente más grandes que son las áreas habitacionales. Poco se sabe del habitad, pocos investigadores se han interesado por estudiar estos espacios y muchos los sitios que se han registrado y que siguen apareciendo en su forma típica mesoamericana o algunos ya destruidos y solo se evidencian los cimientos de los mismo. Sumados todos estos elementos los articulista de Arqueología de la Costa del Golfo – Dinámicas de la Interacción Política, Económica e Ideológica nos muestras la configuraciones y articulaciones que tuvieron estos asentamientos durante el periodo Prehispánico. El intento de mostrar la integralidad de estas regiones con una visión más amplia y aguda otra forma de mostrar la nueva arqueología que se practica en esta región y mesoamericana.
Algunos de estos arqueólogos abordan los temas en cuestión de forma simple, dejando de lado las formalidades que impone lo académico, el marcaje de las diversas corrientes teórico metodológicas. Es decir la reseña, en algunos casos es de manera más simple y sencilla. Haciendo las descripciones tal cual de la estructuración de los sitios, si bien hay hilos conductores, razón de más para ver como las formas que guardaron entre si los asentamientos y como las ideas viajaron y quedaron plasmadas como parte de los diversos componentes de estos.
Así como hay patrones en los diversos componentes de los sitios estudiados, donde se determina la función de la constucción de acuerdo a su ubicación y los materiales de construcción utilizados, haciendo la diferenciación entre área nuclear y periferia, es decir, estructuras que cumplieron un rol en la parte central o nuclear, también están áreas habitacionales como parte integral del asentamiento. Aquí el fenómeno se torna más interesantes y profundo cuando se logran determinar actividades específicas.
Plenamente identificados los hilos conductores que hace afín esta área con otras mesoamericana, uno de ellos son las conflictos sociales y rituales plenamente identificados con la muerte y asociados a costumbre violentas como sería el sacrifico humano, el caso del Juego de Pelota por decapitación o abrir el pecho para arrancar el corazón del sacrificado en una acción de saciar la sed de sangre de los dioses. El espacio sagrado queda estructurado con dos construcciones con dos o un cabezal, según la tipología de “I” o “T”. Las representaciones quedan plasmada de diversa formas en tableros, pintura mural, esculturas, cerámica y figurillas.
Asociados a lo anterior existió la tradición de los entierros o ritos funerarios fue una práctica muy recurrente en los grupos mesoamericanos indistintamente de la fase o cronológico. La forma de entierro dependió del status socio económico. Así queda manifestado por algunos de los arqueólogos que participan como articulista de este volumen Arqueología de la Costa del Golfo – Dinámicas de la Interacción Política, Económica e Ideológica.
Tratándose de la Arqueología de la Costa del Golfo – Dinámicas de la Interacción Política, Económica e Ideológica, según la división cultural y no política es incuestionable no hablar de la Huasteca esta región como un componente de esta área multicultural. Sin restarle importancia a su desarrollo es claro que sabemos poco por el desapego y desinterés de la investigación científica.
Se trata de un grupo con matices distintos pero no desarticulados del contexto cultural mas amplio, hablando regionalmente, un ejemplo seria su particular escultura donde queda de manifiesto el manejo diestro de la piedra.
Las aportaciones y resultados es la radiografía presentada, por cierto muy bien recibida de los Wastecos, el recorrido cronológico y linguistico es meritorio. Sin embargo es necesario atender esta región desde el punto de vista científico y así poder tener una visión más completa y no fragmentada como la que existe.
La extensión territorial, la complejidad del tiempo largo cronológico, los diversos grupos aquí asentados hace más difícil tener una historia más fácil de digerir. Los diversos rasgos existentes no se le pueden endilgar a un solo grupo.
Lo que si queda claro y sin una frontera política asible esta región convivio y se retroalimento con diversos grupos que existieron más al norte y occidente de esta macro región llamada Mesoamerica La novedad es el Puerto Marítimo o los puertos marítimos a algo parecidos identificados como tal en la esta región de la Costa del Golfo. Si bien es cierto la escases de información relacionado con el tema por el poco interés mostrado por investigadores. La existencia de estos Puertos, atracaderos, muelles, existieron gracias al comercio a larga y corta distancia. En este región es novedad sin embargo hay áreas donde hay más información al respecto como la zona maya.
Interesante el planteamiento que se hace que no solo toca a los litorales, también tierra adentro hay grandes cuerpos de agua que sirvieron de vehículo para las actividades cotidianas y el traslado de diversos productos y claro para el comercio.
Pedro Jimenez Lara – Universidad Veracruzana. Facultad de Antropología E-mail: pejila@hotmail.com
[MLPDB]Exposing Slavery. Photography/Human Bondage/and the Birth of Modern Visual Politics in America | Matthew Fox-Amato
O livro de Matthew Fox-Amato resulta da tese de doutorado defendida no Departamento de História da Universidade do Sul da Califórnia. Composto de introdução, quatro capítulos e um epílogo, possui 92 imagens e parte de duas questões iniciais, colocadas pelo autor: como a descoberta, e subsequente uso, da fotografia “influenciou a cultura e a política da escravidão na América?”. E como, por seu turno, “a escravidão influenciou o desenvolvimento da fotografia – esteticamente e como prática cultural?” (p. 2). Leia Mais
Sociological Theory Beyond the Canon | Syed Farid Alatas, Vineeta Sinha
Há, entre docentes de Ciências Sociais no Brasil, certo estranhamento em relação aos autores que, comumente, são tratados nos cursos introdutórios, em especial na Sociologia. Cada vez mais perceptível em virtude do momento histórico de releituras críticas das tradições, esse estranhamento resulta de uma uniformidade em relação ao conjunto de sociólogos que desponta em nossos currículos, que espelha um padrão obsoleto: são homens, brancos e do Norte Global. Isso indica que o eurocentrismo e o androcentrismo seguem sendo colonialidades persistentes no ensino da Sociologia em nível global. Basta olhar para as ementas e para os manuais e livros didáticos usados no ensino da disciplina em diferentes escolas e universidades. Leia Mais
Páscoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola/ Brésil et Portugal au XVIIe siècle | Charlotte de CastelnauL’Estoile
Este é um livro sobre Páscoa Vieira, uma africana denunciada à Inquisição em 1693 por bigamia. O gesto deu origem a uma investigação que durou sete anos e revela a vida de uma mulher ao mesmo tempo ordinária e excepcional. Páscoa nasceu e viveu em Massangano, uma pequena vila fortaleza situada a 200 km de Luanda, no Reino de Angola, trabalhando como escrava nos campos e nas casas de uma rica família de luso-africanos. Casou-se aos 16 anos com Aleixo, também escravo, com quem teve dois filhos, mortos ainda pequenos. O casal não se dava bem e Páscoa fugia com frequência. Como castigo, seu senhor a vendeu para um conhecido, um notário público (tabelião) residente em Salvador, capital do então Estado do Brasil. Foi assim que Páscoa atravessou o Atlântico pela primeira vez, por volta de 1686, aos 26 anos. Um ano depois, casou-se com Pedro, um africano procedente da Costa da Mina, seu companheiro de escravidão. Tiveram dois filhos. Leia Mais
Prieto: Yoruba Kingship in Colonial Cuba during the Age of Revolutions | Henry B. Lovejoy
Faz mais de um século que historiadores e antropólogos têm se atribuído a tarefa de realçar o legado dos homens e mulheres procedentes do chamado “país iorubá” em Cuba. Cumprir tal tarefa parecia inevitável, pois se tratava dos criadores de um dos sistemas religiosos de origem africana mais difundidos e aceitos no país: a Santería. Sistema que, a partir de uma visão colonialista assumida sem muitos reparos, foi catalogado como menos “selvagem” ou mais “civilizado” do que outros de igual origem, o Palo Monte ou Regla de Conga, uma herança que os cubanos podem ostentar com certo orgulho. No caso da Santería, admiração que possivelmente aumentaria se muitos outros cubanos soubessem que os lucumís – como eram chamados os iorubás em Cuba – foram os protagonistas de algumas das mais sérias sublevações produzidas na primeira metade do século XIX. Não importa tanto se estas revoltas se manifestavam, no dizer dos estudiosos, como mera continuidade das “guerras” que muitos haviam sustentado em suas terras, porque o próprio fato de rebelar-se fora suficiente para incorporá-los ao cânone da luta anticolonial, mais ainda se destruíram plantações açucareiras e cafezais e, no caminho da liberdade, mataram a todo soldado espanhol empregado por seus opressores. Em resumo, ainda que o ditado mais conhecido em Cuba seja “quem não tem de congo tem de carabali”, também devemos contabilizar um DNA lucumí digno de ser conhecido, e assim a muitas histórias de vidas que ainda permanecem ocultas nos arquivos. Leia Mais
Segredos de Estado: o governo Britânico e a tortura no Brasil (1969/1976) | João Roberto Martins Filho
Foi publicado pela Editora Sagga, em 2019, Segredos de Estado: o governo britânico e a tortura no Brasil (1969-1976), de autoria do historiador João Roberto Martins Filho. O livro teve origem em meados de 2013, quando o autor submeteu o projeto à cátedra, perante o King´s College, em Londres, com o título “As Democracias europeias e a ditadura militar brasileira: o caso do Reino Unido”.
A obra se embasa na documentação da diplomacia do Reino Unido e traz uma enorme contribuição para a historiografia sobre as ditaduras militares na América Latina. A obra quebra alguns mitos sobre a instauração de regimes autoritários no Cone Sul. O primeiro deles refere-se ao deslocamento da temática sobre a relação entre a ditadura militar no Brasil e outros países, saindo do foco dos EUA, apesar de ainda haver muito a ser estudado sobre a participação norte-americana no Golpe de Estado e no planejamento e apoio ao regime militar. Há uma vasta lacuna sobre a relação entre o regime autoritário brasileiro e os países europeus. Leia Mais
O pensamento ético-político de Maria de Lourdes Pintasilgo: diálogos com Martin Heidegger e Hans Jonas – CARRILHO (RFA)
CARRILHO, M. R. O pensamento ético-político de Maria de Lourdes Pintasilgo: diálogos com Martin Heidegger e Hans Jonas. Lisboa: Fundação Cuidar o Futuro, 2019. Resenha de: PROVINCIATTO, Luís Gabriel. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v.32, n.55, p.322-328, jan./abr, 2020.
O pensamento ético-político de Maria de Lourdes Pintasilgo: diálogos com Martin Heidegger e Hans Jonas resulta de um doutoramento em Filosofia na Universidade de Évora, Portugal, sob a orientação das professoras Fernanda Henriques e Irene Borges-Duarte. A obra que agora se tem, porém, não é a tese doutoral tal e qual, como destaca a própria autora, Marília Rosado Carrilho. O que agora se apresenta sob a forma de livro é, por assim dizer, uma dupla introdução: uma em sentido horizontal e outra em sentido vertical.
Esse duplo movimento introdutório é o que título e subtítulo expressam: o primeiro mostra a introdução em sentido horizontal e o segundo em sentido vertical. Em sentido horizontal porque se trata de apresentar o pensamento ético-político de Maria de Lourdes Pintasilgo, uma mulher que se destacou, sobretudo, por sua intensa atividade político-social em Portugal, na União Europeia e na Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse sentido, trata-se de colocar o(a) leitor(a) a par não somente da contribuição de Maria de Lourdes Pintasilgo para a política, mas de mostrar como a política é desenvolvida e aprimorada em seus textos, que, na maioria das vezes, são conferências, palestras, discursos e/ou entrevistas. Além disso, trata-se de mostrar como ética e política estão conjugadas de tal forma que, em Pintasilgo, não se pode pensar uma sem a outra. Pode-se dizer, portanto, de uma introdução como apresentação do pensamento ético-político de Maria de Lourdes Pintasilgo.
A obra é também uma introdução em sentido vertical, pois não se limita somente à apresentação. Trata-se de conduzir o(a) leitor(a) ao interior do próprio pensamento de Pintasilgo, colocando em discussão a sua gênese, formação, desenvolvimento e apontando, ao final, para o legado por ele deixado. Isso torna a obra de Carrilho única: à medida em que coloca o pensamento ético-político de Maria de Lourdes Pintasilgo em um panorama, extrai dele aquilo que lhe é mais fundamental. Disso decorre o encontro com os dois pilares de seu pensamento: Martin Heidegger e Hans Jonas. Diz-se, assim, de uma introdução como um adentrar ao núcleo formativo e estruturante do pensamento ético-político de Pintasilgo.
O texto é aberto por dois prefácios: um assinado por André Barata, que destaca a importância da transição do “poder sobre” ao “poder para”, e outro assinado por Maria Antónia Coutinho, que destaca a força da linguagem humana presente em Maria de Lourdes Pintasilgo e dá ênfase à necessária mudança de paradigma político, a saber, de uma ética da justiça a uma ética do cuidado, centrada, sobretudo, na qualidade de vida. À sequência, seguem-se os cinco capítulos trazidos por Carrilho, antecedidos por uma Introdução, cuja função não é somente apresentar a estrutura da obra, mas também trazer alguns dados biográficos de Maria de Lourdes Pintasilgo. Além disso, a Introdução faz e traz um organograma conceitual do percurso de Pintasilgo: ele é fundamental para o posterior andamento da obra, pois o desenvolvimento dos capítulos está finamente associado a tal percurso aí apresentado.
O primeiro capítulo — A indissociabilidade entre ética e política como linha de força do pensamento e ação de Maria de Lourdes Pintasilgo — faz uma abordagem geral do pensamento de Maria de Lourdes Pintasilgo, mostrando como nele não se pode dissociar ética e política, pensamento e ação, palavra e ato. Desde o início também se percebe a importância de Martin Heidegger e Hans Jonas: do primeiro se toma a noção de “cuidado” como fundamento ontológico do ser humano e do segundo o princípio de responsabilidade como determinante para o convívio em comunidade e para a edificação de uma ética holística, preocupada com o futuro e com a qualidade de vida. Aqui também já se entende a proposta de uma “nova política”, à qual está ligada um conjunto de características fundamentais: consciência cívica, poder, “agir a palavra” e “nova cultura política”. Essas características são trabalhadas ao longo do capítulo. Importa perceber como elas estão interligadas.
A sociedade é formada por todos e todos são responsáveis por ela: esse é o ponto de partida de Maria de Lourdes Pintasilgo. Só há responsabilidade onde há liberdade e só há ética onde ambas estão presentes. Assim, a consciência ética implica na capacidade de escolher, tendo em vista o bem comum, e de se tornar responsável por essa escolha. O que Pintasilgo entende por consciência cívica é a possibilidade do cidadão, por um lado, intervir livre e responsavelmente na sociedade e, por outro, ter consciência da importância dessa intervenção. A consciência cívica exige uma “massa crítica” que deverá ser “reflexiva, denunciadora e interventiva” (CARRILHO, 2019, p.36). A consciência cívica como consciência ética implica numa “nova política” onde o poder é exercido “para” e não mais “sobre”. Essa é a singular mudança trazida pela “nova política”: o exercício da autoridade no poder político, assim, é legitimado pela responsabilidade. Poder, liberdade e responsabilidade são termos correlatos, portanto. A ética, então, está aí pensada a partir de uma necessária vinculação entre teoria e prática, à qual Pintasilgo denomina de “agir a palavra”: “o pensar nada muda sem o agir, mas o agir sem rumo poderá levar à errância” (CARRILHO, 2019, p.43). Atenção seja dada ao alerta aí realizado: a ética deve evitar ao máximo o agir sem rumo, cabendo-lhe, portanto, o papel regulador da ação. Esta regulação, porém, não deve ser vista como um empecilho do progresso, mas como uma aliada, pois ela provém de um projeto educador que está à base do projeto da “nova cultura política”. Maria de Lourdes Pintasilgo busca em Paulo Freire as bases desse projeto educacional capaz de pensar a autonomia do cidadão, sua consciência cívica e sua vida política e social. Desse modo, à indissociabilidade entre ética e política se junta um projeto educador, percebido nas entrelinhas desse primeiro capítulo, e pouco explorado por Carrilho.
O segundo capítulo — A emergência de um novo paradigma como condição para uma governação ético-política — trata, basicamente, da mudança do “paradigma do progresso” para o “paradigma da qualidade de vida”. Essa proposta se inicia com a apresentação daquilo que Maria de Lourdes Pintasilgo chama de “tempo da vergonha”: há progresso, conquista da ciência, aumento da economia mundial e, mesmo assim, ainda há tantas perturbações aos sistemas de suporte da vida. O “tempo da vergonha” é um diagnóstico do final do século XX e início do XXI e, além disso, deve fazer cair o mito do desenvolvimento como um progresso ascendente e que é, na maioria das vezes, um progresso econômico. Propondo a mudança, Maria de Lourdes Pintasilgo afirma a importância do outro para que haja relação ética e, nesse sentido, torna evidente a importância do cuidado: consigo, com as coisas e com os outros. Essa ideia de cuidado é tirada da filosofia de Heidegger, que, além disso, também contribui decisivamente para a caracterização do ser humano como ser relacional, um ser-com-os-outros-no-mundo. Para além de Heidegger, no entanto, Pintasilgo faz convergir o cuidado à dimensão ético-política.
A mudança paradigmática se inicia quando se rompe com o conformismo e com o consenso. Eles são os dois inimigos da mudança: o primeiro por resignar-se com o que está dado e o outro por gerar conforto em vários aspectos, impedindo a mudança, negando-a, na verdade. Para tanto, Carrilho traz aquilo que Pintasilgo denominou como “teoria das brechas”: entrar pelos espaços que são oferecidos e intervir substancialmente no sistema, causando a mudança. A mudança paradigmática, por mais difícil que pareça, nunca deixa de ser realizável para Maria de Lourdes Pintasilgo, que, com isso, resgata politicamente a ideia de utopia, não como algo irrealizável, mas como plenamente realizável desde que seja pensada como horizonte. Trata-se, pois, de olhar para o futuro ao qual a política caminha a partir das decisões adequadas tomadas no presente. Assim, a “qualidade de vida” aparece como uma “utopia política” realizável integralmente: “qualidade de vida é proporcionar patamares mínimos de existência digna, considerados como direitos, uma vez que possibilitam a autossuficiência e independência do indivíduo” (CARRILHO, 2019, p.73). Note-se: o novo paradigma político deve ter como objetivo a autossuficiência e a independência do indivíduo. Para tanto, Pintasilgo propõe um novo contrato social, pautado não mais na subordinação, mas numa comunidade livre e que traz as seguintes características: a instauração de mecanismos de regulação, isto é, uma ética regulatória; uma cidadania com intervenção de homens e mulheres, donde a necessária consciência cívica; e uma soberania alargada e responsável, na qual poder, liberdade e responsabilidade são, de fato, correlatas.
O terceiro capítulo — Cuidar o futuro: fundamento da ética global e imperativo humano — fala sobre a proposta de uma “ética global” a partir daquilo que Pintasilgo chamou de “cuidar o futuro”. O lema traz como seus dois principais objetivos “humanizar a política e possibilitar uma existência digna” (CARRILHO, 2019, p.79). Essa “ética global” proposta por Pintasilgo, ao ser “holística, consequencialista, da responsabilidade e do cuidado” (CARRILHO, 2019, p.81), faz convergir o pensamento de Heidegger e Jonas ao seu projeto ético-político. Além disso, ela ainda propõe alterações fundamentais às éticas tradicionais: o sujeito ético deixa de ser o indivíduo e passa a ser o coletivo, o objeto ético deixa de ser estritamente o humano e passa a abarcar a natureza, a ação moral deixa de estar pautada na intenção e passa a remeter às (possíveis) consequências da ação, a dimensão temporal da ética deixa de avaliar a ação no imediato de sua realização para “se entender que importam as repercussões a médio e longo prazo” (CARRILHO, 2019, p.83). Assim, uma “ética global” está posta porque os problemas se tornaram globais tanto pela extensão quanto pela duração que a ação humana passou a ter. Essa “nova ética” deve, primeiramente, questionar a ação a ser realizada. O papel regulador da ética provém do caráter questionador da filosofia, atestando a importância desta para a “nova política”. Desse modo, a “ética global” de Pintasilgo questiona e regula: “nem tudo o que é cientificamente exato ou tecnologicamente viável é socialmente aceitável; é a pessoa humana [pensada na integridade com a natureza] a primeira e a última finalidade de toda decisão política” (CARRILHO, 2019, p.87). Carrilho, ao final desse capítulo, traz um importante esclarecimento: a ética global proposta por Pintasilgo não é uniforme, tampouco pautada num denominador comum. Ela é a descoberta de um núcleo dos valores éticos compartilhados pelos grandes sistemas do pensamento.
O quarto capítulo — Cuidado e responsabilidade como pilares do agir ético-político — se propõe a mostrar a direta influência de Heidegger e Jonas no pensamento ético-político de Maria de Lourdes Pintasilgo. Carrilho inicia mostrando como os termos “cuidado” e “responsabilidade”, principais contributos dos filósofos mencionados, passam a fazer parte do vocabulário de Pintasilgo. Interessante destacar que Carrilho, nesse momento, dedica-se a apresentar o “cuidado” heideggeriano e a “responsabilidade” jonasiana em suas devidas conjunturas. Desse modo, a primeira divisão do capítulo — O cuidado como fundamento ontológico do ser humano — traz uma abordagem geral do cuidado no contexto de Ser e tempo, apresentando-o como caracterização ontológica do ser humano, concretizando-se como ocupação e solicitude. Mesmo levando a noção de cuidado para além da caracterização ontológica apresentada por Heidegger, Pintasilgo concorda estritamente com ele em um aspecto decisivo, como mostra Carrilho: “o cuidado é intenção originária, abertura a si e aos outros” (CARRILHO, 2019, p.94). Carrilho procede da mesma maneira com Jonas na segunda parte do capítulo — A responsabilidade como exigência da condição humana de ser-com. Aí a autora dá destaque ao “imperativo categórico da responsabilidade”, próprio de Jonas e apropriado por Pintasilgo. Além disso, apresenta também a responsabilidade a partir de uma tripla caracterização: enquanto sentimento, enquanto dever-ser e enquanto condição da ação causal. Carrilho perpassa, de fato, o núcleo edificante do princípio da responsabilidade de Hans Jonas, mostrando, ao final, como Pintasilgo o faz convergir à “nova ética global”, logo, à “nova política”.
O capítulo final — O legado de Maria de Lourdes Pintasilgo — não é, como a própria autora afirma, uma conclusão. Trata-se de uma retomada do caminho percorrido, fazendo uma síntese das teses apresentadas e apontando o legado deixado por Maria de Lourdes Pintasilgo. Nesse sentido, trata-se de retomar, primeiramente, os pontos apropriados por Pintasilgo de Heidegger e Jonas para, à sequência, mostrar como a temática do “tempo futuro” deve sua fundamentação também a eles. Para Pintasilgo, o futuro é o horizonte da ação ética, ou seja, a vida está sempre em construção, logo, nunca há uma sociedade plenamente realizada. Daí a importância dos governos pensarem a curto, médio e longo prazo: “à fluidez do tempo, é preciso responder com o exercício da decisão responsável. […] Com os ‘pés’ no presente e os ‘olhos’ no futuro, assim deve ser o ser humano responsável” (CARRILHO, 2019, p.115). Em suma: trata-se de agir a partir do local em que se vive e pensar desde uma perspectiva global. Aos governos competem realizar uma ação que pense a longo prazo e implementar um projeto com metas, prazos, métodos e regras para a execução. Não se trata de fazer apenas vigorar leis, mas de torná-las factíveis, avaliáveis e fundadas na verdade e na vontade de saber, “efetivada através do diálogo com o povo, com os diversos saberes e do diálogo interno no seio do sistema governativo” (CARRILHO, 2019, p.119).
Por fim, por cumprir muito bem o papel de ser uma dupla introdução, o texto de Marília Rosado Carrilho não é somente um comentário, mas, na verdade, um condutor até ao pensamento de Maria de Lourdes Pintasilgo. Seguir o percurso dessa obra, à qual se recomenda a leitura, é, de fato, perceber-se introduzido ao e no pensamento de Pintasilgo e, ao mesmo tempo, sentir-se impulsionado para além dos comentários aqui postos pela autora, permitindo-se encontrar, confrontar e discutir com os textos da própria Maria de Lourdes Pintasilgo.
Luís Gabriel Provinciatto – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil / Universidade de Évora, Évora, Portugal. Mestre em Ciências da Religião. E-mail: lgprovinciatto@hotmail.com
[DR]
Nas tramas da “cidade letrada”: sociabilidade dos intelectuais latino-americanos e as redes transnacionais | Adriane Vidal Costa
O movimento das ideias na América Latina (sua produção, circulação e apropriação) e a atuação dos sujeitos que lhes dão forma, os intelectuais, são agentes importantes para a compreensão da história da região e têm recebido atenção dos estudiosos há pelo menos algumas décadas. Sujeitos forjadores de discursos, os intelectuais agem na cultura (muitas vezes de forma estreita com o poder, como críticos ou sustentadores de sua ideologia), mobilizando signos para a transmissão de mensagens a serem decodificadas e/ou apropriadas. Na dinâmica entre matéria e subjetividade, operam a partir de relações, conectando espaços e sujeitos por meio de práticas individuais ou coletivas. As redes por eles gestadas transpassam frequentemente o espaço nacional, contribuindo para o questionamento da gênese de um pensamento, ao mesmo tempo em que possibilitam uma abertura contextual ao pesquisador que se debruçar sobre elas.
Essas reflexões são proporcionadas ao leitor de Nas tramas da “cidade letrada”: sociabilidade dos intelectuais latino-americanos e as redes transnacionais. Organizada por Adriane Vidal Costa, docente do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Claudio Maíz, professor titular em Literatura Hispanoamericana Contemporánea na Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), a obra é uma iniciativa do Núcleo de pesquisa em História das Américas (NUPHA) e do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, publicada no ano de 2018 como parte da coleção História da Editora Fino Traço. Leia Mais
Desaparecer de si: Uma tentação contemporânea | David Le Breton
A obra analisada é: “Desaparecer de si: Uma tentação contemporânea” sendo ela constituída por 223 páginas, e encontra-se dividida em 6 capítulos. David Le Breton é um professor de sociologia na Universidade de Strasbourg II e membro do laboratório “Culturas e sociedades na Europa”, do Instituto Universitário da França e do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Strasbourg. É um dos autores contemporâneos mais conhecidos por sua série de obras publicadas na França, como também por sua especialização em representações do corpo humano. Seu trabalho é sempre constituído por uma busca pessoal com raízes na adolescência, portanto, o autor tem grande influência nos estudos sobre o corpo e corporeidade (SOUZA, 2009).
Acredita-se que a obra de Le Breton a qual é tratada na presente discussão pode ser pensada na questão do indivíduo como um ser sem perspectiva e, portanto, fora dos movimentos de vínculos sociais. Isto é, o autor oferece uma compreensão do por que necessitamos do “desaparecer de si” temporariamente, para assim surgir a vontade de continuar viver, assim como desenvolvemos uma “paixão pela ausência”. Portanto, ao longo dessa resenha é perceptível uma referência as diversas formas do desaparecimento de si, perante a falta de desejos e da perca de perspectiva, isto é, as tentativas de fuga da realidade. Leia Mais
Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XVIII | María Cristina Pérez Pérez
En la última década, el interés por el estudio la imagen en el periodo colonial neogranadino, desde diferentes disciplinas y enfoques, ha aumentado. Nuevas miradas desde la historia, la antropología, y la misma historia del arte, han aportado valiosa información y reflexiones sobre la cultura visual de la época, pero al mismo tiempo han tendido a complejizar y abrir nuevas preguntas, actores y escenarios.
Más allá, de los ya clásicos trabajos de Santiago Sebastián, Luis Alberto Acuña o Gil Tovar, que enaltecían las figuras de grandes pintores, sin considerar del todo su realidad material o sus relaciones personales, las aproximaciones de Laura Vargas1, Olga Acosta2 , Jaime Borja3 o María Constanza Villalobos4 , entre otros, han hecho uso de importantes documentos o libros manuscritos, que han permitido comprender mejor el aprendizaje y la labor de los artesanos o artífices comisionados para hacer las imágenes o retablos, el funcionamiento ideológico de las pinturas o la importancia y circulación de los grabados europeos. Leia Mais
Caracterización técnica de la escultura policromada en la Nueva Granada | Yolanda Pachón
Una de las ideas más generalizadas que se ha tenido sobre la escultura de los siglos XVI al inicio del XIX en Colombia es que se trata de un campo poco estudiado, sin embargo, Yolanda Pachón en su imprescindible libro Caracterización técnica de la escultura policromada en la Nueva Granada evidencia el gran trabajo realizado durante décadas por restauradores y alumnos de la carrera de Restauración, tanto dentro del pionero Centro Nacional de Restauración de Colcultura como en su continuación dentro de la Universidad Externado de Colombia.
El mérito del libro no solamente se encuentra en la revisión de las historias clínicas de 172 obras que contaban con análisis de laboratorio (de una revisión inicial de 238) trabajadas por las instituciones antes mencionadas y también del archivo personal de la autora, sino en la capacidad de análisis y síntesis de la profesora Pachón para realizar la caracterización de la escultura neogranadina, campo que domina ampliamente. Leia Mais
Patrimônio em transformação. Atualidades e permanências na preservação de bens culturais em Brasília | Sandra Bernardes Ribeiro e Thiago Perpétuo
Efemérides são boas ocasiões para se olhar algo novamente e refletir. É nesse sentido que vem o livro Patrimônio em transformação – atualidades e permanências na preservação de bens culturais em Brasília. Lançado pelo Iphan em 2017, o exemplar aparece em momento de tripla comemoração: sessenta anos do projeto vencedor de Lúcio Costa para a nova capital; trinta anos da inscrição do Plano Piloto de Brasília na lista de patrimônio cultural da humanidade da Unesco; oitenta anos da criação do órgão destinado à proteção patrimonial. Como o nome prenuncia, trata-se de uma obra sobre patrimônio, dedicada a olhar Brasília e a trazer para reflexão discussões sobre a cidade que vem se modificando e consolidando. A publicação mostra-se como boa forma de celebrar, uma vez que se insere de forma atual e propositiva no debate. E, o olhar que se lança sobre a cidade-patrimônio, nesta ótima coletânea de artigos, traz contribuições significativas para pensá-la.
A tônica da obra é dissociar-se da ideia de que o respeito ao patrimônio implica fixidez. Compreende-se a mudança como algo imanente à condição de cidade dinâmica, e a necessidade de revisitar Brasília é lida como um exercício fundamental para sua própria proteção. O assunto da preservação patrimonial de – e em – Brasília não é novo, mas muito do que se aborda, e como, coloca-se como leitura enriquecedora para quem lida com o tema ou se interessa por ele. Encaram-se transformações por que passam a cidade dinâmica, e não mais projeto, trazendo reflexões e deixando claro quais são as questões que estão na ordem do dia para o órgão do patrimônio e que, não por coincidência, guardam relação com as datas que festejam. Leia Mais
Usos e sentidos no Patrimônio Cultural no Projeto Porto Maravilha, Rio de Janeiro | Leopoldo Guilherme Pio
1. Do Patrimônio cultural ao Porto Maravilha
O livro de Leopoldo Guilherme Pio se constituiu em uma contribuição importante para se pensar o patrimônio cultural, atualização e sua utilização no contexto das transformações urbanas ocorridas ao longo da última década na região central do munícipio do Rio de Janeiro.
Cabe o apontamento da situação específica desta cidade, sendo fortemente caracterizada como uma metrópole que se desenvolveu a partir de um incremento de suas potencialidades como polo de turismo e de demais eventos, neste caso, esportivos. Desta forma, buscou-se reforçar as estratégias para tornar o Rio de Janeiro como um centro atrator de negócios e atividades correlatas.
Nesta direção, o autor destacou a preocupação central de sua proposta que consistiu em compreender como a memória, contida nos patrimônios históricos, foi utilizada como recurso no contexto da estratégia de revitalização e modernização da região, a partir da proposta de desenvolvimento do Rio de Janeiro.
Tal processo ocorreu a partir da atribuição a cultura e ao patrimônio novas competências para revitalizar áreas degradadas, promovendo uma melhor qualidade de vida. Posteriormente, decidiu-se pelo foco na utilização da categoria patrimônio cultural como um instrumento de promoção do desenvolvimento econômico no interior da proposta do Porto Maravilha.
Para obter este intento, Pio (2017) se utilizou da categoria Patrimônio Cultural como elemento constituinte do patrimônio, presente na cidade do Rio de Janeiro desde os anos 1990, seja, por meio do o projeto do Corredor Cultural, seja com a proposta de 1 instalação do Museu Guggenheim, já sinalizando para o atual 2 momento, mesmo que timidamente. Neste ponto, Pio (2017) considera em seu livro, os termos “usos e sentidos” funcionando como ferramentas que classificam “os principais significados do patrimônio: o patrimônio como oportunidade econômica; como capital de inovação; como instrumento de gestão do espaço público e como símbolo de harmonia social e qualidade de vida”. (PIO, 2017, p.6)
O emprego do patrimônio como ferramenta para se pensar a imagem da cidade como elemento a ser comercializado, inseriu em uma dinâmica de mercado ao destacar pontos positivos e omitindo os negativos. No caso em questão, serão desenvolvidos os pontos positivos que passaram a ser valorizados nesta nova lógica de utilização do espaço urbano.
Tal processo é compreendido pelo autor como “patrimonialização, ou seja, a produção de processos que criam patrimônios, neste caso, na região em que se localiza o Porto Maravilha, em que se destaca o Circuito Histórico Arqueológico de Celebração da Cultura Africana, como representante deste processo.
O próprio autor salienta que a “organização do patrimônio como ramo fundamental da indústria de lugares e do turismo é um indicador desta mudança de paradigma … que se constituiu em mais um legado do que de recuperação de uma herança”. (PIO, 2017, p.59).
Este posicionamento ressaltou a presentificação do patrimônio e da patrimonialização acabando por conectar patrimônio e “marketing das cidades”.
Tal conexão permitiu perceber a aplicação do patrimônio como instrumento que pode funcionar como um “atrativo locacional” (CICCOLELLA, 1996), ou seja, um potencial a ser explorado, neste caso, o patrimônio histórico como uma oportunidade de negócios, como defende Pio (2017).
A partir das linhas gerais do autor, é possível salientar dois pontos relevantes como a implementação de uma proposta de city marketing, termo defendido por Vainer (1999) e Sanchez (2001) e a ênfase em um patrimônio, associado as classes populares, que adquire uma nova funcionalidade.
A primeira delas explica-se pelo fato destes projetos serem elaborados a partir de premissas do city marketing, ou seja, baseado na proposta que adotou o desenvolvimento econômico a partir da valorização de atrativos locacionais que uma cidade possua. No caso carioca, a área a ser “revitalizada”, ou utilizando os próprios termos de Pio (2017), a receber novos “usos” como parte da região portuária do Rio que convencionou-se denominar como Porto Maravilha.
Como pontos a serem desenvolvidos a partir da reflexão de Pio (2017), podemos desenvolver uma intensificação do city marketing e uma “revitalização” que explora uma área “marginal” que compõe uma região mais ampla que possui um projeto com uma perspectiva mais global.
A primeira delas consiste em uma adaptação do “city marketing” para uma área periférica da região central, discutida por Pio (2017) de forma inovadora no seu foco na dinâmica cultural como indutor de desenvolvimento na região do Porto Maravilha.
Esta linha pode ser um caminho valioso, mesmo ao ser aplicado em uma área que possui forte tradição associada a cultura negra como a Pequena Àfrica que passaram a se revalorizados, 3 evidenciando a possibilidade de estimular outras culturas e/ou grupos sociais que não possuem voz, a destoarem dos projetos de city marketing que predominantemente valorizam cultura erudita ou o setor de negócios.
Nesta direção, a discussão de Pio (2017) sinaliza para o reforço na valorização da cultura, neste caso, popular como caminho para se pensar estratégias alternativas para discutir formas de estímulo ao desenvolvimento econômico.
Já o segundo ponto, pensado de forma complementar ao primeiro, trata da revitalização de uma área periférica do centro carioca, suscitando duas questões: o termo “revitalização”, colocado como se não existe vida anteriormente e que daquele momento em diante, tivesse “recuperado” a vida, ou como destacou ABREU (1998), pretendeu-se valorizar uma memória urbana, por meio da “valorização atual do passado” como observado na reflexão de Pio (2017).
Assim, a busca por valorizar o passado, representado na memória urbana, defendida por Abreu(1998), como forma de reforçar uma identidade, neste caso, aquela relacionada a cultura negra, que hoje, por exemplo, instalou-se nos bairros em questão, Saúde, Gamboa e Santo Cristo, como locais símbolos de uma cultura negra que foi recuperado, mas não se criou uma vida nova, mas reforçar a memória urbana relacionado a cultura negra que hoje se tornou um 4 local de valorização e de resistência deste grupo.
Desta forma, a reflexão de Pio (2017) contribui consideravelmente tanto por se referir a oferta de questões quanto na proposição de novos caminhos para discutir o patrimônio, sua re-elaboração e em sua inserção de uma lógica de “comércio” das cidades e de seus espaços diversos.
Notas
1 Consistiu em um conjunto de iniciativas, criadas na região central carioca no decorrer dos anos 1980 até o início dos anos 1990, em que foi incentivada a revitalização desta por meio da utilização de seu patrimônio artísticos, arquitetônico e cultural.
2 Foi uma proposta de revitalização da região portuária da cidade, criada no final dos anos 1990, por meio da implementação de equipamentos culturais como museus, centros culturais e congêneres que sejam indutores de desenvolvimento no entorno da região em que são instalados.
3Esta área foi uma área que possui uma tradicional ocupação de população negra a partir do século XVIII e que continuou no bairro, mas sem valorizar esta tradição, sendo está recuperada nas duas últimas décadas, pela ação do movimento negro.
4 Representado por um passado, que vai desde um local de chegada de escravos negros até locais de interação e de resistência de negros e de sua cultura.
Referências
ABREU, Maurício. Sobre a memória das cidades in Revista da Faculdade de Letras – Geografia, 1 ª série, volume XIV, Porto, p.77-97, 1998.
CICOLLELA, Pablo. Las metrópoles latino-americanas en el contexto de la globalizacion: las mutaciones de las áreas centrais in Para Onde – UFRGS, Porto Alegre, 9 (1), p.01-09, janeiro – julho de 2015.
SANCHEZ, Fernanda. A reinvenção das cidades na virada do século: agentes, estratégias e escalas de ação política in Revista Sociologia e Política, Curitiba, 16, p.31-49, junho de 2001.
VAINER, Carlos. Pátria, mercado e mercadorias – notas sobre a estratégia discursivas do planejamento estratégico urbano in Anais dos VIII Encontro Nacional da ANPUR, Natal, 1999.
Fábio Peixoto – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. E-mail: fabiocope@gmail.com
PIO, Leopoldo Guilherme. Usos e sentidos no Patrimônio Cultural no Projeto Porto Maravilha, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Gramma, 2017. Resenha de: PEIXOTO, Fábio. O patrimônio cultural no âmbito do porto maravilha: novos usos de “antigos” lugares. Urbana. Campinas, v.12, 2020. Acessar publicação original [DR]
Identidad. Educar en la memoria – Claudio Altamirano
Victor Hugo Morales (esquerda) entrevista a Claudio Altamirano (direita) / Radio Continental AM 590 / 2017.
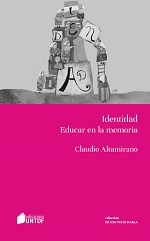 ALTAMIRANO, Claudio (2018). Identidad. Educar en la memoria. Ushuaia: UNTDF, 2018. 462 p. Resenha de: ZUBILLAGA, Paula. Clío & Asociados. La historia enseñada. La Plata, n.30, p. 172-174 Enero-Junio 2020.
ALTAMIRANO, Claudio (2018). Identidad. Educar en la memoria. Ushuaia: UNTDF, 2018. 462 p. Resenha de: ZUBILLAGA, Paula. Clío & Asociados. La historia enseñada. La Plata, n.30, p. 172-174 Enero-Junio 2020.
¿Para qué sirve el conocimiento de las experiencias relacionadas a la represión estatal durante la última dictadura argentina? ¿Existe una relación directa entre la construcción de un futuro democrático, la posibilidad de un “Nunca Más” y la transmisión de memorias del pasado reciente argentino vinculadas a la represión y la violencia? Existe una creencia bastante extendida entre los integrantes de diferentes programas educativos que ligan el deber de memoria – ese imperativo categórico, ese deber y respuesta ética y moral – con la construcción de una sociedad y un futuro más democrático, sin violencias. Aquella exigencia de que no se repita, de la que nos hablaba Adorno en 1966 -aunque respecto a Auschwitz-, inunda diversos espacios formativos de nuestro país. De esta forma, hay una preocupación central por la transmisión de memorias a las nuevas generaciones, aquellas que no vivieron ese pasado, lo que otros han llamado la dimensión o función “pedagógica” de la memoria.
Es en ese contexto que debemos entender la edición de Identidad. Educar en la memoria, producto del trabajo de los integrantes del Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho Programa fue creado en el año 2008, atendiendo a lo establecido por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 sancionada en el año 2006, y enmarca su trabajo, a su vez, en lo dispuesto por las leyes 25.633 y 26.001 -promulgadas en los años 2002 y 2005 respectivamente- que establecen la conmemoración en todos los niveles del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el Día Nacional del Derecho a la Identidad. De esta forma, el Programa que coordina Claudio Altamirano desde su creación, tiene entre sus propósitos promover el debate y la reflexión acerca del pasado reciente argentino y fortalecer el respeto de los derechos humanos. El mismo organiza entrevistas y charlas con diferentes referentes del movimiento de derechos humanos en distintas instituciones educativas de nivel primario, secundario y terciario, por lo que los testimonios compilados en el libro aquí reseñado son fruto de esas actividades, dando como resultado una obra polifónica, en la que se incluye la voz de distintas generaciones.
El volumen es una actualización, revisión y ampliación de Relatos. Educar en la memoria, libro publicado en el año 2012 por la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Ambas ediciones fueron pensadas como material de difusión de los testimonios que incluyen, y como material de formación tanto para docentes como para estudiantes. Aquel primer estudio era más breve, incluía menos testimonios y contenía imágenes de las actividades en las cuales se desarrollaron las entrevistas y relatos testimoniales. Desde esa edición, fueron restituidas 25 nuevas identidades biológicas ocultadas desde la última dictadura -incluida la del nieto de la presidenta de Abuelas-, lo cual, sumado a nuevas actividades y proyectos pedagógicos en el ámbito de la capital federal, explica la necesidad de un nuevo libro que contenga esas historias y esas experiencias.
Identidad. Educar en la memoria contiene dos Prólogos, el primero está a cargo de la hace más de 30 años presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y el segundo, a cargo de la docente Carmen Nebreda, miembro de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y ex diputada nacional, quien fuera la promotora de la versión preliminar del libro. La introducción y los distintos capítulos no tienen autoría, pero se entiende que fueron escritos en colaboración por distintos trabajadores del Programa, sobre la base de una investigación realizada 173 Altamirano, C… – Zubillaga por Sol Peralta y las propias preguntas que diversos estudiantes han realizado en las actividades desarrolladas desde el año 2008 hasta la actualidad.
El apartado “Las Abuelas van a la escuela”, luego de una breve reseña de la historia de Abuelas de Plaza de Mayo, incluye el testimonio de cuatro mujeres que integran la asociación y que han sido referentes de la misma: Estela Barnes de Carlotto, Delia Cecilia Giovanola, Buscarita Ímperi Navarro Roa y Rosa Tarlovsy de Roisinblit. El apartado se va construyendo entre el testimonio de cada una, narraciones complementarias del equipo del Programa y preguntas realizadas por estudiantes de distintos niveles del sistema educativo a las mismas. En los cuatro subapartados -uno por testimonio- se relata la vida de estas mujeres antes y después de la detención-desaparición de su hija o su nuera embarazada o de su nieta recién nacida -en tanto punto de inflexión-, las primeras acciones realizadas y el reencuentro con su nieto o nieta años después gracias a la lucha emprendida desde Abuelas de Plaza de Mayo. En los cuatro testimonios se advierte una naturalización del rol maternal femenino, una idea de haber hecho “lo que había que hacer” porque “cualquier mamá haría lo mismo”, cuando en verdad no todas las mujeres que tenían un familiar desaparecido -en este caso en particular el hijo, la hija, el nieto o la nieta- se organizaron y salieron a buscarlos públicamente. Asimismo, llama la atención que todavía se esquive hablar directamente de las organizaciones y de los proyectos políticos a los que adscribían los detenidos-desaparecidos y se utilicen fórmulas generales como “compromiso político” o “interés por lo social”.
“Las Madres van a la escuela” es el segundo apartado del libro, e incluye relatos sólo de mujeres que integran la organización Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora. Recordemos que la misma surgió en 1986 como desprendimiento de la Asociación liderada desde 1979 por Hebe Pastor de Bonafini, tras debates y tensiones iniciados al menos desde el cambio de contexto político en 1983. El libro contiene así el testimonio de 16 integrantes del organismo, algunas de las cuales forman parte del pequeño grupo que se reunió por primera vez en Plaza de Mayo en abril de 1977, hecho que en la memoria oficial de la agrupación ha quedado como el momento fundacional, en el contexto de la última dictadura argentina. Estos testimonios destacan y reivindican la figura de Azucena Villaflor De Vincenti y mencionan algunos hitos y símbolos que las caracterizan a nivel nacional e internacional como organización de mujeres vinculada a la defensa de los derechos humanos. Además de los relatos sobre la organización, cada subapartado narra la historia de la detención-desaparición de su hijo o hija, las primeras búsquedas, los miedos iniciales y la fuerza que les dio unirse a partir de una pérdida particular y unas relaciones previas.
El tercer apartado, “Los nietos van a la escuela”, luego de una breve reseña de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, está integrado por 17 relatos de identidades restituidas gracias a la labor emprendida por sus familiares y por Abuelas de Plaza de Mayo a nivel nacional e internacional. La selección del universo de 130 casos resueltos por la organización es muy variada y va desde los primeros casos en dictadura, como el de las hermanas Ruarte Britos y Jotar Britos a figuras públicas conocidas, como el actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación. De esta forma, compila la historia de hombres y mujeres a los cuales les fue restituida su identidad biológica en distintos momentos de su vida: en la niñez, durante la adolescencia o ya siendo adultos, con las complejidades que dicho proceso conlleva en cada etapa en particular. A la vez, muestra las características del plan sistemático de apropiación de menores y las complicidades civiles -médicos, enfermeras, parteras, trabajadores de la Casa Cuna y jueces- que permitieron que se implementara, aunque por supuesto la sustracción de menores durante la última dictadura no está ajena a ciertas prácticas y tradiciones de nuestro país. Los testimonios tienen en general dos momentos: la vida con los apropiadores -experiencia que supone la destitución de la identidad biológica, la familia de origen, la historia- y la restitución de la identidad falseada, entendida como sinónimo de libertad, reparación y verdad. No hay en general una visión romántica en los testimonios sobre el proceso de restitución y revelan las complejidades, miedos, culpas, rechazos iniciales, procesos internos y quiebres que debieron hacer, llegando a algunos a costarles más de una década sentirse “hijo de” y salirse del discurso del apropiador. Es que es evidente que este delito continuado tiene consecuencias que persisten en el tiempo y que debe atenderse y comprenderse en sus distintas dimensiones: psicológica, jurídica, genética y familiarmente, todas imbricadas entre sí.
A diferencia de los relatos previos del libro, en los testimonios de la generación de los hijos, se encuentra una mayor predisposición a señalar los espacios de militancia social y política de sus padres detenidos-desaparecidos: la Unión de Estudiantes Secundarios, la Juventud Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, Montoneros, Agrupación Eva Perón, el Frente Argentino de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Algunos la mencionan reivindicándola y otros simplemente respetándola, sin adherir necesariamente a la misma ideología. En algunos casos, también se señalan los propios espacios de participación y pertenencia, dado que muchos de los narradores son o han sido legisladores, diputados o funcionarios del Estado nacional durante gestiones actuales y pasadas del peronismo.
El último apartado es el más breve y, bajo la denominación “Los referentes van a la escuela”, está destinado al testimonio de Adolfo Pérez Esquivel -presidente del Servicio de Paz y Justicia y Premio Nobel de la Paz- y de Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor, reconocida como una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, detenida-desaparecida en diciembre de 1977. El primero es el único que logra apartarse de la experiencia de la última dictadura para hablar de derechos humanos en un sentido más amplio, incorporando a su relato fundamentalmente los derechos de los pueblos originarios, la nacionalización de los recursos energéticos y otras experiencias en América Latina. Dado que el título del apartado refiere a “referentes” llama la atención que no se incorporen otras figuras pertenecientes a otras organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre o el Centro de Estudios Legales y Sociales, por mencionar sólo algunos de los que tienen actuación en la ciudad de Buenos Aires.
Lamentablemente el libro no incluye las fechas ni establecimientos donde se realizaron las entrevistas y relatos testimoniales. Tampoco puede saber el lector con qué preparación llegaron los estudiantes de los distintos niveles a las mismas, o qué sucedió después de la visita de esas personalidades del movimiento de derechos humanos argentino. De esta forma, es imposible saber cuál era el objetivo, el sentido pedagógico que se le quiso dar al interior de cada aula: ¿Formación cívica? ¿Conocimiento del pasado? ¿Reflexión crítica? Vale decir que transmitir información sobre lo ocurrido, en este caso en forma de testimonio vivo, no significa necesaria, lineal o directamente una formación cívica y democrática. Cuando el lector se encuentra con preguntas del estilo “¿Cuál era su comida favorita?” o “¿Puede contar una anécdota?”, es casi imposible no pensar que en muchos casos no se dimensionó la oportunidad de tener a un protagonista de la historia reciente de nuestro país en el aula para llevar adelante una reflexión crítica y comprensiva sobre nuestro pasado. Así, se dispersa u ocluye en algunas respuestas brindadas, la complejidad de la realidad socio-política en la que estuvieron inmersos los narradores. No obstante, consideramos que debe celebrarse que al menos existan estos programas educativos estatales que intentan acercar el pasado reciente argentino a distintas instituciones a través de algunos de sus protagonistas. Sería deseable que en futuras reediciones, además de incorporar nuevas experiencias de apropiación/restitución, y las referencias a las fechas y lugares donde tuvieron lugar los testimonios, se incorporen voces de otras organizaciones del movimiento de derechos humanos así como de integrantes de sus filiales en otras localidades, a fin de obtener un panorama más amplio de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina.
Paula Zubillaga – IDH – UNGS/ CONICET. E-mail: paulazubillaga@gmail.com.
Cartografías didácticas. Una propuesta de recursos para pensar las ciencias sociales en las aulas de primaria – BARGAS; GARCÍA RÍOS (CA-HE)
BARGAS, Esteban; GARCÍA RÍOS, Diego. Cartografías didácticas. Una propuesta de recursos para pensar las ciencias sociales en las aulas de primaria. Mar del Plata: Cartograma, 2020. 128 páginas. Resenha de: CÉPARO, Martín. Clío & Asociados. La historia enseñada. La Plata, n.30, p.169-171, Enero-Junio 2020.
El presente texto es resultado de la reflexión a partir de la experiencia de los autores como formadores y capacitadores de docentes sobre de la necesidad de poner al alcance de los colegas del nivel primario una compilación de múltiples recursos para pensar el trabajo áulico de las Ciencias Sociales. En este sentido, parten de la complejidad del contexto actual donde la inmensa cantidad de recursos circula por el mundo virtual, por lo cual los autores proponen diagramar y acercar al docente, una selección de materiales que le sean útiles para su tarea cotidiana sobre las temáticas que se abordan desde este espacio curricular. Es por ello que recuperan la necesidad de resignificar la potencialidad de los materiales audiovisuales que son apropiados por los niños y jóvenes, así también como la dinámica que poseen los recursos del ciberespacio y para los cuales los estudiantes tienen mayor afinidad, y ello los convierte en un buen punto de partida para promover un mayor acercamiento a un objeto de estudio.
Sin pretender ser ambiciosos, los autores reconocen los problemas que puede generar el trabajo con estos materiales dado la “inconmensurable cantidad de elementos que navegan en la virtualidad” y “la fugacidad” que poseen muchos de ellos, hoy presentes y mañana imposibles de encontrar (p. 9-10). Ante estas problemáticas presentan dos soluciones en esta obra: por un lado han realizado una selección y organización de recursos en relación a algunos contenidos que consideran relevantes en cada año del nivel primario y, por otro, incorporan un código QR para poder redirigir con rapidez al mismo y facilitar su accesibilidad a quien quiera buscarlo. Esto constituye un aporte no menor, que se complementa con un comentario o sugerencia para trabajar dicho material, lo cual por ser breve, orienta y guía al lector en su posible uso ya que como señalan, el libro no es “un recetario de aplicación mecánica” (p. 125) sino que cada docente puede emplear su propia impronta y adaptar el recurso para planificar y ajustar a sus necesidades.
En la organización del texto presentan un sintético pero actualizado apartado teórico que permite problematizar los sentidos y significados de lo que se considera un recurso didáctico en función de una flexibilidad y capacidad del docente para poder pensar los mismos sin ceñirse a categorizaciones o estructuras tradicionales. Luego proceden a una diagramación graduada de los mismos según sean destinados desde el primer al sexto año de la escuela primaria, para lo cual seleccionan algunas temáticas relevantes para su tratamiento encuadrados en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios nacionales y presentes en los diseños curriculares provinciales.
Para el Primer año se centran en el eje de “Sociedades y Culturas: Cambios y continuidades” sobre el cual se presentan recursos para desarrollar la vida familiar y social en el presente y el pasado cercano. Para ello presentan con sus respectivas imágenes y códigos QR los enlaces a textos breves, documentales cortos de YouTube, entrevistas, fotografías procedentes de colecciones, sugerencias de lecturas para docentes o para que puedan ser trabajadas con los estudiantes. También incorporan recursos para abordar la vida familiar y las relaciones durante la sociedad colonial, sin perder de vista la complejidad de la temática y alejándose de una mirada tradicional. En esta línea incorporan recursos para analizar los paisajes urbanos y rurales mediante imágenes, páginas web, canciones y audiovisuales atractivos que inician a los estudiantes en el planteo de dichos espacios y, 170 Bargas, E. y García Ríos, D… – Céparo que a su vez, permite profundizar algún aspecto de ellos como las formas de trabajo o las herramientas de uso en ellos.
Para el Segundo año recuperan dentro del mismo eje, las formas de organización de las familias en diversos contextos sociales, ocupándose particularmente de las últimas décadas del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Los recursos propuestos alternan desde soportes fotográficos de los diferentes tipos de viviendas, la lectura de un artículo de investigación que ofrece datos y descripciones muy ricas para poder trabajar con los estudiantes, pinturas de Berni y letras de tango. En otro apartado los autores indican algunas sugerencias para poder replantear los cambios y continuidades en las formas de comunicaciones en la sociedad, renovando la mirada y resaltando la importancia que cobra este contenido en las Ciencias Sociales. Luego recuperan recursos para poder aplicar sobre la producción y la relación con el mundo del trabajo, por lo que seleccionan materiales que contribuyen sin lugar a dudas a desarrollar una mirada crítica sobre la complejidad y los problemas que conlleva el modelo actual de distribución de recursos.
Para el Tercer año sugieren el abordaje sobre los pueblos originarios de nuestro país y sus avatares en diferentes contextos: prehispánicos, coloniales y en la actualidad. Se proponen audiovisuales, mapas y materiales de trabajo que evidencian los conflictos y reivindicaciones que vienen llevando a cabo como grupos minoritarios. Luego se suma la problemática de la migración corriendo el eje de la migración europea, que si bien es trabajada, se incorporan las migraciones limítrofes y las oleadas actuales permitiendo conocer así la complejidad de nuestra realidad. Para este año también se suman recursos para pensar los derechos de los niños y su construcción como ciudadanos activos; y los circuitos y cadenas productivas vinculados a las consecuencias ambientales, demostrando la tensión entre el accionar de los sujetos y la naturaleza en los ámbitos urbanos y rurales.
En el Cuarto año se profundiza la mirada sobre las civilizaciones precolombinas más desarrolladas hacia el S XV y su reacción hacia los conquistadores españoles. La selección refleja la multiperspectividad en relación a las fuentes propuestas pudiendo abordarse las cosmovisiones de los sujetos sin perder de vista el contexto del cual provenían y los conflictos que se producen en relación al espacio, al poder o entre las castas sociales llegándose incluso hasta el periodo revolucionario. Dentro de otras temáticas posibles para el mismo año se proponen algunos aspectos y características formales del sistema federal con fuentes gráficas muy atractivas que recuperan de primera mano a la Constitución Nacional. Para este año, también se incorporan fuentes audiovisuales, páginas web, bibliográficas y mapas para trabajar la dimensión espacial de los ambientes argentinos en relación a las actividades productivas y los recursos naturales.
Para el Quinto año tanto los contenidos como las situaciones de enseñanza se refieren al periodo de la crisis del orden colonial pasando por la revolución, la independencia y avanzando en los confitos posteriores hasta la construcción del Estado Nacional. Particularmente resulta interesante el trabajo delos recursos sobre la escala, ya que se seleccionaron materiales diversos que analizan el proceso de la doble revolución y su influencia en el Rio de la Plata, así como problemáticas que escapan a una línea cronológica con la que usualmente se suele presentar estos aspectos político-institucionales o económicos. En cuanto al espacio geográfico los autores proponen analizar diferentes formas de territorialización ofreciendo breves fragmentos de textos y secuencias de sitios educativos, así como pinturas y audiovisuales sobre el Mocase, favoreciendo la indagación sobre estas temáticas.
En el Sexto año, en relación a los contenidos históricos, se analiza el proceso de construcción del Estado nacional argentino para lo cual se incluyen fotografías sobre ciudades como Buenos Aires y Santa Fe que resultan representativas para el abordaje de la temática. También se presentan recursos sobre temáticas no tradicionales para el análisis del periodo como la Guerra del Paraguay, la epidemia amarilla, el primer censo nacional y la Conquista del Desierto, cruzando con procesos complejos como el modelo agroexportador y la inmigración masiva. Para este mismo año, pero referido al tiempo presente proponen el eje Democracias y dictaduras para reflexionar con diferentes propuestas acerca del 24 de marzo en particular, sobre la identidad, los centros clandestinos de detención mediante mapas, artículos y animaciones. Luego para abordar la cuestión cultural se incorpora el tema dela organización política, la integración latinoamericana y su diversidad cultural mediante canciones, páginas web y fotografías. Después se analiza este espacio en relación a los ambientes y problematizando el uso de los recursos naturales a través de las nociones de riesgo y vulnerabilidad que pueden trasladarse en clave comparativa a múltiples espacios y escalas.
La intención de los autores que se plasma en esta propuesta abre una amplia gama de alternativas a los destinatarios directos como pueden ser los docentes y estudiantes, así como a quien busca sumar e iniciarse en la comprensión de temáticas sociales desde un enfoque actualizado y renovado. Recuperamos la explicación de los autores acerca del título, ya que resulta ilustrativa en la metáfora de lo artesanal que resultaba cartografiar como modo de plasmar subjetivamente un espacio, seguir las direcciones que guía una brújula y poder explorar el mundo que nos rodea uniendo imágenes y textos, como los mismos mapas o portulanos que guiaron a exploradores a buscar nuevos territorios siglos atrás. Así tarea del docente en búsqueda de recursos para presentar y trabajar lo convierte en un artesano de la educación, por lo cual su propuesta áulica resulta única aunque emplee un mismo recurso didáctico.
Martín Céparo – Universidad Autónoma de Entre Rios. E-mail: martin_ceparo@hotmail.com
A filosofia natural de Benjamin Franklin: traduções de cartas e ensaios sobre a eletricidade e a luz | Breno Arsioli Moura
Em A filosofia natural de Benjamin Franklin, Breno Moura (2019) traz sete traduções de cartas e ensaios redigidos ao longo do século XVIII pelo filósofo natural norte-americano Benjamin Franklin. Além de traduzir os escritos, Moura discute o contexto das produções, a sua importância para a filosofia natural e as implicações que tais textos tiveram na vida de Franklin. Após uma breve apresentação com a síntese biográfica do cientista, o livro conta com dois capítulos introdutórios que ajudam o leitor a situar a relevância de Franklin na filosofia natural do século XVIII e na política dos Estados Unidos da América (EUA), explicando também o contexto dos estudos sobre a eletricidade e a luz naquele século. Em seguida, o autor expõe as traduções de seis cartas e um ensaio, precedidas por uma breve explicação acerca do conteúdo encontrado em cada obra, de forma a auxiliar o leitor na compreensão dos escritos. Por fim, Moura faz algumas considerações finais sobre a importância de se estudar a história de Benjamin Franklin para além de sua carreira política, entendendo que a “filosofia natural de Franklin influenciou gerações de filósofos naturais do século XVIII” (MOURA, 2019, p.145), ainda que esse lado de sua biografia seja geralmente simplificado em prol de sua imagem como homem político. Leia Mais
A trajetória de um libertário: Pietro Gori na América do Sul (1898-1902) | Hugo Quinta
Hugo Quinta publica sua obra como resultado de dissertação de mestrado defendida em 2017 no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal da Integração Latinoamericana (UNILA). O autor atribui ao italiano Pietro Gori (1865-1911) um papel de influência nos círculos intelectuais anarquistas, socialistas e da criminologia de Buenos Aires ao final do século XIX e início do século XX (2018, p.28-29), bem como de outros países da América Latina, quando veio da Itália em viagem que durou cerca de três anos. Vejamos um pequeno trecho da introdução da obra:
Um dos primeiros feitos de Gori ao chegar em Buenos Aires, em junho de 1898, é a fundação da CM [Criminalogía Moderna, revista]. Ele não abandona a militância e propaganda anarquista enquanto dirige a revista. Na verdade, a energia imprimida por ele está, supostamente, equacionada entre a militância, ciência e a arte. Ainda assim, o círculo de atuação não está restrito à cidade. Ele percorre o país a proferir conferências, a visitar prisões e a apresentar suas peças teatrais nos círculos filodramáticos anarquistas. Nesse viés […] buscamos compreender a polivalência de sua influência no campo intelectual e cultural anarquista em Buenos Aires (QUINTA, 2018, p.28-29). Leia Mais
Diálogos suburbanos: Identidades e lugares na construção da cidade | Joaquim Justino dos Santos, Raffael Mattoso e Teresa Guilhon
Pensar a construção da cidade a partir de seus espaços de exclusão social e marginalização das populações pobres, eis aqui o objetivo central e transversal da obra organizada em conjunto pelos pesquisadores e professores Joaquim Justino dos Santos, Rafael Mattoso e Teresa Guilhon e que conta com colaborações de diversos profissionais e estudiosos dos subúrbios cariocas, oriundos, esses últimos, dos mais variados campos de estudo e atuação profissional. Antes de começarmos a destrinchar a obra, gostaríamos de apresentar um pouco da trajetória dos idealizadores desse projeto. Joaquim Justino dos Santos é formado em História pela UFF, mestre e doutor em Urbanismo pelo PROURB/FAU-UFRJ, tendo atuado durante vários anos como gestor público; Raffael Mattoso é formado em História pela UFRJ, mestre em História Comparada pelo PPGHC-UFRJ, doutorando em História da Cidade pelo PROURB-UFRJ e professor das redes pública e privada do Rio de Janeiro; e, Teresa Gilhon é formada em Comunicação Visual pela UFRJ, mestre em Bens Culturais e Projetos sociais pela FGV e é atualmente pesquisadora associada ao Laboratório de Estudos Urbanos do Centro de Pesquisa e Documentação de História Comparada do Brasil (CPDOC). Além de artigos de alguns dos organizadores, a obra ainda traz colaborações de professores, arquitetos, geógrafos, historiadores e cientistas políticos. Com relação aos autores, destacaremos aqui apenas suas áreas de formação, a fim de clarearmos um pouco o local de fala dos respectivos colaboradores. Ressaltamos de antemão que, o caráter interdisciplinar, presente nesse empreendimento, não se dá apenas pela filiação intelectual e profissional de seus produtores, como também pela série de enfoques, conceitos e métodos que são empregadas nas construções das narrativas sobre os subúrbios cariocas. Leia Mais
De espaldas a Cristo. Una historia del anticlericalismo en Colombia/1849-1948 | Gustavo Arce Fustero
Gustavo Arce Fustero es un historiador y sociólogo español que tuvo una experiencia de estudios en Colombia a comienzos de la década de 2000. Mientras cursaba su maestría en la Universidad Industrial de Santander inició una interesante investigación sobre los imaginarios clericales y anticlericales en España y Colombia, que continuó y amplió en su tesis doctoral de la cual se deriva el libro que reseñamos.1
Se trata de un texto sustentado en una amplia bibliografía, así como en documentación hallada en el Archivo Central del Cauca (Popayán) y en diversos periódicos especialmente de Bogotá, Popayán y Bucaramanga. Se sirve además de panfletos, opúsculos y hojas sueltas que reposan en bibliotecas que no se mencionan. A nivel teórico la obra se basa en clásicos de la sociología y de la antropología de la religión y de la cultura, como Max Weber, Émile Durkheim, Clifford Geertz, Claude Lévi-Strauss y Norbert Elias. Leia Mais
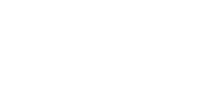


 Pía Montealegre / www.merreader.emol.cl
Pía Montealegre / www.merreader.emol.cl