Almanack. Guarulhos, n.32, 2022.
Palavras para Debate
- Almanack e a cincia abertauma breve reflexão sobre os desafios da produção e da divulgação científica
- Valentina Ayrolo, Cláudia Chaves
Artigos
- A dinâmica abolicionista nas lojas maçônicas de São Paulo (1850-1888)
- Renata Francisco
- Pequenos fujõestrabalho infantil doméstico em Fortaleza no final do século XIX e começo do século XX
- Eylo Fagner Silva Rodrigues
- A Revolta de 1842 e as “duas leis de sangue” na província de Minas Gerais
- Alex Lombello Amaral
- A Assembleia Provincial de Minas Gerais e o tráfico ilegal de escravizados (1839-1845)
- Kelly Eleutério Machado Oliveira
- “Tratamos de conceder a liberdade aos escravos, e não de escravizar os homens livres”os debates sobre o fim do tráfico de escravo e da abolição da escravatura na imprensa periódica angolana do século XIX
- Eduardo Antonio Estevam
- “Com a minha espada, defenderia a Constituição se fosse digna do Brasil e de mim”!Leviatã, Argos e liberalismos na Assembleia Constituinte de 1823
- João Paulo Mansur
- “Não basta produzir borracha”José Veríssimo (1857-1916) e a “civilização” do sertão amazônico no Grão-Pará (1883-1886)
- Felipe Tavares de Moraes
Resenhas
- Tal Brasil, qual projeto?
- Fábio Franzini
- Reconhecer e ser reconhecidoEstados independentes e novos governos e seus esforços para inserção na sociedade internacional
- Gabriel Passetti
- Memórias de um monarca africano no Brasiltráfico e história cultural pelas lentes de Mariza Soares
- Rosemeri Conceição
Publicado: 2022-12-13
Anais do Museu Histórico Nacional. Rio de Janeiro, v.56, n.1, 2022.
Editorial
- Editorial – Anais do Museu Histórico Nacional volume 56
- André Amud Botelho; Álvaro Marins, Daniele Del Giudice, Patricia Mafra
Dossiê temático
- Apresentando o dossiê “Mulheres e museus”Mulheres, museus e Museologia
- Fernanda Castro, Inês Gouveia, Lilian Amaral
- O VESTIDO DE MARIA BONITAMUSEALIZAÇÃO E DISCURSOS CONCORRENTES DA FEMINILIDADE NO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
- Ana Lourdes de Aguiar Costa
- Casas como máquinas de lembrarpatrimonialização e musealização na Casa de Dona Yayá
- Mayra Carvalho Ferreira de França
- Waldisa RússioUma museóloga social
- Inês Gouveia, Priscila Faulhaber
- Episódios de machismo cotidiano na Educação Musealmarcadores de gênero e sexualidade na relação entre museus e mulheres
- Karlla Kamylla Passos
- CHRISTINA BALBÃO:uma intelectual mediadora no campo dos museus
- Ana Carolina Gelmini de Faria, Daphne Victoria Telles Guterres da Silva
- Entrevista com Adriana Mortara de Almeida, Maria Ignez Mantovani Franco, Marília Xavier Cury, Milene Chiovatto, Rosalía Torrent Esclapés
- Fernanda Castro, Inês Gouveia, Lilian Amaral
- Especial – Independências
- “Eu quero o país que não está no retrato”a pintura histórica de Kent Monkman
- Andrea Roca
- Un superbo trionfo dell’arte italiana a S. Paulo:o concurso do Monumento à Independência pela perspectiva italiana
- Michelli Cristine Scapol Monteiro
- “Lembrete perene a recordar aos governos um dever irrevogável”as vigilâncias comemorativas do Centenário da Independência em Goiás e a pedra fundamental da futura capital do Brasil
- Clovis Carvalho Britto
- Os centenários7 de Setembro e 2 de Julho na Bahia, Brasil (1922-1923)
- Suely Cerávolo, Cinthia da Silva Cunha
Artigos
- Inventariando acervoso caso do Fundo Maria Beatriz Nascimento
- Wagner Vinhas
- Na fila da memória:megaexposições em museus brasileiros na década de 1990
- Ana Cristina Audebert de Oliveira, Bruno Porpora
Publicado: 2022-12-22
Introdução à Alfabetização Histórica para professores do Ensino Fundamental I
Itamar Freitas
UFS/Uneb
itamarfreitasufs@gmail.com
Introdução
Esta oficina de “letramento histórico” se destina aos professores do Ensino Fundamental 1, que atuam nas redes municipais da microrregião de Irecê-BA. A ideia do evento é compartilhar saberes e práticas resultantes da pesquisa básica e aplicada sobre Ensino de História por meio de estratégias ativas de aprendizagem.
A oficina tem caráter de formação continuada docente e é realizada com objetivos. O primeiro é estimular os professores a refletirem sobre os seus conhecimentos a respeito das categorias “passado” e “ciência da História”.
O segundo objetivo é instrumentalizar os professores com estratégias de leitura sobre o passado, tomando como parâmetros algumas habilidades, conhecimentos e valores partilhados pela maioria dos historiadores profissionais que atuam no Brasil.
Esses objetivos estão em consonância com a pesquisa recente na área do Ensino de História, que detectou uma ausência significativa nos cursos de formação inicial de professores em termos: (1) de informações sobre os modos de aquisição de conhecimento das crianças e jovens escolares (habilidades e emoções intervenientes na formação das aprendizagens históricas) e (2) informações sobre estratégias de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e valores historiadores que medeiam a compreensão do passado em situação escolar.
A proposição desta oficina, em síntese, se justifica pela necessidade de difundir a ideia de que o Ensino de História não necessariamente deve se pautar pela transmissão de conhecimento de fatos e processos históricos. Sem negligenciar esse conteúdo enfatizado nos exames gerais de escala, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a aprendizagem específica de modos de produção e de validação do conhecimento da ciência de referência (no caso, a História) é fundamental para a compreensão crítica dos referidos fatos históricos com seus constituintes (as datas tópicas, datas cronológicas, sujeitos, motivações, causas e consequências).
Assim, são pré-requisitos à participação na oficina: a predisposição para reconhecer desafios pessoais no que diz respeito à atividade de ensinar História para crianças e jovens não apenas circunscrita ao conteúdo factual e o desejo de ampliar a informação sobre consciência, memória e aprendizagem histórica.
Relações com os currículos em vigor
A oficina auxilia o cumprimento de orientações prescritas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e na Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).
Em relação à BNCC-Formação, a oficina de Introdução ao Letramento Histórico instrumentaliza o professor no que diz respeito à “a) compreensão da natureza do conhecimento e reconhecimento da importância de sua contextualização na realidade da escola e dos estudantes” (BRASIL, 2019, p.6).
No que diz respeito às relações com a BNCC, a oficina de introdução ao letramento histórico é estratégia para o desenvolvimento das seguintes competências 3, 4 e 6, que são específicas para o ensino de História:
- 3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.
- 4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
- 6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. (BRASIL, s.d, p.402).
Visão geral de Alfabetização Histórica
A junção das palavras “alfabetização” e “histórica” dá vazão a diversos significados, embora todos eles ressaltem o valor da expressão como orientador, ora dos meios, ora dos fins do ensino de História escolar.
O mais comum significado é o que pensa a alfabetização histórica como resultante da combinação entre habilidades de decifração de grafemas e fonemas e retenção de conhecimento substantivo de História. É o que se convencionou chamar de “Alfabetização com história” (Fonseca, 2009).
A alfabetização histórica [historical literacy] (Maposa, 2009; Barca, 2006), por outro lado, pode significar o emprego dos insumos do trabalho profissional do historiador: habilidades, conhecimentos e valores e, ainda, conceitos, princípios e procedimentos.
No século XIX, ela aparece como o emprego de “linguagem histórica”, ou seja, do glossário do tempo, casos únicos [cas uniques] e casos típicos [cas types] (Seignobos, 1907).
No século XX, a alfabetização histórica pode emergir como significado de aprendizado do conhecimento histórico [historical knowledge] (Ravitch, 1989), das estruturas de conhecimento [frameworks knowledge] (Howson, 2006), de habilidades históricas – trabalho com fontes, contextualização, heurística, método histórico, entre outros (Lee, 2003; Taylor, 2004; Wineburg, 2013; Nokes, 2013; Monte-Sano et al., 2014).
Por fim, nos séculos XX e XXI, o alfabetizar-se historicamente pode significar a aquisição de compreensão histórica [historical understanding] (Seixas, 1996), camadas de compreensão histórica [Layers of historical understanding] (Egan, 1989) e/ou de consciência histórica [historical consciousness] (Rüsen, 2012).
Nesta oficina, empregaremos a alfabetização histórica de modo típico e dominante: processo de aquisição/desenvolvimento/qualificação de ideias sobre Epistemologia Histórica. Epistemologia Histórica, por sua vez, é o domínio da História que estuda e justifica a plausibilidade da História como ciência, mediante o estudo e normatização da natureza e do processo do conhecimento histórico.
Em termo ideal-típicos – e acompanhando as assertivas de Hofer (2000), peço que compreendam operatoriamente a natureza do conhecimento histórico em termos da estrutura na qual se realiza (fatos isolados e autônomos ou fatos relacionados em contexto?) e da segurança que pode fornecer (conhecimento imutável e certo ou conhecimento mutável e incerto?). Em igual paralelismo, peço que considerem o processo de aquisição do conhecimento histórico em termos da sua fonte (externa ao Eu, interna ao Eu ou mediada entre o nosso Eu e o Eu de outras pessoas?) e em termo dos meios da sua justificação (observação e sentimento ou regras e critério de um domínio especializados?).
Dentro desse modelo, portanto, a formação de professores que ensinam História deve reservar parte das suas horas para atividades de alfabetização histórica em termos de diagnóstico e, em seguida, em termos de atividades de aprendizagem que possibilitem ao professor melhorar as suas ideias sobre Epistemologia Histórica em quatro dimensões: ideia sobre estrutura do conhecimento histórico; ideia obre a segurança que o conhecimento histórico pode fornecer; ideia de proveniência do conhecimento histórico; e, por fim, ideia de padrões de validação do conhecimento histórico.
Esse modelo formativo, contudo, exige que reconheçamos os seus limites político-ideológicos. Em primeiro lugar, as ideias que realizam a cientificidade da História, ou seja, a quádrupla constituição da Epistemologia da História sugerida, são apenas uma possibilidade. Em segundo lugar, a Epistemologia Histórica professada neste curso pode servir a várias finalidades da aprendizagem histórica, isto é, pode ajudar a realizar diferentes finalidades do componente curricular História.
Vamos então, avançar no processo de alfabetização histórica de modo prático. Vamos fazer o diagnóstico para, em seguida, discutir os resultados, identificando as ideias a modificar e as adequadas estratégias para iniciar o processo de modificação em quatro horas.
Cadernos de História. Belo Horizonte, v.23, n.38, 2022.
- Dossiê: Patrimônio Cultural
- Publicado: 08-12-2022
- Edição completa
- Expediente
- Expediente
- 1-5
- Editorial
- Editorial e Sumário
- Silvia Maria Amancio Rachi Vartuli
- Dossiê – Artigos: Patrimônio Cultural
- Ouro Preto: de Monumento Nacional a Patrimônio Mundial. As relações de pertencimento e reconhecimento da comunidade local com a cidade-patrimônio
- Isadora Parreira Ribeiro
- 9-32
- O processo histórico de territorialização Pataxó no Extremo Sul da Bahia no século XIX
- Ramon Rafaello Castro de Souza
- 34-53
- Patrimonialização de uma ruina: análise do caso Capela de Nossa Senhora do Rosário localizada em Santo Antônio do Pirapetinga em Piranga- MG
- Danielly Meireles Dias, Eduarda Alves Santos
- 54-63
- A cidade indesejada: a permanência provinciana na cidade de Mossoró (1908-1928)
- Ionara Costa de Oliveira
- 64-78
- A primeira Casa da Ópera na América Portuguesa: representações teatrais em Vila Rica na primeira metade do século XVIII
- Rosana Marreco Brescia
- 79-93
- Documentos históricos no Amapá e a preservação da memória cultural
- Elivaldo Serrão Custódio
- 94-111
- Falando sobre História Oral: entrevista com o Prof. Dr. Arnaldo José Zangelm
- Maycon Emilio Vicente Alves
- 112-120
- Memória e Cultura Popular: narrativas sobre a Cavalgada em louvor a São Sebastião
- João Paulo Pacheco Rodrigues
- 121-136
- O Foral de Benavente e o Direito Pátrio Local
- João Ferreira Dias
- 137-152
- O Teatro de memória encenado em museus históricos
- Lucinei Pereira da Silva, Kelly Amaral de Freitas, Luiz Henrique Assis Garcia
- 153-172
- Proibido vender e comprar: o caso da remoção das feiras livres na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte
- Clarissa dos Santos Veloso
- 173-193
Cadernos de História. Belo Horizonte, v.23, n.38, 2022.
- Dossiê: Patrimônio Cultural
- Publicado: 08-12-2022
- Edição completa
- Expediente
- Expediente
- 1-5
- Editorial
- Editorial e Sumário
- Silvia Maria Amancio Rachi Vartuli
- Dossiê – Artigos: Patrimônio Cultural
- Ouro Preto: de Monumento Nacional a Patrimônio Mundial. As relações de pertencimento e reconhecimento da comunidade local com a cidade-patrimônio
- Isadora Parreira Ribeiro
- 9-32
- O processo histórico de territorialização Pataxó no Extremo Sul da Bahia no século XIX
- Ramon Rafaello Castro de Souza
- 34-53
- Patrimonialização de uma ruina: análise do caso Capela de Nossa Senhora do Rosário localizada em Santo Antônio do Pirapetinga em Piranga- MG
- Danielly Meireles Dias, Eduarda Alves Santos
- 54-63
- A cidade indesejada: a permanência provinciana na cidade de Mossoró (1908-1928)
- Ionara Costa de Oliveira
- 64-78
- A primeira Casa da Ópera na América Portuguesa: representações teatrais em Vila Rica na primeira metade do século XVIII
- Rosana Marreco Brescia
- 79-93
- Documentos históricos no Amapá e a preservação da memória cultural
- Elivaldo Serrão Custódio
- 94-111
- Falando sobre História Oral: entrevista com o Prof. Dr. Arnaldo José Zangelm
- Maycon Emilio Vicente Alves
- 112-120
- Memória e Cultura Popular: narrativas sobre a Cavalgada em louvor a São Sebastião
- João Paulo Pacheco Rodrigues
- 121-136
- O Foral de Benavente e o Direito Pátrio Local
- João Ferreira Dias
- 137-152
- O Teatro de memória encenado em museus históricos
- Lucinei Pereira da Silva, Kelly Amaral de Freitas, Luiz Henrique Assis Garcia
- 153-172
- Proibido vender e comprar: o caso da remoção das feiras livres na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte
- Clarissa dos Santos Veloso
- 173-193
Diálogos. Maringá, v.26, n.2, maio/ago., 2022.
Artigos
- Os defensores dos acusados: argumentos de advogados nos crimes sexuais (Irati-PR, 1931-1950)
- Marcelo Douglas Nascimento Ribas Filho, Hélio Sochodolak (Autor)
- A crise do Beagle revisitada, 1978: um estudo com fontes (diplomáticas) brasileiras.
- Carlos Domínguez Avila, Virgílio Arraes (Autor)
- “Dona Sarah veste Dior”: o entrelaçamento de moda e assistência social na atuação da primeira-dama Sarah Kubistchek.
- Bruno Sanches Mariante Silva (Autor)
- O general e sua escrita: Resquín e sua Guerra del Paraguay.
- Eudes Fernando Leite (Autor)
- De uma tradição religiosa ao exotismo: balangandãs, uma história de representação (apresentação) de uma prática cultural (1947-1970)
- Elaine Cristina Ventura Ferreira (Autor)
- Belchior e o experimentalismo na música popular brasileira
- Gustavo dos Santos Prado (Autor)
- Uma confraria para salvar a história da imigração e colonização alemã do esquecimento: o Instituto Histórico de São Leopoldo (IHSL) e suas escritas
- Daniel Luciano Gevehr, Rodrigo Luis dos Santos (Autor)
- Do Paraná ao Paraguai: o espaço fronteiriço e a transfronteirização da DOPS/PR (1940)
- Micael Alvino Silva (Autor)
- Domingos da Silva de Oliveira, um escravizado do Sertão dos Inhamuns condenado pela Inquisição de Lisboa
- Amanda Teixeira da Silva (Autor)
Resenhas
- Cidadania, recrutamento e construção do Estado. Brasil, Estados Unidos e as guerras nas Américas na década de 1860
- João Fábio Bertonha (Autor)
Publicado: 2022-12-08
Repensando o Regime Vargas e seus desdobramentos/Antíteses/2022
Os acontecimentos dos anos 1930, 1940 e 1950 geraram uma série de transformações políticas, econômicas, culturais e sociais na História do Brasil. A chamada Revolução de 1930 alijou parte da oligarquia que estava no poder há décadas, e uma elite dissidente o assumiu. Em 1932, uma guerra civil colocou frente a frente grupos que lutavam pela direção do país. Nos anos que se seguiram, o Brasil acentuou a industrialização, e o Estado iniciou um projeto político que objetivava a inserção do crescente operariado em sua órbita.
Nesse contexto, surgiram a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, com projetos distintos para formatar a nação. Getúlio Vargas procurou manter-se no poder e enfrentou antigos adversários políticos de 1930 e 1932, que retornaram ao país em 1934, vindos do exílio e querendo a desforra. Na Câmara dos Deputados, conforme a Constituição de 34, os trabalhadores tinham seus representantes, que denunciaram seguidamente a estratégia de controle utilizada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a repressão que o governo fazia contra a imprensa e o movimento operário independente. Leia Mais
Antíteses. Londrina, v.15, n. Especial, 2022.
A independência do Brasil – 200 anos
Número especial comemorativo dos 200 anos da independência política do Brasil 1822-2022
Expediente
Apresentação
- Futuro passadoa história que 2022 deixará sobre 1822
- Maria Renata da Cruz Duran
Artigos
- Nonwhites and Brazilian independence in comparative perspective
- Wim Klooster
- O Tenente-Coronel Francisco Xavier Bigode (1772-1838) e a Independência na Bahia
- Hendrik Kraay
- O jogo duro do Dois de Julho e as narrativas sobre a participação da Bahia na Independência do Brasil em livros didáticos regionais para os Anos Iniciais.
- Ana Heloisa Molina, Carollina Carvalho Ramos de Lima
- Tráfico, “Revolução”, Independência e política em PernambucoA trajetória de uma empresa familiar no tráfico, 1817-1846
- Marcus Joaquim Maciel de Carvalho
- “Na forma que com tanta justiça se requer”O direito de petição no contexto da Independência do Brasil
- Andréa Slemian, Renata Silva Fernandes
- Uma “grande família hispano-lusitana”Silvestre Pinheiro Ferreira e o projeto de Confederação das Nações Independentes (1821 – 1822)
- Hevelly Ferreira Acruche
- Oliveira Lima e as longas durações da historiografia da Independência
- João Paulo Pimenta
- Com a benção de DeusOs padres nas ordens de Cristo e do Cruzeiro
- Camila Borges da Silva
- O Canto Genetlíaco de Alvarenga Peixotoentre a retórica setecentista e a independência política
- Caio Cesar Esteves de Souza
- Algumas notas sobre o Brasil no início dos anos 1820: Constituição, Independência e Política na segunda década do século XIX
- Gustavo Silveira Siqueira, Luis Henrique Braga Madalena, Paulo Victor Viana França
- De “Ilha da Vera Cruz” a “Brasil”Revisitação à origem do nome
- Onésimo Teotónio Almeida
Notícias de Eventos e Livros
Publicado: 07-12-2022
Clío & Asociados. La historia enseñada. La Plata, v.32, jul./dic., 2022.
Foto de tapa: “Acto en la Escuela Domingo F. Sarmiento” (Santa Fe, 1976). Créditos.
Investigaciones
- Los sujetos de la independencia de Brasil en la escuela y en otros lugares
- Helenice Rocha
- ePub
- HTML
- Educación política y enseñanza de las ciencias sociales en la escuela elemental
- Alicia Graciela Funes, María Esther Muñoz
- ePub
- HTML
- Los problemas sociales desde una perspectiva interdisciplinar en la enseñanza de las Ciencias Sociales y HumanasPercepciones y valoraciones del profesorado de Río Negro y de Neuquén.
- Erwin Saúl Parra, Sergio Remolcoy
- ePub
- HTML
- Enseñar sobre el pasado recienteExperiencias en escuelas secundarias e institutos de formación docente a partir de un documental interactivo sobre El Campito
- Analía Segal, Jaime Piracón, Mariana Ladowski
- ePub
- HTML
- Leer canciones de murga para tener memoria
- Lucía Brusa Orozco
- ePub
- HTML
Dossier: Enseñanza de la historia y pandemia
- Enseñar Historia en tiempos de pandemia desde la voz de los docentes
- María Cristina Garriga, Viviana Pappier
- ePub
- HTML
- De la peste negra al COVID 19. Enseñar Historia en tiempos de pandemia y pospandemia
- Melisa Paola Gómez
- ePub
- HTML
- Enseñar economía en tiempos de pandemia: experiencias alternativas en el nivel secundario de la provincia de Santa Fe, Argentina
- Gastón Arroyo, Lucrecia Milagros Alvarez
- ePub
- HTML
- Enseñar Historia en burbujas: el desafío de la bimodalidad. Relato de experiencias para la incorporación de capacidades en relación con el espacio y el tiempo
- Evelyn Marianel Falconer
- ePub
- HTML
- Reseñas
- Ministerio de Cultura de Perú (2021). 200 años después. Los escolares preguntan, los historiadores responden
- Gonzalo Zavala Córdova
- ePub
- HTML
- Latapí Escalante (2021). Enseñanza de las Ciencias Sociales. Pensar, Sentir, Hacer
- Mariela Coudannes
- ePub
- HTML
Publicado: 2022-12-05
História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.29 Suplemento 1, 2022.
- Histórias transculturais de psicoterapias: novas narrativas Carta Dos Editores Convidados
- Shamdasani, Sonu; Facchinetti, Cristiana
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- A crise de identidade da psicoterapia: reflexões sobre as historiografias das psicoterapias Análise
- Shamdasani, Sonu
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Da produção artística dos alienados: histórias de teorias e práticas do alienismo brasileiro, 1852-1902 Análise
- Facchinetti, Cristiana
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Psiquiatria imperial japonesa em Tóquio: dois imigrantes coreanos em um hospital psiquiátrico, 1920-1945 Analysis
- Suzuki, Akihito
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- The rise of psychoanalysis in US hospitals: William Alanson White at St. Elizabeths, 1903-1937 Analysis
- Hollman, Suzanne Nortier
- Resumo: EN ES
- Texto: EN
- PDF: EN
- Psychological reality and psychoanalysis at the Padua Laboratory of Psychology Analysis
- Foschi, Renato; Romano, Andrea
- Resumo: EN ES
- Texto: EN
- PDF: EN
- When art therapy went chemical: Alfred Bader, pharmacology, and art brut, c.1950-1970s Analysis
- Martinovic, Jelena
- Resumo: EN ES
- Texto: EN
- PDF: EN
- The refused interpretation in Freud, Jung and beyond: what if the patient says “no” Analysis
- Innamorati, Marco
- Resumo: EN ES
- Texto: EN
- PDF: EN
- A “relação terapêutica”: surgimento, obscurecimento e transformações de uma tecnologia social Análise
- Koch, Ulrich
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Terapias globales, psiquiatras locales: la circulación de tratamientos de shock y su implementación en Rosario, Argentina, 1936-1944 Analysis
- Allevi, José Ignacio
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- A imigração no discurso médico-psiquiátrico brasileiro no pós-Segunda Guerra Mundial Análise
- Marques, Guilherme dos Santos Cavotti; Carvalho, Carolina da Costa de
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Da medicina psicossomática à psicologia médica: a trajetória teórica e institucional de Julio de Mello Filho Análise
- Guedes, Carla Ribeiro; Rangel, Vanessa Maia; Camargo Jr, Kenneth Rochel de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- História da saúde em São Paulo: entre a política e a psiquiatria de Antônio Carlos Pacheco e Silva Resenhas
- Toledo, Eliza Teixeira de
- Texto: PT
- PDF: PT
- A rede kraepeliana: conhecimentos psiquiátricos no Brasil e na Alemanha, do final do século XIX ao início da Segunda Guerra Mundial Reviews
- Bahiense, Leonardo
- Texto: EN
- PDF: EN
Arquivo – APCBH. Belo Horizonte. V.9, n.9, 2022.
- Sumário
- Agradecimentos 4
- Editorial 6-8
- DOSSIÊ O CARNAVAL DE RUA VOLTA A OCUPAR A CIDADE: irreverências, lutas e mercado econômico na festa da capital mineira (2010 a 2020) Denise Falcão Hélder Ferreira Isayama 10-32 CARNAVAL DE RUA DE BELO HORIZONTE: ontem e hoje Ana Flávia Rezende Luiz Alex Silva Saraiva 33-50
- CONFIGURAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS NOS OUTROS 360 DIAS: ensaios sobre o bloco Então, Brilha! Isabella Pontello Bahia Wânia Maria de Araújo 51-69
- CONSIDERAÇÕES PERFORMATIVAS SOBRE O JOGOFESTA-RITO PARA O FENÔMENO DA CARNAVALIZAÇÃO EM BELO HORIZONTE Thálita Motta Melo 70-90
- PORTAL DA MEMÓRIA: um monumento em partilha Maria Tereza Dantas Moura Rita Lages Rodrigues 91-105
- LAGOINHA, O BERÇO DO SAMBA DE BELO HORIZONTE? História, Memória e Tradição Renata Lopes 106-124
- ENTREVISTA Rita Ribeiro 125-128 ARTIGOS LIVRES ÀS MARGENS DA CIDADE OFICIAL: uma análise das paisagens e das personagens anônimas das fotografias produzidas em Belo Horizonte no período 1925-1930. Alessandro Borsagli Brenda Melo Bernardes Amaro Sérgio Marques 129-148
- TIPOLOGIAS DE HABITAÇÃO COLETIVA EM BELO HORIZONTE, NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX: registros do acervo do APCBH Jurema Marteleto Rugani Maria Marta dos Santos Camisassa 149-179
- BELO HORIZONTE ATRAVÉS DAS PÁGINAS DA REVISTA BELLO HORIZONTE (1933-1950) Yasmine Ávila Catarinozzi da Costa Sérgio Antônio Silva 180-202
- BORRACHALIOTECA SOBRE RODAS: mobilidade para ações culturais na cidade Rita Ribeiro Anderson Horta 203-216
- INDUSTRIALIZAÇÃO NA ZONA URBANA DE BELO HORIZONTE E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (1922-1926) Marina Rozendo Silva Maria Lúcia Prado Costa 217-236
- EDUCAÇÃO PATRIMONIAL VAMOS PASSEAR NA PRAÇA? Educação patrimonial para crianças Marcela Camargos Dias Marília de Fátima Dutra de Ávila Carvalho 237-253
- “TUDO O QUE É SÓLIDO DESMANCHA NO AR”: a construção de Belo Horizonte entre idealização e precarização Larissa Renner de Ávila Alves Lucas Fernandes 254-269
- DEBATES SOBRE ANISTIA E REDEMOCRATIZAÇÃO EM BELO HORIZONTE (MG): uma análise a partir de um discurso da vereadora Helena Greco Maria Cruz Ferraz 270-279
História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.29, n.4, 2022.
- A história como janela para o futuro: os 21 anos do Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde Carta Da Editora Convidada
- Lima, Nísia Trindade
- Texto: en pt
- PDF: en pt
- Do cuidado do corpo: imprensa e higiene no Rio de Janeiro oitocentista Análise
- Gagliardo, Vinicius Cranek
- Resumo: en pt
- Texto: en pt
- PDF: en pt
- A sociologia latino-americana na Guerra Fria Cultural: Florestan Fernandes, Aldo Solari e o Ilari Análise
- Maia, João Marcelo Ehlert
- Resumo: en pt
- Texto: en pt
- PDF: en pt
- Uma visão dos trópicos de Heinrich Gerber, 1850-1860: ciência e pensamento econômico de um engenheiro politécnico alemão no Império do Brasil Análise
- Cravo, Télio
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- Orígenes y desarrollo de una política científica nacional en Chile: Conicyt, 1967-1981 Análise
- Zárate, María Soledad; Sierra, Daniel; Goldflam, Margarita
- Resumo: en es
- Texto: es
- PDF: es
- La implantación de la jornada laboral de ocho horas en las farmacias españolas, 1904-1936 Análise
- Nozal, Raúl Rodríguez
- Resumo: en es
- Texto: es
- PDF: es
- A institucionalização da biologia na British Association for the Advancement of Science, 1866-1894 Análise
- Rodriguez-Caso, Juan Manuel
- Resumo: en pt
- Texto: en
- PDF: en
- Pandemias de influenza ao longo da história brasileira Análise
- Read, Ian William Olivo; Musacchio, Aldo
- Resumo: en pt
- Texto: en
- PDF: en
- A arte de partejar um programa de pós-graduação em história: os 20 anos do Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde: entrevista com Margarida de Souza Neves Depoimento
- Neves, Margarida de Souza; Kodama, Kaori; Fonseca, Maria Rachel Fróes da; Hochman, Gilberto; Ferreira, Luiz Otávio
- Resumo: en pt
- Texto: en pt
- PDF: en pt
- Coleção de modelos anatômicos do Museu da Pharmacia da Universidade Federal de Ouro Preto Fontes
- Sousa, Luiz Eduardo; Borges, Ingrid da Silva; Pimenta, Raphael David; Cunha, Thiago Rodrigues Araújo; Farias, Juliana de Paula; Naves, Sarah Meirielle Ferri; Amorim, Kalila Assis; Guimarães, Andrea Grabe
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- Álbum/Relatório das Atividades das Pequenas Irmãs da Divina Providência: registros da assistência médico-social na Região Carbonífera Catarinense, 1955-1957 Fontes
- Alves, Ismael Gonçalves; Rabelo, Giani
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- Fome, um objeto da história? Resenhas
- Andrade, Rômulo de Paula
- Texto: pt
- PDF: pt
- Uma história das leishmanioses em perspectiva global Resenhas
- Silva, André Felipe Cândido da
- Texto: pt
- PDF: pt
- El Libro de Cirugía, manuscrito de medicina jesuita en las misiones del cono sur Resenhas
- Asúa, Miguel de
- Texto: es
- PDF: es
- Ser madre en la Argentina de comienzos del siglo XX: una mirada impostergable Resenhas
- Miranda, Marisa Adriana
- Texto: es
- PDF: es
Andes – Antropología e Historia. Salta, v.33, n.2, 2022.
Portada
- Telma Liliana Chaile (dir.)
Artículos
- Las políticas socioeducativas: Un recorrido y análisis histórico a partir de los programas de orquestas infanto juveniles
- Maria Laura Fabrizio
- Docencia, escritura y mediación cultural: María Alejandra Urrutia Artieda (Azul, años treinta y cuarenta)
- María Soledad González
- María Antonia acude a la justicia. Oportunidades y límites para la emancipación de las personas esclavizadas en Paraná durante el proceso abolicionista
- Francisco Sosa, Alejandro Richard
- Conflictos en las fronteras del Chaco. La disputa entre Córdoba y Santa Fe hacia mediados del siglo XVIII
- Daniela Sosnowski
- Dossier Historiografía, héroes provinciales y memoria colectiva
- Introducción al dossier. “Historiografía, héroes provinciales y memoria colectiva”
- Pablo Buchbinder
- Juan Felipe Ibarra y su lugar en el panteón. de los festejos por los 100 años de la autonomía provincial al año del bicentenario (1920-2020)
- Oscar Estaban Brizuela
- Las conmemoraciones de la batalla de salta entre la fundación del Club 20 de Febrero y el “Primer Peronismo”. Apropiaciones, resignificaciones y disputas”
- Luciana Sofia Dimarco
- ¿Qué entendió Sarmiento por caudillo y caudillismo? Repensar la construcción del fenómeno desde la última edición del Facundo (1874)
- Hernán Fernández
- ¿Una provincia sin caudillo? Tucumán frente a la imagen de Bernabé Aráoz
- Facundo Nanni
- Dossier Muertes, rituales y políticas en pandemias
- Desconcierto. Percepciones y dimensiones de la epidemia
- Gabriela Ramos
- Tudo se proibia, só a morte não era proibida!!”: As restrições às encomendações de cadáveres durante a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro (1848-1851)
- Claudia Rodrigues
- Espacio, poder, estética ritual y agencia postmortuoria: El funeral de estado de Diego Maradona
- Bárbara Martínez
- Contar muertes en pandemia. Apuntes para una comparación de las experiencias de Argentina e Inglaterra frente al Covid-19
- Cecilia T. Lanata-Briones, Claudia Daniel, Natalia Romero Marchesini
- Covid-19, inequidad y necropolitica en Brasil; el primer año de la pandemia
- Marcos Cueto
- Muertes, rituales y políticas en pandemias. Notas al dossier
- Gabriela Caretta, Sandra Gayol
Reseñas
TransVersos. Rio de Janeiro, n.26, 2022.
IMIGRAÇÃO NO TEMPO PRESENTE: EXPERIÊNCIA DE VIDA E DIREITOS HUMANOS NO BRASIL
EXPEDIENTE
- Expediente
- Revista Transversos
APRESENTAÇÃO
- Apresentação
- Lená Medeiros de Menezes, Giselle Pereira Nicolau
- NARRATIVAS DE UM IMIGRANTE HAITIANO: EXPERIÊNCIAS DE ORGANIZAÇÃO E RESISTÊNCIA
- ANA PAULA SANTANA DE SOUZA, Karla Cunha Pádua
- LA PRESIDENCIA PRO-TÉMPORE DE BRASIL EN EL PROCESO DE QUITO; ¿ES POSIBLE ALCANZAR UNA GOBERNANZA MIGRATORIA REGIONAL?
- LUIS SANTIAGO MANZANO, MARCO ANTONIO GRANJA
- PDF (ESPAÑOL (ESPAÑA))
- MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS NUMA CIDADE MÉDIA BRASILEIRA NO SÉCULO XXI
- Vania Beatriz Merlotti Heredia
- TRAJETÓRIAS MIGRANTES: JEITOS DE SER E ESTAR NO MUNDO DE DEMBA SOKHNA
- Cristine Fortes Lia, Katani Monteiro, Franciele de Almeida de Oliveira
- Crianças e adolescentes refugiadas no Rio de Janeiro: quais políticas?
- Marileia Inoue, Ariane Rego de Paiva
- Refugiados congoleses em cidades periféricas um estudo de caso.
- Julianna Carolina Oliveira Costa, Rui Aniceto Nascimento Fernandes
EXPERIMENTAÇÕES
- COSTURANDO NARRATIVAS DO TEMPO PRESENTE: A TRAJETÓRIA DE AFRICANOS NO RIO DE JANEIRO
- Giselle Pereira Nicolau
ENTREVISTA
- Imigração e refúgio
- Luís Reznik
Revista de História e Historiografia da Educação. Curitiba, v.5, n.11, 2022.
- DOI: http://dx.doi.org/10.5380/rhhe.v5i11
Dossiê – Formas de ensinar e aprender: culturas e disciplinas escolares na transição entre os séculos XIX e XX - Sumário
- Expediente
- Revista de História e Historiografia da Educação
- 1
- Dossiê Temático
- Apresentação – Dossiê “Formas de ensinar e aprender: culturas e disciplinas escolares na transição entre os séculos XIX e XX”
- Antonieta Miguel, Solyane Silveira Lima
- 2-6
- Do modelo de formação de educadoras às práticas de educação infantil em Portugal na passagem do século XIX para o XX
- Margarida Louro Felgueiras, Juliana Martins da Rocha
- 7-35
- Entre mapas, globos, sólidos, cadeiras e relógio: objetos para as aulas do Lyceu de Sergipe (1848-1851)
- João Paulo Gama Oliveira, Rosemeire Marcedo Costa, Eva Maria Siqueira Alves
- 36-63
- A história ensinada na Bahia da Primeira República
- Antonieta Miguel, Solyane Silveira Lima
- 64-94
- Antônio Pacífico Pereira e a myopia como hygiene escolar do corpo infantil (1876-1881)
- Ione Celeste Jesus de Souza
- 95-114
- Instituições educativas e embates político-pedagógicos: a construção da escola no Ceará
- Maria Juraci Maia Cavalcante, José Wagner de Almeida
- 115-146
- Intersecções entre a formação da profissionalidade docente e a intelectualidade
- Simone Dias Cerqueira de Oliveira
- 147-173
- Aprender “a ser mais homem”: uma verdade inventada no complexo processo de aprendizagem
- Maria Zélia Maia de Souza
- 174-194
- As enfermeiras-visitadoras em Sergipe e a difusão de saberes para o cuidado em saúde (1931-1939)
- Kelly Cristina Resende Rocha, Simone Silveira Amorim, Vera Maria dos Santos
- 195-220
- Documentos
- Carta do professor Cincinato Ricardo Pereira Franca do ano de 1918
- Ladjane Alves Sousa
- 221-229
- Fluxo Contínuo
- A renovação da educação brasileira à luz das ideias pedagógicas de Anísio Teixeira
- Vinícius dos Santos Moreira, Carlota Boto, Elisabete dos Santos Freire
- 230-250
- As representações sociais das professoras na Revista do Ensino do Rio Grande do Sul (1969-1976)
- Juliana Collares da Silva, Alessandro Carvalho Bica
- 251-276
- Resenhas
- O educador e seus tempos – Investigações e percursos
- Carolina Cechella Philippi
- 277-282
- História da historiografia e profissionalização do ofício no Brasil
- Tiago Conte
- 283-289
Anuario del Instituto de Historia Argentina. Buenos Aires, v.22, n.2, 2022.
Artículos
- “Queremos ser como los indios”: las izquierdas y la cuestión indígena. Etnicidad, clase y política en Argentina a fines del siglo XIX
- Lucas Glasman
- HTMLPDFEPUB
- Prácticas artísticas y socioculturales en la última dictadura militar. Danza Abierta y experiencias cordobesas de danza y teatro (1981-1983)
- María Verónica Basile
- HTMLPDFEPUB
- La construcción de una esfera pública y una sociedad civil moderna en una villa de frontera: Río Cuarto en la década de 1870
- Luciano Nicola Dapelo
- HTMLPDFEPUB
Dosier
- Abolición y post-abolición de la esclavitud en la América Hispana: cambios legales y trayectorias personales. Una introducción
- Magdalena Candioti
- HTMLPDFEPUB
- La ley de libertad de vientres y su condición paradojal: una aproximación interseccional (Chile, 1811-1823)
- Carolina González Undurraga
- HTMLPDFEPUB
- Desde Louisiana a Tejas mexicano y luego Tamaulipas: la búsqueda de la libertad en la frontera entre México y Estados Unidos
- María Camila Díaz Casas
- HTMLPDFEPUB
- Abolición de la esclavitud en Mendoza, 1853: Liberación y trayectorias sociales de los últimos esclavizados
- Orlando Gabriel Morales, Luis César Caballero
- HTMLPDFEPUB
- La abolición de la esclavitud en Corrientes. Itinerarios y formas de vida de los esclavos liberados antes y despues de 1854
- Fatima Valenzuela
- HTMLPDFEPUB
- Abolición y posabolición de la esclavitud en Paraná (Entre Ríos): la trayectoria de la familia Ferreira Antunes y sus esclavos
- Francisco Sosa
- HTMLPDFEPUB
Reseñas
- Reseña de Goldman, Noemí (Ed.). Lenguaje y política. Conceptos claves en el Río de la Plata (1780-1870), Buenos Aires: Prometeo Libros, 2021, 150 páginas, ISBN 978-987-8331-44-7
- Adriana Milano
- HTMLPDFEPUB
- Reseña de Jerez, M. y Kindgard, A. (2021). El peronismo en los confines. Salud, vivienda, educación y trabajo en el interior de Jujuy (1943-1955). Buenos Aires: Editorial de la Universidad de Mar del Plata-Grupo Editor Universitario
- Nicolás Hernández Aparicio
- HTMLPDFEPUB
Publicado: 2022-12-01
Estudos de História Regional: Minas Gerais por sua História /História em Curso/2022
No encerramento de 2022, a Revista História em Curso apresenta o seu 6º número com o Dossiê temático: Estudos de História Regional: Minas Gerais por sua História. Foi importante, diante das tantas perdas físicas e simbólicas que vivenciamos no nosso tempo, lançar o olhar para dentro, para tudo que se renova a todo tempo e que é a historiografia regional mineira e das contribuições que ela traz para compreensão dos estudos da especificidade de Minas Gerais e dos Estudos de História do Brasil e História Geral. Leia Mais
Revista Brasileira de História da Mídia. São Paulo, v.11, n.2, 2022.
- DOI: https://doi.org/10.26664/issn.2238-5126.1122022
- Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia
- Sumário
- Expediente
- Expediente
- Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia
- Sumário
- Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia
- Editorial
- Editorial
- Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia
- Artigos Gerais
- Revival of phonecard collection as a hobby in Brazil
- Wagner de Souza Tavares
- PDF (English)
- Informações em cartões telefônicos como fonte de pesquisa: caracterizando uma coleção particular
- Claubert Wagner Guimarães de Menezes, Ana Paula Araujo Silva
- O “Golpe dentro do Golpe” na imprensa? Posicionamento dos jornais na divulgação do AI-5
- Allysson Viana Martins
- Estratégias de legitimação do relato memorialístico sobre a imprensa alternativa na ditadura militar: o depoimento de Ziraldo em Resistir é Preciso
- Leopoldo Pedro Neto, Marcos Paulo da Silva
- Cem anos de feminicídios registrados em O Estado de S. Paulo
- Luciane Fassarella Agnez, Paula Barbirato Gutierrez
- A televisão começa no Rio de Janeiro: as transmissões experimentais da TV Tupi no então Distrito Federal
- Lucia Santa-Cruz, Fernando Morgado
- Os primeiros 50 anos da TV em Santa Catarina: concentração geográfica da mídia televisiva
- Carlos Roberto Praxedes dos Santos, Lilian Carla Muneiro
- A regionalização da televisão no Brasil: a implantação das emissoras pioneiras nos estados e regiões
- Valquiria Aparecida Passos Kneipp, Francisco das Chagas Sales Júnior
- A noção de política nas eleições paraibanas de 2010
- Clara Câmara
- Três décadas de debates eleitorais municipais na Rádio Gaúcha: do tradicional estúdio ao formato drive-in
- Marizandra Rutilli
- A música nas rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo: tensionamentos culturais e modelos de musicalidades midiatizadas
- Raphael F. Lopes Farias, Juliana Marília Coli
- “Tem gente achando que você é analfabeto”: recepção de anúncio all-type
- Guilherme Libardi, Nilda Jacks, Danillo dos Santos Lima
- Entrevistas
- Desenhista da experiência: entrevista com Gilmar de Carvalho (in memoriam)
- Fernando Nobre
Educação Histórica. Curitiba, n.25, 2022.
Número 25 / julho – dezembro 2022
APRESENTAÇÃO……………………………………………………………………… 09 APRENDER
DIFERENTES FONTES HISTÓRICAS: UM ESTUDO COM ALUNOS NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ana Claudia Urban……………………………………………………………………………………. 12
POSSIBILIDADES DA APRENDIZAGEM HISTÓRICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA Andressa Garcia Pinheiro de Oliveira; Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt………………………………………………………………………………………… 19
EDUCAÇÃO HISTÓRICA E MULTIPERSPECTIVIDADE: UMA PROPOSTA DE TRABALHO COM O CONCEITO SUBSTANTIVO NAZISMO A PARTIR DE FONTES FÍLMICAS DIVERSIFICADAS Éder Cristiano de Souza; Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt…………. 34
EDUCAÇÃO HISTÓRICA E IDEIAS DE ESCRAVIDÃO: PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO EM MANUAIS DIDÁTICOS NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Lilian Costa Castex……………………………………………………………………………………. 47
LITERACIA HISTÓRICA, UM DESAFIO PARA O ENSINO DE HISTÓRIA NO SÉCULO XXI Maria Auxiliadora Schmidt………………………………………………………………………….. 60
RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA Marilu Favarin Marin; Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt………………. 68
NARRATIVAS DO MANUAL DIDÁTICO: APROPRIAÇÕES PELOS ALUNOS DO CONCEITO SUBSTANTIVO ESCRAVIDÃO Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd……………………………………………………………….. 86
RESENHA GAGO, Marília. Consciência histórica e narrativa na aula de história: conceções de professores. Porto: CITCEM/Edições Afrontamento, 2018. 250p. Lorena Marques Dagostin Buchtik; Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt………………………………………………………………………………………… 99
Fronteiras Revista de História. Dourados, v. 24, n. 43, 2022
EDITORIAL
APRESENTAÇÃO
- História, memória e práticas das periferias brasileiras, africanas e latino-americanas: cidadania, invisibilidade social e silêncio
- Nielson Rosa Bezerra, Linderval Augusto Monteiro
DOSSIÊ 19: HISTÓRIA, MEMÓRIA E PRÁTICAS DAS PERIFERIAS BRASILEIRAS, AFRICANAS…
- Olaudah Equiano ou Gustavus Vassa: o que há em um nome?
- Paul E. Lovejoy
- Fala a mulher da rua: narrativas do feminino e saber periférico com as pombagiras
- Clairí Zaleski, Luiz Rufino
- Saci-Pererê e São Benedito: entidades negras, religiosidade e memórias da escravidão
- Elaine Pereira Rocha
- Em nome de Allah e de Orixá: conexões entre Lagos e Rio de Janeiro nos anos de 1890-1930
- Thamires Guimarães
- Indígenas, caboclos e africanos: as periferias e o imaginário da independência do Brasil
- Nielson Rosa Bezerra, Andrea Mendes
- O cordel de Leandro Gomes de Barros: um retirante na capital pernambucana, um poeta entre dois mundos
- Erasmo Peixoto de Lacerda
- População e ocupação de escravos, homens livres e libertos no Recôncavo da Guanabara, Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX
- Moises Soares
- Os transportes na formação urbana das periferias: a luta dos moradores de São Mateus pela circulação na cidade de São Paulo
- Adriano José de Sousa
ARTIGOS LIVRES
- Gustavo Barroso e a evocação do pretérito
- Elynaldo Dantas
- Representações do rural no radioteatro de Florianópolis na década de 1950
- Michel Goulart da Silva
- O negacionismo político-científico no cotidiano de trabalho da categoria médica: uma análise com base na história oral
- Edmar Aparecido de Barra e Lopes
COLABORAÇÃO
- Pareceristas Ad hoc
- FRONTEIRAS: Revista de História
PUBLICADO: 2022-12-01
Gnarus. Rio de Janeiro, v.10, n.13, 2022.
- Edição Completa:
- On-Line / PDF
- Fernando Gralha
- ANO X – Nº 13 – dezembro/2022
- Apresentação (Fernando Gralha)
- ARTIGOS:
- O CONTEXTO EDUCACIONAL QUILOMBOLA EM UMA ESCOLA LOCALIZADA EM TERRITÓRIO QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES. (Anaclecia Vieira de Jesus e Maria Alayde Alcântara Salim)
- On-Line / PDF
- PALAFITAS E MODO DE VIDA LACUSTRE NO MARANHÃO: RELATOS COLONIAIS E NATURALISTAS (Alexandre Guida Navarro e Marilene da Silva Banhos)
- On-Line / PDF
- A FORÇA DA ESCRAVIDÃO SOB A LENTE DE UMA MODESTA CIDADE: PORTO FELIZ, SÃO PAULO, NA SEGUNDA METADE DO OITOCENTOS (Carlos Santos da Silva)
- On-Line / PDF
- O “CANTO DOS MALDITOS”: COMPREENDENDO HOSPÍCIOS BRASILEIROS DO SÉCULO XX A PARTIR DA ESCRITA DE AUSTREGÉSILO CARRANO BUENO (Edivaldo Rafael de Souza)
- On-Line / PDF
- ESCRAVIDÃO NO BRASIL: ASSINATURA DA LEI ÁUREA E UMA IMENSA POPULAÇÃO NEGRA LARGADA A PRÓPRIA SORTE (Rodrigo Lopes Alves dos Anjos)
- On-Line / PDF
- E INFLUÊNCIA DE KANT SOBRE A HISTORIOGRAFIA CIENTÍFICA (André Vinícius Dias Senra e Adílio Jorge Marques)
- On-Line / PDF
- ENSAIO ACERCA DA OBRA INVENÇÃO DE ORFEU DE JORGE DE LIMA LIDA SOB VISADA DA CARTA A LUA: O CAMINHO INICIÁTICO DO TARÔ NA LITERATURA BRASILEIRA (Fernanda L. N. de Mattos)
- On-Line / PDF
- A APROXIMAÇÃO ENTRE OGUM E SÃO JORGE NA UMBANDA: RESSIGNIFICAÇÕES DAS PRÁTICAS CULTURAIS PRÉ-CONTEMPORÂNEAS EUROPEIAS E AFRICANAS (Adílio Jorge Marques e Marcelo Alonso Morais)
- On-Line / PDF
- SOBRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O MUNDO ATUAL (Maria Eduarda D. de O. Marques)
- On-Line / PDF
- COLUNA: NO ESCURO DO CINEMA
- O OLHAR OPOSITOR EM COURO DE GATO (Silvio Da-Rin, Rafael Garcia Madalen Eiras e FIdelys Fraga da Costa)
- On-Line / PDF
- MOBILIZAÇÃO DAS IMAGENS MENTAIS PELO CINEMA NA VIRADA DO SÉCULO XIX PARA O XX (Renato Pessanha)
- On-Line / PDF
- COLUNA: FOTOGRAFIAS DA HISTÓRIA
- Visualidade, cultura pública e cidadania (Fernando Gralha)
- On-Line / PDF
- INTERDISCIPLINAR
- ENSINANDO FÍSICA: O MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME (MRU) EM EXPERIMENTO DE BAIXO CUSTO. (Adílio Jorge Marques)
- On-Line / PDF
- Edição Completa:
- DOWNLOAD PDF
- Fernando Gralha
-
The Unsettled Plain: An Enviromental History of the Late Ottoman Frontier | Chris Gratien
«Çukurova è inesauribile»1: questa espressione dello scrittore Yaşar Kemal, riportata nei ringraziamenti da Chris Gratien è l’espressione più calzante per riassumere in una battuta l’ottimo saggio The Unsettled Plain. La frontiera del tardo periodo ottomano analizzata è la Cilicia: le sue pianure e i ritmi di vita dei suoi abitanti tracciano un percorso attraverso le diverse e convulse fasi finali dell’impero ottomano e degli albori della Repubblica di Turchia. L’autore analizza la regione della Cilicia nei suoi mutamenti da vilayet (provincia) ottomano dell’Ottocento a protettorato francese degli anni Venti del Novecento, alla sua trasformazione durante la Repubblica di Turchia. Leia Mais
L’era degli scarti | Marco Armiero
In un’intervista rilasciata per la rivista «Geography Notebooks» nel 2020, Marco Armiero ha definito l’ecologia politica come «quel campo di ricerca indisciplinato dove si guarda alle relazioni socioecologiche senza nascondere il potere e le diseguaglianze»1. Il libro L’era degli scarti. Cronache dal Wasteocene, la discarica globale, pubblicato per Einaudi nel 2021, si colloca precisamente lungo questa direttiva: proporre una narrazione politica capace di inquadrare la crisi socio-ecologica in atto a partire dal rapporto tra «scarti, diseguaglianze e il mondo che stiamo creando»2. Leia Mais
Oil Palm: A Global History | Jonathan E. Robins
The two main fields of reference of Jonathon Robins’ new book, Oil palm: a global history, are immediately revealed in its title: the history of commodities and global history. This work fits within the historiographical genre famously inaugurated by Sydney W. Mintz in 1985 1. It is not by chance that Robins, associate professor of History at the Michigan Technological University, investigated the history of another commodity, cotton (in the British Empire), before dealing with palm oil. Furthermore, the title indicates that the main character of the book is not the commodity itself but the tree producing it. In sum, it tells «the story of how humans used and lived with oil palms» 2. Surely this choice is also due to the fact that the oil palm tree, differently from the cotton plant for example, gives birth to more than one commodity: indeed, palm kernel oil played almost as fundamental a role in the globalization of palm products as the much more renowned palm oil (palm wine, on the other hand, never developed an appeal outside of African domestic markets). Leia Mais
Geel/la città dei matti. L’affidamento familiare dei malati mentali: sette secoli di storia | Renzo Villa
Durante l’acceso dibattito che si svolse, alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento, in seno al Consiglio provinciale di Cuneo per valutare la possibile realizzazione di un manicomio provinciale, si segnalò tra le altre una voce, quella del consigliere Michelini. Liberale e convinto sostenitore dell’idea di nazione, fattosi spesso notare per le chiare posizioni anticlericali1 e per la generosa partecipazione ai moti del 1821 2, il conte avanzò una critica radicale all’idea stessa del manicomio, in quanto luogo d’esclusione. La sua proposta, sviluppata «colla lettera diretta all’egregio dottore Parola»3, era insieme il frutto dell’esperienza di viaggiatore e di un orizzonte mentale aperto e riformista, tanto coraggioso quanto non in linea con le esigenze disciplinari dei tempi. Giovanni Battista Michelini, dopo aver visitato il villaggio belga di Geel, conobbe una modalità diversa di “curare” l’alienazione mentale e la propose alla Commissione Provinciale. Nel villaggio gli alienati soggiornavano presso le famiglie del contado «ove godono d’una libertà che non esclude le cure che esige il loro stato»4. Questa rivoluzione terapeutica aveva raggiunto una certa notorietà nel 1803, quando il prefetto del Dyle aveva deciso, dopo aver preso accordi con le autorità locali, di «trasportare a Geel i pazzi che si custodivano in Bruxelles»5. Esquirol, che visitò il villaggio nel 1821, sostenne che a Geel c’era una colonia di pazzi che si mandano da tutti gli angoli del Dipartimento e dei dipartimenti vicini. Questi infelici sono in pensione presso gli abitanti; passeggiano liberamente nelle contrade, mangiano coi loro ospiti e dormono in loro casa. Se si abbandonano a qualche eccesso, si mette loro dei ferri ai piedi, il che non li trattiene dall’uscire di casa. Questo strano traffico è da tempo immemorabile la sola risorsa degli abitanti di Gheel; non si è mai udito, che ne siano derivati degl’inconvenienti6. Leia Mais
La liberazione di Roma. Alleati e Resistenza | Gabriele Ranzato
Nel 1997, all’ingresso del ponte dell’industria, che collega i quartieri Ostiense e Marconi, il comune di Roma fece erigere una lapide in bronzo con l’iscrizione: «In ricordo delle dieci donne uccise dai nazifascisti il 7 aprile 1944». Questa lapide commemora il cosiddetto eccidio del ponte dell’industria, che è stato menzionato per la prima volta in un saggio di Cesare De Simone nel 1994 1. Secondo la sua ricostruzione SS e militari della Guardia Nazionale Repubblicana fucilarono sul ponte dieci donne che avevano assaltato un forno vicino. Lo storico Gabriele Ranzato nel suo recente libro La liberazione di Roma ha però messo in dubbio la veridicità dell’episodio2. Mentre la lapide c’è ancora oggi, i curatori dell’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, in seguito alla pubblicazione del volume di Ranzato, hanno inserito l’eccidio nella sezione «Episodi dubbi o controversi» 3. Leia Mais
História do Direito. Curitiba, v.3, n.5, 2022.
- DOI: http://dx.doi.org/10.5380/hd.v3i5
- Jul-dez de 2022.
- Edição completa
- Ver ou baixar a edição completa
- Sumário
- Apresentação
- Apresentação (v. 3, n. 5, 2022)
- 7-8
- Ferramentas
- Cidades Invisíveis no Império do Direito: cautelas de método para a História do Direito
- Walter Guandalini Junior
- 10-22
- Culto e Cultura da Historiografia Jurídica na Itália
- Carlos Petit
- 23-39
- L’Interpretazione come Missione. Il ruolo dell’interprete nella riflessione di Paolo Grossi
- Alberto Spinosa
- PDF (Italiano)
- 40-52
- Experiências
- Um caminho para a compreensão do pensamento jurídico de Teixeira de Freitas: seu manuseio da bibliografia na Introdução à Consolidação das leis civis
- Renato Sedano Onofri
- 54-80
- Juan de Solórzano Pereira (1575-1655) e a “Política Indiana”: elementos de teoria e prática do direito na América Espanhola (séc. XVII)
- Alfredo de Jesus Dal Molin Flores, Estéfano Elias Risso
- 81-99
- Período Vargas: Estado e direito administrativo no Governo Provisório
- Mamede Said Maia Filho
- 100-125
- Resenhas
- Uma chave interpretativa para a história da administração pública nos Estados Unidos da América Resenha do livro: W. J. Novak. New Democracy – The creation of the Modern American State.
- Laila Maia Galvão
- 127-133
- Memória
- Bartolomé Clavero (1947-2022). In memoriam
- Sebastián Martín
- PDF (Español (España))
- 135-149
Una guerra di nervi. Soldati e medici nel manicomio di Racconigi (1909-1919) | Fabio Milazzo
Il lavoro di Fabio Milazzo – docente e ricercatore per l’Istituto storico della Resistenza di Cuneo, oltre che collaboratore di diverse riviste storiche e autore di svariate pubblicazioni sul tema della devianza ma non solo1 –, si inserisce come un ulteriore e prezioso tassello nel mosaico delle storie che stanno emergendo dagli archivi degli ospedali psichiatrici, e che via via contribuiscono a illuminare di una luce sempre più vivida le diverse vicende della Grande guerra, un momento cruciale per la storia italiana, ma anche per quella, più specifica, della psichiatria. Leia Mais
Die Achse. Berlin-Rom-Tokio 1919-1946 | Daniel Hedinger
L’Asse Berlino-Roma-Tokyo – secondo la denominazione adottata, soprattutto nel mondo anglosassone, per definire l’insieme di accordi che unirono Italia, Germania e Giappone dal Patto anticomintern al Tripartito – appare ancora oggi uno dei costrutti politico-internazionali più controversi dell’età contemporanea. Onnipresente fino al termine della Seconda guerra mondiale tanto nella propaganda dei tre regimi quanto nelle rappresentazioni e nelle considerazioni strategiche dei loro avversari, nonché assunta come capo d’imputazione per “cospirazione contro la pace” nei processi di Norimberga e Tokyo, l’alleanza tripartita scomparve rapidamente dalla memoria pubblica del dopoguerra, oscurata da una percezione nazionale delle singole esperienze autoritarie e da una visione regionalizzata del conflitto mondiale, con la netta distinzione del teatro bellico europeo da quello asiatico-orientale e una gerarchia d’importanza che subordinava il secondo al primo. A partire dagli anni Cinquanta, la storiografia sul Tripartito si è concentrata prevalentemente sugli aspetti diplomatici e sui contatti bilaterali, ponendo al centro la Germania e i suoi rapporti con Italia e Giappone, mentre le relazioni italo-giapponesi erano liquidate come un prodotto secondario dell’avvicinamento italo-tedesco. In questa prospettiva l’Asse parve un’«alleanza senza alleati» 1, debole e «inefficace» 2 perché minata da insanabili contraddizioni interne – dipendessero queste dall’accesa rivalità ideologica tra Roma e Berlino oppure dall’innaturale collaborazione tra il razzismo nazista e un paese asiatico che aveva presentato una proposta di uguaglianza razziale alla Conferenza di pace di Parigi. Leia Mais
Mitas coloniales: ampliando universos analíticos/Diálogo Andino/2022
Hace un par de años proyectamos ofrecer estas páginas de reflexión. Nos es muy grato presentar este dossier dedicado a la institución laboral de la mita colonial y las distintas formas y variantes que conoció durante el periodo virreinal entre los siglos XVI y XIX en el espacio peruano. Sin lugar a duda, la forma más ampliamente conocida y estudiada de la mita colonial ha sido la minera y, en particular, la que se organizó en torno a la producción de plata en el Cerro Rico de Potosí en la entonces jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, núcleo sobre el que se consolidó la actual Bolivia. No obstante, poco se ha indagado y develado sobre otras formas de mitas, relevantes para la organización de los mundos del trabajo en el periodo mencionado.
Este dossier constituye precisamente una apuesta a estudiar la pluralidad de actividades laborales que dieron cuerpo a las mitas coloniales, así como su complejo entramado de sentidos interconectados, no siempre equivalentes, aunque con un referente común. Proponemos analizar la mita tanto en sus sentidos normados como en sus más diversos usos prácticos. Desde la perspectiva de la historia de los mundos del trabajo, se ha intentado no perder de vista las posibles conexiones con otros sistemas laborales dentro y fuera del escenario peruano colonial, en el marco de los debates actuales sobre los trabajos coactivos, libres y no libres en Latinoamérica. Leia Mais
Anales de Historia Antigua, Medival y Moderna. Buenos Aires, v.56, n.2, 2022.
Artículos
- La historiografía de la participación de libres en las guerras serviles tardorrepublicanas
- Fernando Martín Piantanida
- El significado histórico de la rivalidad entre alamanes y burgundios en el siglo IV
- Ítalo Enrique Sgalla Malla
- Uassallis uassallorum: élites rurales y trabajadores dependientes en León, siglos XI-XIII
- Analía Aurora Godoy
- Reforma de la Iglesia y crisis de la cristiandad en las obras de Juan Bernal Díaz de Luco (1495-1556)
- Claudio César Rizzuto
- Entre la consolidación del proyecto confesional y las estructuras jerárquicas de género: los sodomitas condenados en el Compendio del jesuita Pedro de León (Andalucía, 1578-1616)
- Jorge Emmanuel Soria
Publicado: 2022-12-01
Canoa do Tempo. Manaus, v.14, 2022.
- Dossiê 2022.1: Religiões e religiosidades na Amazônia: dinamismo e resistências
- Dossiê 2022.2: Relações de gênero: temas, problemas e perspectivas
- DOI: https://doi.org/10.38047/rct.v14.FC.2022
- Publicado: 2022-06-29
- Apresentação
- ApresentaçãoIntroduction
- Anderson Vieira Moura, Rafael Ale Rocha
- 1-2
- Dossiê-Religiões e religiosidades na Amazônia: dinamismo e resistências
- Apresentação – Religiões e religiosidades na Amazônia: dinamismo e resistências
- André Dioney Fonseca, Diego Omar
- 1-13
- Notícias de cultos pretos em Manaus nas primeiras décadas do século XX
- Adriano Magalhães Tenório
- 1-20
- Ervas, fé e (cons)ciência! Covid-19 e a experiência de um terreiro de Candomblé
- Josivaldo Bentes Lima Júnior, Adan Renê Pereira da Silva
- 1-24
- Pentecostalismo e protagonismo caboclo no campo religioso amazônico
- Liliane Costa Oliveira, Marilina Conceição Oliveira Bessa Serra Pinto
- 1-20
- A Eclesiosfera em Movimentotransformações organizacionais e reprodução da Igreja no Maranhão contemporâneo
- Wheriston Silva Neris, Ernesto Seidl
- 1-31
- Aspectos da diversidade religiosa do estudante universitário:uma pesquisa com estudantes do Curso de História do Centro de Estudos Superiores de Parintins
- Cristian Sicsu da Glória
- 1-26
- A refração metadiscursiva do adventismo na Amazônia em “Libertos: o preço da vida” (2018)
- Aleandro Gonçalves Leite
- 1-17
- Dossiê-Relações de gênero: temas, problemas e perspectivas
- Apresentação – Relações de gênero: temas, problemas e perspectivas
- Júlio Cláudio da Silva, Claudia Maria de Farias, Joceneide Cunha dos Santos
- 1-4
- Soraia André: a luta dentro e fora dos tatames para a (re)construção de si
- Cláudia Maria de Farias
- 1-18
- Entrevista com Joana Maria Pedro
- Júlio Cláudio da Silva, Cláudia Maria de Farias, Joceneide Cunha dos Santos
- 1-13
- Interseccionalidade e lutas por direitos nas trajetórias das atrizes negras, Ruth de Souza, Léa Garcia e Zezé Motta, (1940-1960)
- Júlio Cláudio da Silva
- 1-29
- Masculinidades populares, virilidade, poder e respeitabilidade no interior da Bahia (Feira de Santana e além, últimas décadas do século XX)
- Alessandro Bastos
- 1-17
- Entrevista com Solange Pereira da Rocha
- Júlio Cláudio da Silva, Cláudia Maria de Farias, Joceneide Cunha dos Santos
- 1-14
- Vivências das mulheres trabalhadoras nos seringais (1940-1950)
- Agda Lima Brito
- 1-24
- “Sou pau pra toda obra!”: vida e trabalho de Maria Souza
- Naia Maria Guerreiro Dias
- 1-18
- A testemunha do outro sexo: relações de gênero no relato de si e na História
- Andréa Bandeira
- 1-17
- Artigos Livres
- Difusões de vegetais em Moçambique: dinâmicas locais, regionais e transcontinentais, com ênfase em plantas amazônicas, no contexto do Brasil ColôniaLOCAL, REGIONAL AND TRANSCONTINENTAL DYNAMICS, WITH EMPHANSIS ON AMAZONIAN PLANTAS, IN THE CONTEXT OF COLONIAL BRAZIL
- Carlitos Luis Sitoie, Gilton Mendes dos Santos
- 1-30
- Histórias documentadas: José María Blanco, a beatificação de jesuítas e o martírio colonial na América
- Prof. Maria Cristina Bohn Martins, Prof. Jefferson Nunes
- 1-28
- A Escola Normal Rural Murialdo: memórias de egressos (1947-1963)
- José Edimar de Souza
- 1-19
- “Não convêm aos franceses que seja o rio Oiapoque a raia para os dois domínios”: políticas e disputas na região fronteiriça das Guianas Francesa e Portuguesa nas décadas finais do século XVIII
- Paulo Marcelo Cambraia da Costa
- 1-25
Clínica/laboratório e eugenia: uma história transnacional das relações Brasil-Alemanha | Pedro Muñoz
Pedro Muñoz is a young historian and psychologist who is influenced by the philosophy of Michel Foucault. Clínica, laboratório e eugenia: uma história transnacional das relações Brasil-Alemanha ( Clinic, laboratory and eugenics: a transnational history of Brazil-Germany relations ) is a partially modified version of his PhD dissertation, part of which he conducted at Freie Universität Berlin with a scholarship from the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) and Deutscher Akademischer Austauchdienst (Daad). His youth belies a classical approach to historiography. He is not a Rankean historian looking for absolute truths, but a creative researcher with a genuine appreciation for old and yellowed paper. For his dissertation and book, Muñoz visited 11 German archives and perused different issues of 23 journals. Leia Mais
Psiquiatria e política: o jaleco/a farda e o paletó de Antônio Carlos Pacheco e Silva | Gustavo Querodia Tarelow
Antonio Carlos Pacheco e Silva (1898-1998) nasceu no limiar do século, filho de abastada família paulista. Em seus textos memorialísticos, o renomado psiquiatra relatou o ambiente que o esperava quando veio ao mundo na capital de São Paulo: um lar “puro e coeso” ( Tarelow, 2020 , p.40). De certa forma, na obra Psiquiatria e política: o jaleco, a farda e o paletó de Antonio Carlos Pacheco e Silva, notamos que as noções atribuídas a esse lugar doméstico – “pureza” e “coesão” – serviram como coordenadas para suas atividades médicas e políticas ao longo da vida. Nelas se pautaram seu investimento em um ideal de povo brasileiro e suas contribuições como intelectual, principal tema que percorre a obra de Tarelow. Leia Mais
Tornar-se negro ou índio: a legalização das identidades no Nordeste brasileiro | Jan Hoffman French
O título é autoexplicativo: Tornar-se negro ou índio trata de processos identitários no último terço do século 20, experimentados por moradores das proximidades do Rio São Francisco, em territórios alagoano e sergipano. A pesquisa empreendida pela advogada Jan Hoffman French, que é também antropóloga, na Universidade de Richmon (EUA), foi desenvolvida nos anos 1990 e narra a transição identitária das populações Xocó e Mocambo: de trabalhadores rurais aparentados e próximos em território, a índios e quilombolas, respectivamente, que cultivaram interesses distintos nos anos 2000. Essa é a história substantiva da obra. Em termos metahistóricos, o livro trata do papel positivo do Estado e da globalização nesse processo de empoderamento (reconhecimento identitário e posse da terra) das populações subalternizadas. Mais importante, o livro informa sobre as implicações desta pesquisa para a produção de novo modelo teórico que aborda, conjuntamente, a emergência de identidades indígena e negra, em sociedades sustentadas por Estado democrático de direito: a criação do modelo de “legalização das identidades”. Trata-se de um conjunto de procedimentos e categorias que explicam o processo de construção de identidades no qual “a própria lei e suas interpretações” são modificadas “ao longo do tempo”, à medida em que “as pessoas por ela afetadas utilizam-na de diversas formas e, nesse processo, passam por uma transformação identitária” (p.34). Tais situações envolvem não apenas os agentes clássicos do Estado, mas também a Igreja Católica, ONGs, advogados, antropólogos e procuradores do Ministério Público (governamentalidade). Leia Mais
Resgate. Campinas, v.30, 2022.
Publicação contínua
- Capa: Lygia Eluf (sem título, série Desenhos da Quarentena, técnica: nanquim/papel, 35x15cm, 2020) e Carlos Lamari.
APRESENTAÇÃO
- Bicentenário da independência do Brasilhistória e memória
- Maria Alice Rosa Ribeiro, Milena Fernandes de Oliveira
DOSSIÊ
- A independência do Brasil através dos parlamentares portuguesesum difícil reconhecimento (1822 -1823)
- Alda Mourão
- O que não foi contado após a independência do BrasilDinâmicas demográficas na Província de São Paulo e o crescimento da população de Campinas e Franca, 1822 – 1889
- Paulo Eduardo Teixeira, Maísa Faleiros Cunha
- Tributos e administração fazendáriauma abordagem provincial nos tempos da Independência
- Bruna de Jesus Barbosa da Silva
- e022006
- Independentementea atuação das quitandeiras de Minas Gerais no mundo do trabalho nos períodos pré e pós-Independência do Brasil
- Juliana Resende Bonomo
PUBLICADO: 2022-12-01
Histórias do rio São Francisco: sujeitos, territórios e temporalidades /Crítica Histórica/2022
O dossiê Histórias do rio São Francisco: sujeitos, territórios e temporalidades tem como proposta conferir visibilidade a trabalhos que privilegiam como objeto de estudo pesquisas centradas e/ou associadas ao rio São Francisco, enquanto uma unidade geográfica, econômica, social, cultural e histórica. Os estudos selecionados, portanto, estabelecem um fio condutor para compreensão da diversidade de temporalidades históricas, teia de sociabilidades, multiplicidades de usos dos espaços e dinâmica das instituições associadas ao processo de conquista, ocupação e povoamento do referido território – de sua nascente a sua foz ou, dito de outra forma, do sertão das Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe ao litoral de Alagoas e de Sergipe. Dessa forma, são abordados estudos que enlaçam o fazer-se de homens e de mulheres através dos tempos em torno das nascentes, afluentes, margens, barragens, hidrelétricas e foz do Velho Chico. Leia Mais
Poder, Representação e Imaginários na Idade Média/Mythos – Revista de História Antiga e Medieval/2022
O Dossiê temático “Poder, Representação e Imaginários na Idade Média” apresenta artigos que abordam a diversidade das formas de poder, políticas, relações culturais, representações, imaginários e a construção de memórias acerca do Medievo. Os textos que compõem o dossiê objetivam instigar reflexões sobre a historiografia produzida no âmbito dos estudos medievais, discutindo suas singularidades, confrontando-as com questionamentos sobre os usos do passado; buscando compreender como esse passado tem sido revisitado, interpretado (e reinterpretado) pelos historiadores. Leia Mais
Religiões no mundo romano/Revista Historiador/2022
As pesquisas historiográficas e arqueológicas mais recentes têm cada vez mais identificado e explorado a vasta diversidade religiosa presente nas diferentes fases da antiguidade romana, o que é confirmado pelo amplo número de documentações literárias e por outras formas documentais oriundas também da cultura material. Deste modo, apresentamos o Dossiê Religiões no mundo romano que reúne novos estudos sobre as experiências religiosas na Roma Antiga, do período republicano ao Império Tardio. Leia Mais
Em defesa de Constantino: o crepúsculo de um império e a aurora da cristandade | Peter Leithart
Nascido em 1959, Peter Leithart é bacharel em Inglês e História (1981) pelo Hillsdale College (Michigan, EUA), mestre em Artes e Religião (1986), mestre em Teologia (1987) pelo Westminster Theological Seminary (Philadelphia, EUA), e doutor em Teologia (1998) pela University of Cambridge (Inglaterra). Autor de diversos livros e artigos, é presidente do Theopolis Institute e atua como professor na Trinity Presbyberian Church (Birmingham).3 Leia Mais
A História através das mídias/ História em Revista/2022
Prezado/prezada leitor/leitora,
A presente edição da História em revista tem como objetivo principal refletir e analisar questões relacionados ao mundo das mídias – filmes, HQs, séries, games, entre outros. Nesse sentido, mesmo que o leitor não concorde completamente com as análises apresentadas pelos colaboradores, uma coisa é certa, as fontes selecionadas são deveras interessantes. Leia Mais
Boletim de História e Filosofia da Biologia. [?] Vol. 16, n. 4, dez. 2022
Publicado pela Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia (ABFHiB)
- Periódico Filosofia e História da Biologia, volume 17, número 2, Jul.-Dez. 2022
- Livros da área
- Eventos da área
- Tradução de artigo de Thomas Pradeu, “Contribuição da Filosofia à questão da imunidade” por Iago Pereira da Silva e Walter Valdevino Oliveira Silva
Revista Brasileira de História da Educação. Maringá, v.23, n.1, 2023.
- Publicado: 2022-12-01
- Editorial
- Novos ventos, sustentabilidade e outros desafios
- Carlos Eduardo Vieira, Eduardo Lautaro Galak, José Gonçalves Gondra, Olívia Morais de Medeiros Neta, Raquel Discini de Campos, Sergio Luiz de Godoy (Autor)
- e294
- PDF (English)
- Artigos
- Escola Técnica Nacional história oral, memória e cotidiano de uma instituição escolar (1942-1965)
- Samuel Silva Rodrigues de Oliveira, Tereza Fachada, Renilda Barreto (Autor)
- Origem eclesiástica do Liceu de Angra dos Reis na Província do Rio de Janeiro (1822-1859)
- Marco Aurélio Corrêa Martins (Autor)
- Luiz Alexandre de Oliveira estudante, professor e benfeitor da educação de Campo Grande – MS (1920-1960)
- Adriana Espindola Britez, Stephanie Amaya (Autor)
- A reforma comemoradao aniversário da Reforma Orestes Guimarães nas páginas Revista de Educação (Santa Catarina, 1936)
- Carolina Cechella Philippi, Thaís Cardozo Favarin (Autor)
- “Eu tinha vontade, mas eu não sabia”formação e trabalho de professoras rurais (Uberlândia-MG, 1960-1980)
- Danielle Angélica de Assis, Sandra Cristina Fagundes de Lima (Autor)
- Recolhidas, Mestras e Educandas preparação para a vida secular a partir dos “Estatutos do Recolhimento Nossa Senhora da Glória do Recife” (1798)
- Ana Cristina Pereira Lage (Autor)
- Educação, hereditariedade e eugeniao projeto educacional de Octavio Domingues (1926-1930)
- Guilherme Prado Roitberg, Luiz Roberto Gomes (Autor)
- Apropriações da geometria de José Augusto Coelho na formação de professor primário do Brasil e de Portugal (passagem do século XIX e século XX)
- Maria Célia Leme da Silva (Autor)
- Tempo, religião e moral educação, trabalho e lazer nas lógicas desenvolvimentistas da Acción Cultural Popular – Colômbia (década de 1960)
- Sara Evelyn Urrea Quintero, Marcus Aurelio Taborda de Oliveira (Autor)
- Nem trabalhadores nem peronistas: técnicos características, identidades políticas e reivindicações do corpo discente da Universidad Obrera Nacional na Argentina (1953-1959)
- Álvaro Sebastián Koc Muñoz (Autor)
- A Coleção ‘História Geral da África’ e a Historiografia da Educação por um ensino descolonizado
- Marcelo Felício Martins Pinto, Juliana Cesário Hamdan (Autor)
- Práticas escolares no laboratório do gabinete do ensino de História Natural/Biologia no Colégio Pedro II (1960-1970)
- Flaviana Alves de Oliveira, Maria Margarida Pereira de Lima Gomes (Autor)
- pdf (English)
- Educação popular na escola pública uma análise das origens do Programa de Educação de Jovens e Adultos da rede municipal do Rio de Janeiro (1985-1996)
- Enio Serra (Autor)
- O golpe vira uma festao 31 de março de 1964 nos discursos e nas práticas cívico-patrióticas (1970-1971)
- Cristina Ferreira, Ana Carolina Zimmermann (Autor)
- Produção, circulação e método de leitura e escrita na Cartilha da infância de Thomaz Galhardo
- Lucilene Rezende Alcanfor (Autor)
- Ester Troian Benvenutti pela educação e cultura nas áreas rurais de Caxias do Sul-RS (1940-1950)
- Elisangela Dewes, José Edimar de Souza, Cristian Giacomoni (Autor)
- A capoeiragem pela genialidade de Calixto contribuições de um caricaturista fluminense para o jogo-luta da capoeira
- Ricardo Martins Porto Lussac (Autor)
- Os conceitos Escola Nova católica e Escolanovismo Católico na historiografia da educação brasileira (1992 – 2021)
- Antonio Donizetti Sgarbi, Sabrine Lino Pinto, Mauro Castilho Gonçalves (Autor)
- Traduções
- Jaques-Dalcroze e a Rítmica na educação infantil apresentação e tradução de dois textos selecionados
- José Rafael Madureira, Daniela Amaral Rodrigues Nicoletti (Autor)
- Resenhas
- Jardim secreto educação como desejo de liberdade na diáspora africana
- Giuslane Francisca da Silva (Autor)
- A democratização da Educação Física na França
- Marcelo Moraes e Silva, Daniele Cristina Carquejeiro de Medeiros, Evelise Amgarten Quitzau (Autor)
- Atlas de imagens ilustrando a história da educação e da escola – uma abordagem internacional e de longa duração
- Cláudio Rodrigues da Silva (Autor)
- Publicado:2022-12-01
Revista Brasileira de História. São Paulo, vol. 42, n. 91, 2022
- É possível pensar em uma nova política editorial para as Revistas na área de História? Editorial
- Slemian, Andréa; Franco, Renato
- Texto: PT
- PDF: PT
- As independências no Brasil e na América Hispânica. História, memória e historiografia 200 anos depois Dossiê – Independência, Independências
- Silva, Ana Rosa Cloclet da; Cid, Gabriel
- Texto: PT
- PDF: PT
- El derrumbe de la Monarquía Española en el Nuevo Reino de Granada y en Nueva España, 1819-1821 Dossiê – Independência, Independências
- Ardila, Daniel Gutiérrez; Gutiérrez, Rodrigo Moreno
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Cartas Pastorais Constitucionais no contexto da Independência do Brasil: dioceses setentrionais (1822) Dossiê – Independência, Independências
- Santirocchi, Ítalo Domingos
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Las independencias iberoamericanas a debate: reflexiones sobre revoluciones y liberalismos en la década de 1820 Dossiê – Independência, Independências
- Frasquet, Ivana
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Liberdade e medo: o impacto das ideias liberais no Rio de Janeiro do Primeiro Reinado Dossiê – Independência, Independências
- Ribeiro, Gladys Sabina
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Pela “Santa Causa do Brasil” e contra a “imprudência, o despotismo e a violência dos ouvidores”: a atuação dos índios no contexto da construção do Brasil independente (Vila Verde – Bahia, 1822-1830) Dossiê – Independência, Independências
- Cancela, Francisco
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Os reflexos das disputas platinas em Santa Catarina durante o processo de Independência do Brasil Dossiê – Independência, Independências
- Schmitt, Ânderson Marcelo
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Soberania, poderes de Estado e autonomia provincial na época da Constituinte de 1823: concepções “liberal-moderadas” em Miguel do Sacramento Lopes e José Bernardino Batista Pereira d’Almeida Dossiê – Independência, Independências
- Leme, Marisa Saenz
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Do centro às províncias: projetos de independências e o debate de ideias pelo periodismo (Rio de Janeiro – Bahia) Dossiê – Independência, Independências
- Meirelles, Juliana Gesuelli; Carvalho, Marieta Pinheiro de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Homens, mulheres e crianças na ocupação dos vales dos rios Purus e Acre: aspectos sociais na Amazônia sul-ocidental de 1889 a 1904 Artigos
- Klein, Daniel da Silva
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Nação, infância e seus outros: literatura infantil brasileira do século XIX ao início do XX Artigos
- Hansen, Patricia Santos
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Deslocamentos e construção estatal: o uso de passaportes e a evolução administrativa do Estado joanino no Brasil (1808-1822) Artigos
- Farias, Rogério de Souza
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Um espião na Corte: política, clientelismo e espionagem no Rio de Janeiro da década de 1850 Artigos
- Ferreira Junior, Francisco
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- A independência do Brasil na historiografia escolar portuguesa (1880-1960) Artigos
- Oliveira, Sarah Luna de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Esportes, lazer e desenvolvimento econômico em Ilhéus (c. 1890-1930) Artigos
- Dias, Cleber; Cotes, Marcial
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Sobre um retrato literário do fascismo Resenhas
- Amado, Thiago
- Texto: PT
- PDF: PT
- Atualismo e historicidade do tempo presente Resenhas
- Felipe, Cleber Vinicius do Amaral
- Texto: PT
- PDF: PT
- Entre a procura do contato e a manutenção da autonomia: trajetórias indígenas nas fronteiras do Brasil Resenhas
- Carvalho, Francismar Alex Lopes de
- Texto: PT
- PDF: PT
- Os sírios… cidadãos franceses? Primeira Guerra Mundial e disputas políticas em torno da conformação da Síria e do Líbano Resenhas
- Almeida, Renata Geraissati Castro de
- Texto: PT
- PDF: PT
Itinerantes. Tucumán, n. 17, jul./dic., 2022.
Dossier
- Dossier Evangelización, negociación y secularización en misiones y doctrinas de la América Colonial.Siglos XVI al XIX
- José Manuel Antonio Chávez Gómez
- HTML
- El desarrollo de la pintura mural conventual de la Orden de San Francisco en el Altiplano Central de México (siglo XVI)
- Aban Flores Moran
- HTML
- El paisaje sagrado de Chiapa de los Indios visto por los chiapanecas y dominicos en el Siglo XVI
- José Manuel Antonio Chávez Gómez
- HTML
- Ornamentar para evangelizar. El análisis de cinco retablos franciscanos elaborados en el Yucatán colonial.
- Bertha Pascacio Guillén
- HTML
- Iglesias, parroquias y oratorios en manos de seculares y regulares (1588-1810). Corrientes, Río de la Plata. Un análisis espacial de la estructura eclesiástica.
- María Laura Salinas, Fátima Valenzuela
- HTML
Artículos
- “…con pretexto de desigualdad”. Recepción y práctica de la Real Pragmática sobre matrimonios en un territorio de la Monarquía Hispánica: Santa Fe del Río de la Plata, 1778-1787
- Noelia Silvestri
- HTML
- Religiosidad y vida cotidiana en el siglo XIX. El caso de los inmigrantes confederados en Brasil
- Ricardo Pérez Gómez
- HTML
- Alianzas dentro del catolicismo durante el establecimiento de las primeras universidades confesionales en la Argentina, 1956-1962
- Jorge Luis Fabian
- HTML
- Vida y obra de Bernardo Sotomayor el primer trapense chileno (1779 – 1829)
- Alfredo Palacios Roa, Jaime Padilla Parra
- HTML
- Humanismo nacional-popular cristiano en el programa escultórico del Monumento al Descamisado (1952-1955)
- Diego Nicolás Massariol
- HTML
Reseñas
- Reseña: Mauro, Diego (coord.) (2021) Devociones marianas. Catolicismos locales y globales en la Argentina. Desde el siglo XIX a la actualidad.
- Silvina Daniela Roselli
- HTML
- Colaboradores/as del número
- HTML
Publicado: 28-12-2022
Cuadernos de Historia del Arte. Mendoza, Núm. 39 (2022)
Páginas Preliminares
Editorial
Artículos
- Las Pinturas de CastasO el obscuro objeto del deseo
- Víctor M. González Esparza
- Así en la tierra como en el cieloLa mujer en la publicidad del cine español durante el franquismo
- Gonzalo Moisés Pavés Borges
- De amor maternal y martirio en tiempos epidémicos.Un ensayo de pathosformel a propósito de Un episodio de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires.
- Lucas Guiastrennec
- Naipes Novohispanos: cualidades bifrontes en lo usos y circulación.Intercambios y diligencias artísticas en la circulación de naipes y juegos en la época colonial.
- Luciano Pozo
- Auges y balances de las nuevas arquitectura en la gestión museística en España durante comienzos del siglo XXI. ( Parte I).
- Nuria Segovia Martín
Publicado: 28-11-2022
Scripta Mediaevalia. Mendoza. v.15, n.2, 2022.
Artículos
- Descensus Christi ad inferos. La inclusión (imposible) del fantasma en la economía de la salvación
- Germán Osvaldo Prósperi
- La posición topológica de Plotino y el comienzo metafísico de la philo-SOPHIA medieval
- Fernando G. Martin de Blassi
- Juan Filopón como antecedente filosófico en los argumentos contra la eternidad del mundo de San Buenaventura
- Verónica Benavides González
- La cultura monástica bizantina en el origen de la Orden de los Hospitalarios
- Esteban Greif
- Aporetic immortalityFrom Aristotle to Thomas Aquinas
- Matías Leiva
- pdf (English)
- Ser, persona y operación humana según Tomás de Aquino
- Mauricio Ordenes Morales
- Los verdes de los bosques. Estrategias visuales y modos de pensar la foresta como espacio discursivo en imágenes bajomedievales
- Nadia Mariana Consiglieri
- Teorías de la ficción en Boccaccio y su relación con Macrobio y Petrarca
- Alejo Perino
Publicado: 28-11-2022
Introdução ao Letramento Histórico para professores do Ensino Fundamental I
Colegas, bom dia!
Sejam bem-vindos ao Ambiente Virtual de Aprendizagem da oficina de "Introdução ao Letramento Histórico".
Público e visão geral da atividade
Esta oficina de “Alfabetização histórica” é se destina a vocês, professores do Ensino Fundamental I, que atuam nas redes municipais da microrregião de Irecê-BA. Nossa ideia é compartilhar saberes e práticas resultantes da pesquisa básica e aplicada sobre Ensino de História por meio de estratégias ativas de aprendizagem.
Nesta oficina, empregaremos a alfabetização histórica de modo típico e dominante: processo de aquisição/desenvolvimento/qualificação de habilidades, conhecimentos e valores do trabalho do historiador profissional: manuseio de fontes, contextualização, heurística, enfim, habilidades típicas do método da crítica histórica.
Data, local e carga horária
Nossos trabalhos durarão oito horas e serão realizados nas dependências do Campus XVII da Universidade do Estado da Bahia, na cidade de Irecê, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2022, das 8h às 12h.
Destinatários e objetivos
A oficina tem caráter de formação continuada docente, sob dois objetivos. O primeiro é estimular os professores a refletirem sobre os seus conhecimentos a respeito das categorias “passado” e “ciência da História”.
O segundo objetivo é instrumentalizar os professores com estratégias de leitura sobre o passado, tomando como parâmetros algumas habilidades, conhecimentos e valores partilhados pela maioria dos historiadores profissionais que atuam no Brasil.
Justificativas e pré-requisitos
Esses objetivos estão em consonância com a pesquisa recente na área do Ensino de História, que detectou uma ausência significativa nos cursos de formação inicial de professores em termos: (1) de informações sobre os modos de aquisição de conhecimento das crianças e jovens escolares (habilidades e emoções intervenientes na formação das aprendizagens históricas) e (2) informações sobre estratégias de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e valores historiadores que medeiam a compreensão do passado em situação escolar.
A proposição desta oficina, em síntese, se justifica pela necessidade de difundir a ideia de que o Ensino de História não necessariamente deve se pautar pela transmissão de conhecimento de fatos e processos históricos. Sem negligenciar esse conteúdo enfatizado nos exames gerais de escala, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a aprendizagem específica de modos de produção de conhecimento da ciência de referência (no caso, a História) é fundamental para a compreensão crítica dos referidos fatos históricos com seus constituintes (as datas tópicas, datas cronológicas, sujeitos, motivações, causas e consequências).
Assim, são pré-requisitos à participação na oficina: a predisposição para reconhecer desafios pessoais no que diz respeito à atividade de ensinar História para crianças e jovens não apenas circunscrita ao conteúdo factual e o desejo de ampliar a informação sobre consciência, memória e aprendizagem histórica.
Relações com os currículos em vigor
A oficina auxilia o cumprimento de orientações prescritas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e na Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).
Em relação à BNCC-Formação, a oficina de Introdução ao Letramento Histórico instrumentaliza o professor no que diz respeito à “a) compreensão da natureza do conhecimento e reconhecimento da importância de sua contextualização na realidade da escola e dos estudantes” (BRASIL, 2019, p.6).
No que diz respeito às relações com a BNCC, a oficina de introdução ao letramento histórico é estratégia para o desenvolvimento das seguintes competências 3, 4 e 6, que são específicas para o ensino de História:
- 3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.
- 4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
- 6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. (BRASIL, s.d, p.402).
Possibilidades de progressão
As habilidades (conhecimentos e/ou valores) problematizadas na oficina surgem das demandas específicas da turma. A estratégia e os princípios da oficina, contudo, possibilitam a sua aplicação a diferentes situações de aprendizagem, efetivadas em série e em qualquer etapa de ensino.
Material
Na oficina, empregaremos imagens e formulários digitais e fontes impressas, fornecidos pelo oficineiro. Também faremos uso episódico de textos que definem letramento histórico e aprendizagem histórica (já disponíveis ao final deste programa).
Na oficina, empregaremos imagens e formulários digitais e fontes impressas e tridimensionais, providenciada pelo oficineiro e pelos cursistas. Também faremos uso episódico de textos que definem letramento histórico e aprendizagem histórica.
Momentos didáticos
- 1. O oficineiro apresenta os objetivos e os momentos didáticos da atividade e a turma se apresenta e declara oralmente e pôr escrito as expectativas com a oficina (30min).
[Intervalo (20min)]
- 2. O oficineiro convida os professores a demonstrarem seus conhecimentos sobre passado e ciência da história, mediante análise de, com impressões digitadas em formulários eletrônicos (1h30). Clique aqui para acessar e preencher a avaliação diagnóstica I.
Clique aqui para acessar e preencher a avaliação diagnóstica II.
- 3. O oficineiro discute o resultado do diagnóstico sobre o entendimento de passado e ciência histórica, manifestado pelos professores, que são convidados a relacionar os conhecimentos revelados no exercício com as suas práticas em sala de aula. (1h30)
Texto - Introdução à alfabetização histórica
- 4. O oficineiro lista conceitos, habilidades de investigação relacionadas às operações processuais da pesquisa histórica e os cursistas são convidados a produzirem expectativas de aprendizagem a partir do conteúdo sorteado. (1h30)
[Intervalo (20min)]
- 5. O oficineiro lista vocabulário, habilidades e técnicas de expressão relacionadas à operação de representação do passado e os cursistas são convidados a produzirem breves narrativas empregando o conteúdo sorteado. (1h30)
Avaliação
O oficineiro emprega a observação e o questionamento socrático continuamente. Os professores fazem autoavaliação ao final do curso, com base nas expectativas declaradas no primeiro momento didático.
Referências
BARCA, Isabel. Aula Oficina: do Projeto à Avaliação. In: Para uma educação de qualidade – Atas da Quarta Jornada de Educação Histórica. Braga: Centro de Investigação em Educação/Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, 2004. p.131-144.
BRASIL. Ministério da Educação/Conselh Nacional de Educação. Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Disponível em < http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file >. Consultado em 27 nov. 2022.
BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base. Brasília: MEC, sd. Disponível em < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf >. Consultado em 27 nov. 2022.
FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. “Papai, para que serve a História?” – Funções e sentidos da aprendizagem histórica na literatura recente, colhida na Espanha e apropriada pelos brasileiros. Tempos Gerais - Revista de Ciências Sociais e História. São João Del Rey, n.7, p.57-69, 2015.
FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Traduzindo ideias de aprendizagem histórica. In: Sequências didáticas para o ensino de História. Ananindeua: Cabana, 2022. (No prelo).
LEE, Peter. Walking backwards into tomorrow: Historical consciousness and understanding History. Paper presented at the Annual Meeting of American Research Educational Association, New Orleans, abr., 2002.
SILVA, Ana Beatriz dos Santos. Alfabetização histórica: estado da arte em eventos científicos nacionais na área da educação e de ensino de História. Crítica Historiográfica. Natal, v.3, n.9, jan./fev., 2022. Disponível em <>.
SILVA, Danilo Alves. Letramento histórico-digital: Ensino de História e Tecnologias Digitais. Rio de Janeiro: Autografia, 2020.
WINEBURG, Sam; MARTIN, Daisy; MONTE-SANO, Chauncey. Reading like a historian. Teaching literacy in middle & high school history classrooms. New York: Teachers College/Columbia University, 2013.
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v.35, n.77, 2022.
- Experiências intelectuais negras: Brasil e diáspora
- setembro – dezembro
- Editores
- João Marcelo Ehlert Maia, Martina Spohr Gonçalves, Sérgio Rodrigo Marchiori Praça e Thais Continentino Blank (professores doutores e pesquisadores do CPDOC/FGV, Rio de Janeiro, Brasil)
- Conselho Consultivo
- Angela Maria de Castro Gomes (UNIRIO e PPHPBC/FGV, Rio de Janeiro, Brasil), Benito Bisso Schmidt (UFRGS, Porto Alegre, Brasil), Carlos Fico (UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil), Eduardo França Paiva (UFMG, Belo Horizonte, Brasil), Eurípedes Funes (UFC, Fortaleza, Brasil), Fernando Lattman-Weltman (UERJ e PPHPBC/FGV, Rio de Janeiro, Brasil), Helena Bomeny (UERJ e PPHPBC/FGV, Rio de Janeiro, Brasil), João José Reis (UFBA, Salvador, Brasil), José Murilo de Carvalho (UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil), Leslie Bethell (Universidade de Oxford, Oxford, Inglaterra), Licia do Prado Valladares (Université des Sciences et Technologie de Lille, Lille, França), Lucia Lippi Oliveira (PPHPBC/FGV, Rio de Janeiro, Brasil), Marcelo Ridenti (UNICAMP, Campinas, Brasil), Maria Helena Capelato (USP, São Paulo, Brasil), Mariza Peirano (UnB, Brasília, Brasil), Maurício Tenório Trillo (Universidade de Chicago, Chicago, Estados Unidos) Omar Ribeiro Thomaz (UNICAMP, Campinas, Brasil), Patrícia Maria Melo Sampaio (UFAM, Manaus, Brasil), Regina Beatriz Guimarães (UFPE, Recife, Brasil), Renato Monseff Perissinotto (UFPR, Curitiba, Brasil), Rogério Bastos Arantes (USP, São Paulo, Brasil), Silvia Petersen (UFRGS, Porto Alegre, Brasil)
- Secretário
- Taynã Martins Ribeiro
- Editoração Eletrônica/Capa
- Zeppelini Publishers
- Revisão
- Zeppelini Publishers
- Pareceristas ad hoc
- Aldair Rodrigues (UNICAMP), Amílcar Pereira (UFRJ), Ana Rita Santiago (UFRB), Antonio Sergio Guimarães (USP), Bárbara Geraldo de Castro (UNICAMP), Carina Martins Costa (UERJ), Carlos Steil (UFRGS), Dominichi Miranda de Sá (FIOCRUZ), Elena Brugioni (UNICAMP), Fernanda Miranda (UNIFESSPA), Gustavo Rossi (UNICAMP), Joaze Bernardino Costa (UNB), Jorge Leite (UFSCAR), Muryatan Barbosa (UFABC), Priscila Medeiros (UFSCAR), Rafael Nascimento (UNICAMP), Rafael Trapp (UESB), Rosângela Sarteschi (USP), Sabrina Gledhil (UFBA), Simone Meucci (UFPR), Tatiane Cosentino Rodrigues (UFSCAR), Válter Silvério (UFSCAR)
- Publicado: 2022-11-23
- Edição completa
- Editorial
- Experiências intelectuais negrasBrasil e Diásporas
- Mário Augusto Medeiros da Silva, Vitor Queiroz
- 351-357
- Artigos
- Começosa diáspora afro-caribenha, autores e temas
- Caue Flor
- 358-377
- “Aos píncaros da serra, invadindo o sertão”Theodoro Sampaio e a invenção do limite meridional do Brasil na revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo por um intelectual negro (1896-1912)
- Magno Francisco de Jesus Santos
- 378-396
- Associativismo e redes de circulação de ideias no Caribe britânicoa experiência do Left Book Club in Jamaica
- Matheus Cardoso da Silva
- 397-417
- A obra de Anajá Caetanouma escritora brasileira negra na literatura de ficção
- Cintya Rodrigues
- 418-435
- Um Tolstoi AfricanoAndré Rebouças e um outro Ocidente (1889-1898)
- Robert Daibert, Hebe Mattos
- 436-456
- A intelectualidade negra e a experiência soviética
- Pablo de Oliveira de Mattos
- 457-477
- Intelectuais negras e negros partícipes de Núcleos de Estudos Afro-Brasileirospráticas e produções teóricas
- Isis Silva Roza
- 478-494
- Nize Isabel de MoraesMemórias de uma historiadora da Senegâmbia
- Juliana Barreto Farias, Maria Aparecida de Oliveira Lopes
- 495-527
- Entre o Braço Ativo e a Muralha BabilônicaO lugar da escravidão nas obras de Manuel Querino e Lino Dou y Allyon em 1916
- Ynaê Lopes dos Santos
- 528-547
- Epistemologias transfeministas negrasperspectivas e desafios para mulheridades múltiplas
- Silvana de Souza Nascimento
- 548-573
História Hoje. São Paulo, v.11, n.23, 2022.
- Julho-Dezembro
- Publicado em novembro 16, 2022
- Mônica Martins da Silva
- Editorial: Ensino de História e tecnologias no contexto de culturas, disputas e polifonias digitais
- Arnaldo Martin Szlachta Junior, Osvaldo Rodrigues Junior, Wilian Junior Bonete
- Um inventário de bits e bytes: porque ensino de História não é um museu de grandes novidades
- Dossiê
- Miguel Angel Jara
- Diálogos latinoamericanos sobre problemas socialmente vivos. Narrativas y experiencias en contextos de virtualidad
- Éder Cristiano de Souza
- Pensamento histórico e cultura digital: desafios e experiências na formação de professores
- Manuela Areias Costa, Jorge Ribeiro Diacópulos
- O Quilombo da Tia Eva na Web: Ensino de História e Educação Antirracista
- Luana Carla Martins Campos Akinruli, Martha Rebelatto
- Ensino de História e experiências tecnológicas no “chão da escola”: os desafios e as aprendizagens em tempos de pandemia
- George Leonardo Seabra Coelho, Luiz Silva Gustavo Martins da Silva, Talita Seniuk, Thálita Maria Francisco da Silva
- Entre o esperado e o real: tecnologias digitais, ensino e manuais didáticos de História
- Ângelo Emílio Pessoa
- O lugar das “velhas” metodologias no mundo das novas tecnologias: tradição, inovação, ensino e pesquisa em História.
- João Paulo de Oliveira Farias, Sônia Meneses
- Metodologias ativas, ensino de história e o uso da mídia podcast: mobilizando saberes para além do espaço escolar
- Felipe Augusto Ribeiro
- História Medieval no Instagram: relatos iniciais de um experimento em curso (2021-2022)
- Júlio Cesar Virgínio da Costa, Andreia de Assis Pereira
- Ensino de História em tempos de pandemia
- Artigos
- Paulo Roberto Souto Maior Júnior, Aliny Dayany Pereira de Medeiros Pranto
- Os estágios supervisionados de História durante a pandemia de coronavírus: o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
- Ana Paula Giavara, Iraíde Marques de Freitas Barreiro
- O ensino de História no Boletim do Historiador da ANPUH-SP (1990-2002)
- Thiago Granja Belieiro
- Qual o lugar da educação libertadora no ensino de História? A presença do pensamento de Paulo Freire na revista História & Ensino.
- Entrevista
- Arnaldo Martin Szlachta Junior, Osvaldo Rodrigues Junior, Wilian Junior Bonete
- Entrevista com Sara Dias-Trindade Ensino de História e Humanidades Digitais: perspectiva e possibilidades potencializadoras para a aprendizagem histórica
- História Hoje na sala de aula
- José Washington de Morais Medeiros, Débora Lins Epaminondas
- “Desatando nós”: sequência didática sobre o sistema sexo-gênero para o ensino de História
- Lucas Florianovitch, Halferd Carlos Ribeiro Junior
- Literatura sensível, história extra-humana: reflexões sobre os sujeitos no currículo e no ensino de História
- Resenhas
- Felipe Tavares de Moraes
- “Agora a minha história é um denso algoritmo”: tecnologias digitais e aprendizagem histórica no contexto escolar
- Andreia Rodrigues de Andrade
- A tecnologia no ensino de História: museus virtuais e jogos digitais
História de la Educación – Anuario. Buenos Aires, Vol. 23 Núm. 2, 2022
Número completo
Artículos
- La participación de maestros en la recopilación de tradiciones y saberes populares: la Encuesta Nacional de Folklore de Argentina (1921)
- Ana Carolina Arias
- A vida e a escolarização das crianças cuiabanas no Estado Novo (1937-1945)
- Elizabeth Figueiredo de Sá, Francine Suélen Assis Leite
- Memórias de ex-alunos(as) do Internato da Escola Normal Evangélica em São Leopoldo/RS
- Estela Denise Schütz Brito, Luciane Sgarbi S. Grazziotin
- Diferenciación y flexibilización de la secundaria para jóvenes y adultos durante las décadas de 1970-1980 en Argentina y la provincia de Buenos Aires
- Julián Olivares
- Da ilustração à história de educação profissional: o uso de imagens no livro História do ensino industrial no Brasil
- Olivia Morais de Medeiros Neta, Maria Ciavatta
Invitado Especial
- Ensayar, editar, educar
- Liliana Weinberg
Reseñas
- Levoratti, A. (2021). La formación de los profesores de Educación Física en Argentina: actores y sentidos en disputa 1990-2015. 1 a edición. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 234 pp., ISBN 978-987-558-769-4
- Cristian David Rodríguez Piñero
- Riveros, S. (comp.) (2021). Historia de la educación argentina reciente: memoria, enseñanzas e investigaciones. 1 ra edición. San Luis: Nueva Editorial Universitaria, UNSL, 290 pp., ISBN 978-987-733-300-8
- Gabriela Cruder
- “Una mirada genealógica en las Prácticas Educativas Inclusivas al interior de la formación docente. Su efecto en el Instituto de Formación Docente Continua San Luis (1993-2004)”. María Martha Garro
- María Soledad Martínez
- Reseña de las IV Jornadas Académicas HEAR/2022 Historia de la Educación Argentina Reciente: Investigaciones y Enseñanzas. Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 10 y 11 de marzo de 2022
- Eduardo Díaz de Guijarro
Publicado: 2022-11-15
Escritas. Araguaína, v.14, n.01, 2022.
POVOS INDÍGENAS, MIGRAÇÕES E DESLOCAMENTOS TERRITORIAIS
- POVOS INDÍGENAS, MIGRAÇÕES E DESLOCAMENTOS TERRITORIAIS
- João Paulo Peixoto Costa, Tatiana Gonçalves de Oliveira
Dossiê
- O LUGAR DE BALSEMÃO: UM PROJETO DE CONQUISTA PORTUGUÊS NO RIO MADEIRA (1765-1772)
- Otávio V´ítor Vieira Ribeiro
- OS PAIAKU E SUAS MOVIMENTAÇÕES: TERRITÓRIOS SOCIAIS E ELEVAÇÃO DAS VILAS DE ÍNDIOS (SÉCULO XVIII)
- Ristephany Kelly da Silva Leite
- CRIMINALIDADE E POLÍTICA INDIGENISTA EM GOIÁS OITOCENTISTA
- Martha Victor Vieira, Valéria Medeiros
- CONFLITOS E DISPUTAS ENTRE OS INDÍGENAS COROADOS (KAINGANG) DA REGIÃO DO MATO CASTELHANO (PASSO FUNDO-RS) E OS NÃO INDÍGENAS NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX.
- Marcus Vinicius da Costa
- POLÍTICA INDIGENISTA DE CONTENÇÃO PARA CATEQUIZAÇÃO: FORMAS DE RETERRITORIALIZAÇÃO DOS GAVIÃO
- Ribamar Ribeiro Júnior, Rayane Gomes da Silva
- ESTUDANTES INDÍGENAS NA ESCOLA DA CIDADE? ENCONTROS, RESISTÊNCIAS E INVISIBILIDADES:
- Noêmia dos Santos Pereira Moura, Rodrigo Novais Menezes
- TERRITORIALIDADE INDÍGENA E DIREITO ESTATAL: CONSIDERAÇÕES À LUZ DO PLURALISMO JURÍDICO
- Marco Antônio Rodrigues, Andrea Lucia Cavararo Rodrigues, Antonio Hilario Aguilera Urquiza
Temas Livres
- ECONOMIA DO BABAÇU NO MARANHÃO E A INVISIBILIDADE DO TRABALHO CAMPONÊS
- Viviane de Oliveira Barbosa
- UM “VISTOSO ALTAR NO TEMPLO DA MINERVA AMERICANA”: EM TORNO DE ELOGIOS BIOGRÁFICOS SOBRE O SR. VARNHAGEN
- Ana Priscila de Sousa Sá
Resenha
- APONTAMENTOS SOBRE O LIVRO A PEDIATRA, DE ANDRÉA DEL FUEGO
- Walace Rodrigues
Publicado: 2022-11-14
Ler, anotar, grifar e comparar
Uma leitura de um livro deve ser planejada e executada no sentido de extrair essas quatro informações que legitimam o trabalho do historiador. Tais informações estão incrustadas em cada um dos elementos da arquitetura de um livro (aqui apresentados sem repetição do conteúdo que veiculam):
- elementos externos – capa/título, quarta capa ou contracapa (resumo), primeira orelha (tema), segunda orelha (autor);
- elementos pré-textuais – dedicatória, agradecimentos, sumário, prefácio ou apresentação;
- elementos textuais – introdução, capítulo/seções/partes e conclusões;
- elementos pós-textuais – posfácio, apêndice, anexo (autoral), glossário, referência e índices.
Comentemos sobre as potencialidades de cada um desses elementos sem, contudo, hierarquizá-los, começando pela natureza, os usos e a contribuição da capa e do título.
A capa pode ser objetiva ou metafórica e pode até gerar alguma dificuldade na análise sob o ponto de vista da sua função. Mas qualquer um de nós que costuma ler livros já armazenou alguns princípios semióticos e parâmetros estéticos consensuados pela maioria no campo, capazes de orientar alguma crítica, verificável por meio de questões deste tipo: a imagem “fala” da intenção de publicar? A imagem “fala” do conteúdo”? De que maneira transmite a matéria do livro? Que relação pode ser estabelecida à primeira vista (para uma maioria ideal de leitores) com o título do livro?
Ato contínuo, interrogamos o título: aquele período mais enxuto ou enciclopédico expressa as conclusões do livro? Ele sintetiza as proposições da obra? Ao iniciar a leitura, não podemos sabê-lo, mas é nosso dever anotar o que o título sugere.
Atente para o emprego dos operadores argumentativos já no exame do título (o que se repetirá por toda a leitura do livro). Quando o autor usa “e”, ele está apresentando uma relação, que pode ser de subordinação do primeiro termo ao segundo e vice-versa, como nos títulos 1 e 2 do quadro 2.3. Essa relação também pode ser de adição, de inclusão, de comparação ou de causa-consequência, com vistas a transmitir uma tese, como no título 3.
Quando usa o “na” ou o “do”, por exemplo, o autor está apresentando elementos de contexto, a exemplo de tempo, espaço ou circunstâncias (título 4) Mas é comum encontrarmos dados sobre tempo, espaço e causas, consequências e justificativas da escolha do que o autor quereria dizer, examinando somente o subtítulo. Isso ocorre, principalmente quando o título é empregado com função estética, isto é, quando apresenta uma metáfora (título 5).
Quadro 2.3. Operadores argumentativos em títulos de livro
A leitura do título pode ser seguida pela leitura das orelhas de livro. Não exclua, por puro preconceito, as “orelhas” da sua busca pelos objetos de apreciação fundamental. Orelha e quarta capa (ou contracapa) informam o que diz o autor (em termos de temas, objetivos e proposições) quem é o autor.
Leia as apresentações e/ou prefácios. Elas informam o lugar do livro na obra do autor ou o lugar do livro na produção do campo. Mas elas também podem adiantar alguns vícios e/ou virtudes da obra. Podem antecipar as questões e as respostas apresentadas no livro e até sintetizar o conteúdo do livro em quatro ou cinco frases sucintas.
Em se tratando de livros-coletânea, coleção de livros e de dossiês de artigos (que são, em conteúdo e função, verdadeiros livros-coletânea), a leitura da apresentação e/ou do prefácio é ainda mais importante. Se a apresentação for composta de modo lógico e submetida a uma leitura atenta, vocês notarão que a dificuldade de atribuir um valor de conjunto à coletânea já desaparece neste momento da apreciação. Aqui, cabe bem interrogar: o autor/apresentador esclarece sobre as questões que atravessam os textos reunidos? O autor/apresentador deixa nítidas as relações entre as questões e a ordenação (lógica/cronológica etc.) dos textos em partes/seções/capítulos?
Até gora, já deu para perceber que a própria apresentação sugere critérios de avaliação que podem ser absorvidos pelos resenhistas na leitura de todas as partes do livro. O mesmo ocorre com a introdução da obra. Idealmente, todo livro já foi um projeto e um projeto bem orientado quase sempre se iniciou com uma questão (a famosa proposta de Francis Bacon: faça interrogações inteligentes, e a natureza dará as respostas de que você precisa. Assim, idealmente, repetimos, vocês devem extrair as questões que o autor anuncia responder, as estratégias empregadas para oferecer respostas (fontes, métodos, técnicas, categorias de interpretação) e, até, as respostas conclusivas com as quais alguns autores costumam nos brindar antes da efetiva “conclusão” do livro.
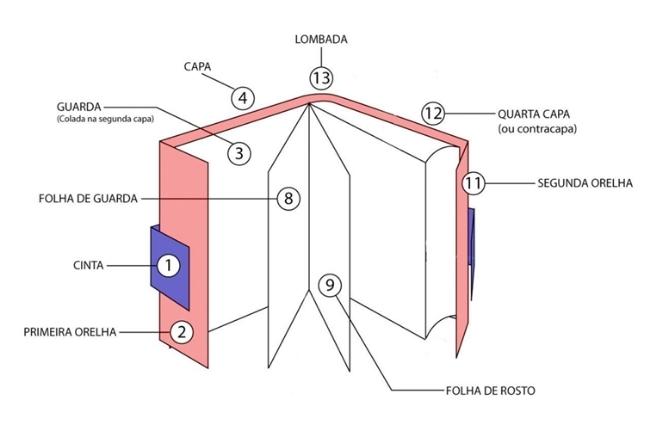
Figura 1.1 Estrutura material de um livro impresso | Fonte: (Paco Editorial, 2019).
Não leu o sumário? Isso não é pecado grave. O sumário, situado entre título e a introdução, fornece a estrutura da obra, traduzível em temas/conceitos/processos etc. organizados temática, espacial ou cronologicamente.
Sumário é elemento descritivo e tópico. Não é sua função apresentar questões e/ou objetivos. É até provável que tiremos mais proveito do sumário, lendo-o após o conhecimento das questões/objetivos expostos na introdução. Essa comparação entre a organização da obra anunciada na introdução e a organização da obra descrita no sumário é, em si mesmo, um insumo para a crítica.
As leituras da capa, do título, da apresentação, da introdução e do sumário representam 50% do trabalho mais significativo de notação sobre o que diz a obra, sobre quem diz, em qual contexto diz, sobre o valor e os desdobramentos deste dito. Grande parte da incompreensão dos alunos de graduação durante a leitura de capítulos e artigos isolados é explicável pelo desconhecimento manifesto sobre tais elementos (ao menos as apresentações). Quando um capítulo isolado ou um artigo possui uma introdução defeituosa, essa dificuldade se multiplica. Portanto, usem a fase mais tranquila e atenta da leitura para o exame, o destaque e a anotação dos dados básicos fornecidos pelos elementos pré-textuais e pela introdução.
Se tiverem que escolher entre as anotações (marginais, entrelinhas, no topo ou pé-de-página) e os grifos à caneta, grafite ou marca-texto, prefiram as primeiras. Além disso, sempre que possível, faça anotações parafrásicas em lugar da citação direta. Anotar no topo da página (à margem do pdf etc.) “o que quis dizer o autor” é a melhor das interpretações da leitura: é a sua interpretação (a que te permite avançar). É o que chamamos de interpretação de segunda ordem, constituidora, adiante, do conhecimento autoral. Anotar “o que disse o autor”, ao contrário, é usar mal o tempo reservado à leitura. Para destacar e recuperar depois “o que disse o autor”, utilize os grifos.
Os grifos devem assumir a condição de destaque – de saliência, relevo, realce ou relevância. Destaque o que é importante (uma redundância necessária). Na situação comunicativa para a qual estamos convidando vocês, somente merecem destaques os elementos privilegiados da crítica: o dito, a autoria, o contexto de produção e o valor do dito. Esses objetos básicos da leitura, como já afirmamos, são traduzidos como coisas que realizam o conhecimento científico há quase quatro séculos: tema, problema, questão, motivação da questão, objeto, objetivo, hipótese, fontes, métodos (de leitura das fontes, de extração de fatos, processos, princípios e generalizações), categorias de interpretação e/ou categorias de tipificação e/ou de generalização.
Se algo chama a atenção de vocês, mas está fora desse rol de objetos, façam anotações marginais que podem ganhar importância à medida que vocês dominarem o que disse a autoria e os desdobramentos desse dito e desse ato de dizer.
Essa seleção do que deve ser grifado, realçado, destacado, pintado etc. evita a poluição visual do texto lido. E a poluição visual, obviamente, anula a função principal do grifo que é deixar facilmente visível para eventuais retornos à página. Um texto poluído é um testemunho de que o aluno possui pouca clareza do (ou manifesta grande incerteza sobre a relevância do) objeto que está a procurar. Também revela algo pior: que nós professores-formadores não estamos orientando os alunos a ler técnica e pragmaticamente.
Acima, afirmamos que 50% do que é importante anotar está situado em apenas 10% das páginas que precisamos ler (título, prefácio, introdução e sumário). O restante está nos capítulos e na conclusão. E assim pensamos por que o livro-tese e/ou o livro-coletânea deve ser (idealmente) uma totalidade orgânica, ou seja, os capítulos devem estar subordinados ao que foi anunciado na introdução (várias vezes revisada pelo autor ou editor ao final da organização do texto).
Se vocês anotam e destacam os elementos que buscavam na introdução da obra, dificilmente encontrarão algo novo se o livro for bem escrito (se for inteligível e didático). O máximo que um capítulo poderá oferecer de novo para as suas anotações será um detalhamento na forma de um objeto/questão/objetivo subordinado à questão e aos objetivos anunciados na introdução. Quando vocês encontrarem esse objeto/questão/objetivo em detalhe, perceberão que eles não anulam ou não se superpõem aos objetos/questões/objetivos anunciados no prefácio e/ou na introdução.
A leitura desses elementos nos capítulos já é, em si mesma, atividade de crítica. Em tese, o capítulo também possui sua autonomia, isto é, possui objeto, questão e objetivo. Com tempo de sobra e dependendo do interesse e conhecimento, vocês podem questionar: o autor entrega ao leitor, no curso ou ao final do capítulo, o que oferece no título e/ou nos primeiros parágrafos do capítulo, ou seja, o autor cumpre as metas acordadas com o leitor?
Podem também criticar a coerência e a coesão entre elementos-chave do capítulo e elementos-chave do livro, dispostos na introdução. Ao se deparar com uma questão/categoria não subordinada à questão/categoria disposta na introdução, deve fazer anotações que atribuam um valor temporário à obra: o autor fugiu ao tema (digressão desnecessária), pecou por falta de coesão ou por detalhamento excessivo, ofereceu uma resolução parcial e/ou sequenciada do problema em relação ao prometido na introdução?
Vocês podem criticar, ainda, o emprego das epígrafes – aquelas citações diretas que costumam ilustrar os inícios das apresentações, das introduções ou dos capítulos, logo após os seus respectivos títulos: elas oferecem uma informação sintética sobre o conteúdo do capítulo? Elas apenas repetem o título? Elas induzem o leitor a outras experiências, estéticas, cognitivas, por exemplo?
Critiquem também, se for necessário, o emprego dos exemplos apresentados nos capítulos. Eles são repetidos ou variados? Eles estão bem situados ou quebram o fluxo narrativo? Eles foram úteis? Eles cumprem bem a função para a qual foram selecionados, ou seja, eles servem, efetivamente, como exemplos?
Por fim, vocês podem criticar o emprego das citações diretas, em geral, usadas para fazer com que o autor acredite no que o autor está afirmando e, em alguns casos, fazer com que o leitor mude de atitude em sua vida, após a leitura.
Ao primeiro caso chamamos convencimento e ao segundo chamamos persuasão. Nesse particular, podem ter serventia as seguintes questões: a citação de trechos da fonte é necessária ou reproduz um lugar comum? A citação de trechos da fonte complementa o texto autoral ou é apenas uma reiteração inútil? A citação da autoridade no campo é fundamental ou polui o texto? A citação da autoridade complementa parcimoniosamente o texto ou deixa pouca margem à escrita autoral?
Sempre que achar necessário, volte às anotações marginais da introdução, buscando relembrar de que trata a obra, que questão quer responder, que meios vai empregar para responder a essas questões etc.
A volta recorrente às anotações iniciais vai criar e/ou reforçar suas redes neurais (sempre temporárias) durante semanas, mesmo que você não esteja em contato diário com o livro em análise. Os acontecimentos de uma narrativa, a definição de um termo, as causas e consequências de um processo histórico na longa duração, cada uma dessas coisas constitui uma rede neural. Se você puder compartilhar oralmente com um colega o registro dos elementos coletados na introdução, os circuitos deste tipo serão ainda mais fortalecidas.
Ao longo da leitura dos capítulos, é provável que você perceba a argumentação do autor se construindo ao modo de um edifício: o anúncio de um conceito básico, alguns acontecimentos-chave encadeados e a interpretação desses acontecimentos a partir daquele conceito básico etc. Quando o livro é composto organicamente o edifício ganha forma apenas com a leitura dos elementos pré-textuais e o reexame do sumário: vejam o sumário deste livro de F. Engels (1984):
Quadro 1.1. A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado (Sumário)
- I – Estágio pré-históricos de cultura (Estado selvagem e Barbárie)
- II – A família
- III – A gens iroquesa
- IV – Gênese do Estado ateniense
- VI – A gens e o Estado em Roma
- VII – A gens entre os celtas e entre os germanos
- VIII – A formação do Estado entre os germanos
- IX – Barbárie e civilização (Engels, 1984)
Mesmo que você desconheça significados de “gens” e de “gens iroquesa”, não será difícil perceber a progressão temporal da narrativa macro dessa espécie de história humana. Como dissemos, no curso da leitura, é provável que veja o edifício completo várias vezes antes de chegar às conclusões, dada a maestria do autor em compor o livro, ao seu compromisso com o leitor e à sua capacidade de convencer: “A organização social humana evolui da propriedade comunal à propriedade privada, correspondente à instituição família e à instituição estado moderno.”
Nós preferimos esses livros aos que transformam a leitura de um livro de história em fruição de romance amoroso ou policial. O livro que resulta de uma pesquisa histórica deve, antes de tudo, informar os resultados de modo claro e convincente. O leitor deve entender imediatamente o que o autor afirma. Transformar o leitor em um investigador, durante a leitura do livro, não deve ser a estratégia principal daquele que quer comunicar uma verdade. Mas se o livro não for composto desta forma, não tem jeito: vocês terão que descobrir os elementos principais e tornar a composição viciada em um texto inteligível para o seu leitor.
Chegamos, por fim, à leitura das conclusões (ou das considerações finais). Felizes serão vocês se, antes das conclusões, o autor já tiver adiantado as respostas às questões anunciadas na introdução. Se ainda desconhecem essas conclusões, façam um esforço final. Comparem os destaques e as anotações da introdução com as afirmações do autor (também destacadas por vocês), anunciadas na última seção textual do livro.
Aqui, novamente, atentem para o emprego dos operadores argumentativos de maior uso entre nós. Destaque as passagens em que ele emprega: “concluindo”, “em síntese”, “em outros termos, o que eu quis defender neste livro foi…”. Observe se há contradição entre esses operadores, ou seja, disparates entre essas mensagens do tipo “o que eu quis dizer neste livro foi…” e “assim, demonstrei que…”. Use esses operadores para avaliar o cumprimento das metas anunciadas na introdução.
Seria estranho encerrar este capítulo sem tratar alguns elementos pós-textuais de um livro: as referências, notas de fim, índices, anexos e apêndices. Mas isso é possível, sim. Referências, índices e notas não são unidades de leitura propriamente ditas. Excetuando-se os textos autorais (apêndice) e não autorais (anexos), julgados relevantes como ampliação da informação fornecida no corpo textual, os demais não anunciam problemas, questões e respostas. Eles são unidades de consulta, como denotam os próprios nomes: referências – dados agrupados que identificam o texto citado; notas – dados agrupados e discursivos que identificam ou aprofundam a proposição anunciada no corpo textual; índices – dados isolados, organizados temática, cronológica, onomástica ou topologicamente que facilitam a localização de temas, datações de tempo, datações de espaço, nomes de autores, obras e instituições.
Durante a leitura, todavia, cabe avaliar o cumprimento deste princípio mais que secular de informar ao leitor sobre a autoria e a proveniência das informações empregadas como elemento de convencimento e de persuasão. Bem sabemos que eles dão suporte ao diálogo entre pares, democratizam a informação e possibilitam a quem quer que seja contestar as afirmações em condições idênticas e até a produzir um conhecimento divergente do que foi apresentado.
Conclusão
Neste capítulo, relembramos as principais motivações que nos levam a empregar horas e até semanas na leitura de um livro. Enfatizamos que a leitura acadêmica consciente e autônoma nos induz a processar as informações que colhemos e a produzir novo conhecimento. Esse processamento, bem com as motivações referidas – créditos, dinheiro, poder, prestígio etc. – praticamente nos impõem os objetos de análise de um livro-tese, de um livro-coletânea de uma coleção de livros ou de um dossiê de artigos.
Também vimos que a leitura dirigida exige a descrição e o comentário de objetos e unidades de leitura a partir de um conjunto de prescrições pautadas pela situação comunicativa. No nosso caso, lemos capas, títulos, prefácios, introduções, capítulos, conclusões e referências para elaborar resenhas acadêmicas que atribuem valor aos conhecimentos do campo da Ciência histórica, ao mesmo tempo que fortalecem o campo, na medida em que atribuem valor aos elementos legitimadores de verdade histórica. Os objetos a serem observados em uma leitura com função de resenha são traduzíveis nas questões sobre o que trata a obra, quem é a autoria, qual o contexto de produção da obra e qual o seu valor da obra para diferentes públicos.
Esperamos, por fim, que vocês tenham percebido que o ato de resenhar exige o ato de ler bem determinado gênero textual. Como estamos trabalhando com resenhas de gêneros acadêmicos, como livros, revistas, dissertações, teses e monografias, devemos ser bons leitores acadêmicos de gêneros que veiculam histórias. Nos incomoda a posição de iniciantes que dizem: “Os textos de história são muito chatos.” Eles são considerados “chatos” porque são escritos dentro de determinadas regras de certo campo. O conhecimento dessas regras é o antídoto à chatice e ao enfado da escrita dos historiadores.
No próximo capítulo, trataremos de modelos de composição de resenha. Demonstraremos que os objetos de composição correspondem aos objetos de leitura. Cada situação comunicativa enfatiza este ou aquele objeto, modificando a ordem de sua exposição. Uma mudança de ordem dos elementos, em geral, cria um modelo de composição da resenha.
Antes de mergulharmos nos modelos de composição, sugerimos o cumprimento das atividades desta aula 2.
Atividades
Após terem lido o capítulo 2, considerem ampliar seu aprendizado, cumprindo as seguintes tarefas.
Selecionar um livro que veicule objeto sobre o qual vocês consideram ter relativo domínio ou familiaridade.
Buscar e parafrasear o objetivo do autor ou a questão central proposta pelo autor a partir da leitura do prefácio, sumário, da introdução e da quarta capa.
Buscar as respostas à questão ou ao objetivo identificado, a partir da leitura das conclusões.
Avaliar o grau de coerência entre o que o autor propôs e o que ele entregou ao leitor, preenchendo as lacunas do formulário abaixo.
Na escrita do/a____________(apresentação, introdução etc.), o autor declarou a intenção de ______________________________ (objetivo/questão). Nas conclusões, o autor declarou que _________________________________ (respostas ao objetivo/questão). Concluímos que o autor_________________________ (cumpre bem, cumpre parcialmente, não cumpre) os objetivos declarados na ____________________(apresentação, introdução etc.), o que torna a obra um _____________ (bom/suficiente/mau) exemplo de __________________ (coerência/contradição etc.) para os trabalhos acadêmicos do domínio da ___________.
Referências
ADLER, Mortimer J.; DOREN, Charles Van. How to read a book. New York: A Touchstone Book, 1972.
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Bauru: EDUSC, 2007. Resenha de: DOMINGUES, Petrônio José. História: a A HISTÓRIA É ARTE? sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [20] jan./ jun. 2009. Acessar publicação original [MLPDB].
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. A arte e inventar o passado: ensaios de Teoria da História. Bauru: Edusc, 2007. Resenha de: CEZAR, Temístocles. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.28, n.55, jun. 2008. Disponível em<https://www.scielo.br/j/rbh/a/QyMZL7TGyxCnVfPcXNCwMpC/?lang=pt>Capturado em 20 jul. 2021.
CHARAUDEAU, Patrick. Visadas discursivas, gêneros situacionais e construção textual. In: MACHADO, Ida Lucia; MELLO, Renato de. Generos. Reflexões em análise do discurso. Belo Horizonte: NAD/FALE/UFMG, 2004. Disponível em< http://www.patrick-charaudeau.com/Visadas-discursivas-generos.html>Capturado em 23 ago. 2017.
CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dminique. Discurso. In: Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo: Contexto, 2006. p.168-176.
ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984. Tradução de Leandro Konder.
FRANÇA, Eduardo d’Oliveira. A Teoria Geral da História: Considerações a propósito de um livro recente. Revista de História. São Paulo, n.7, p.111-141, jul./set. 1951.
PACO Editorial. Quais são as partes de um livro impresso? Disponível em<https://editorialpaco.com.br/quais-sao-as-partes-de-um-livro-impresso/> Acesso em 06 mar. 2021.
RODRIGUES, Lidiane Soares. Armadilha à francesa: homens sem profissão. História da Historiografia. Ouro Preto, p.85-103, n.11, abr. 2013.
Para citar este texto
FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Maria Margarida Dias de. Ler, grifar e comparar: In: Resenhando como historiadores. Aracaju: Criação, 2021. [No Prelo].
Modelos de composição de resenhas
No capítulo anterior, tratamos das diferentes formas de classificar e fundir notas de leitura. Neste quarto capítulo, avançamos nesta operação, apresentando modelos de composição de resenhas.
Além disso, detalhamos as operações de escolha e redação de unidades estratégicas da resenha: os dois parágrafos iniciais e os dois parágrafos finais.
A nossa expectativa é a de, após as leituras, vocês estejam capacitado(as) a compor um plano final de redação da sua resenha, dentro dos parâmetros que prescrevemos que admitimos na revista Crítica Historiográfica: um instrumento de atribuição de valor científico para o domínio e de reprodução deste domínio.
4.1. Modelos de composição e domínios acadêmicos
Depois de organizar as anotações classificadas, triadas e agrupadas em blocos preliminarmente coesos e coerentes, já temos convicção sobre o que trata o livro, de quem é a autoria, por que foi escrita a obra e, principalmente, sobre os aspectos virtuosos e viciosos das coisas tratadas no livro. Assim, já estamos aptos para atribuir um valor à obra e apontar alguns prováveis e potenciais desdobramentos da obra resenhada para a vida acadêmica do autor, para o domínio no qual o autor está imerso, para a ciência da História ou para a realidade da qual trata a obra, não necessariamente limitada ao mundo acadêmico. Já estamos aptos, enfim, a fazer extrapolações. Se vocês também chegaram a este ponto, já devem se ocupar dos modelos de exposição.
Modelos de texto, como a expressão indica, são padrões que viabilizam a comunicação. Eles são constituídos por unidades de informação. O nome do autor é uma unidade de informação, a utilidade da obra é outra unidade de informação. E essas unidades de informação podem ser apresentadas de modo argumentativo, narrativo ou descritivo. Esses dois condicionantes nos induzem à conclusão de que a adoção de modelos de composição envolve o conhecimento dos elementos de informação e da tipologia da frase privilegiados pelos praticantes de cada domínio.
É provável que os modelos de composição de uma resenha acadêmica não ultrapassem meia dúzia, consideradas apenas as orientações dos mais consumidos manuais de Metodologia Científica e de gêneros textuais. Vimos, no primeiro capítulo, alguns tipos clássicos, estruturados em três, quatro e cinco blocos de informação que constituem a estrutura retórica de cada modelo.
Quando examinamos os padrões retóricos mantidos (imperceptivelmente, em muitos casos) pelos membros de cada domínio acadêmico, esse número pode chegar a uma centena (dentro de um mesmo domínio, até). Isso ocorre porque no número de unidades de informação é reduzido, mas os modos de combiná-los variam bastante. O nome do autor, por exemplo, pode ser anunciado junto ao título da obra, pode antecedê-lo e pode, inclusive, nem aparecer no primeiro e no segundo parágrafo. A crítica, por exemplo, pode aparecer já no início da resenha, junto ao título da obra, ou ser anunciada apenas no último parágrafo da resenha e assim por diante.
Padrões, repetimos, são construídos entre praticantes de um mesmo domínio. Os que escrevem crítica literária obedecem e consolidam um padrão, os que criticam obras da medicina também obedecem e consolidam um padrão de escrita de resenha. Esses padrões somente ganham visibilidade após o exame de centenas de resenhas de uma mesma área, produzidas ao longo de décadas, submetidas, inclusive a uma abordagem estatística. O quadro 4.1 apresenta o padrão retórico de resenhas acadêmicas nas áreas de Teoria da Literatura e Literatura, revelado por G. Carvalho (2002).
Quadro 4.2. Padrão retórico de resenhas das áreas de Teoria da Literatura e Literatura
|
Apresentação e avaliação inicial |
|
| Descrição e avaliação de partes |
|
| Recomendação final |
|
4.2. Alguns modelos empregados nos domínios da História
Observando resenhas publicadas em revistas de História, de modo não exaustivo, percebemos o vigor desse modelo genérico, exemplificado com a experiência da Teoria Literária. O mais comum é encontrarmos as apresentações – exposições sobre quem é o autor e/ou sobre o que trata a obra – e a descrição da matéria (assunto/tema), veiculada como termo isolado, expressão ou proposição, ou seja, como sentença afirmativa ou negativa da autoria em relação ao tema/problema levantado.
No excerto abaixo (Quadro 3.2), os três movimentos mais empregados na construção de resenhas de História estão exemplificados. Ele se encaixa de modo simples no modelo genérico de composição de um texto que aprendemos nos cursos de redação do Ensino Fundamental: introdução, desenvolvimento e conclusão (entendendo o desenvolvimento como período em que o resenhista não intervém criticamente). Neste caso, a composição é constituída pelos valores atribuídos a cada parte da obra ou, de modo sintético, à obra tomada como um todo, principalmente a quem a obra pode servir. Designamos tal modelo com o título: “Apresentações / Proposições / Valores”.
Quadro 3.3. Composição de resenha do tipo “Apresentações / Proposições / Valores”
|
Apresentações |
1. Os historiadores brasileiros não têm a tradição de publicar obras que versem sobre discussões teórico-metodológicas […] São justamente as questões epistemológicas da historiografia contemporânea o tema central do livro História: a arte de inventar o passado, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior.
2. Doutor em História Social pela Universidade de Campinas, professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Albuquerque Júnior é autor de […] |
| Proposições | 3. A obra está dividida em três partes. Na primeira, o autor investiga a relação entre História e Literatura. Debate bastante atual, vem despertando a atenção de vários especialistas e gerando controvérsias múltiplas. Para Albuquerque Júnior, os historiadores tendem […]
4. Na segunda parte do livro, Albuquerque Júnior procura demonstrar a contribuição de Foucault para a escrita da história e para as reflexões epistemológicas dessa área do conhecimento. Filósofo francês que foi bastante “consumido” pelos historiadores brasileiros, principalmente […] 5. A terceira parte do livro apresenta um conjunto de textos diversos e desconexos, os quais abordam questões referentes aos problemas, dilemas e desafios da prática historiográfica contemporânea. Aí são enfocados temas como a relação entre memória e história […] |
| Avaliação de síntese | 5. Para Albuquerque Júnior, a História não é ciência. Em virtude disso, ele argumenta que ela “precisa escapar deste discurso racional, deve reintroduzir a arte em seu discurso”, e não perder de vista sua vocação transdisciplinar […]
10. […] Se a tendência é a colaboração, a maneira de realizá-la está ainda indefinida. E não me parece que a melhor maneira de empreender essa colaboração seja tomando a História como uma “proto-arte”, tal como propõe Albuquerque Júnior. Em vez disso, prefiro continuar acreditando no velho – porém ainda atual – Marc Bloch quando postula que a História é uma “ciência na infância: como todas as que têm por objeto o espírito humano, que chegou tarde ao campo do conhecimento racional. 11. […] (Domingues, 2009).
|
A ordem desses enunciados, contudo se modifica bastante. Observem os padrões dos quadros 3.4, 3.5 e 3.6. No modelo “Apresentações / Proposições / Proposições / Valores (Quadro 3.4), a estrutura genérica “introdução / desenvolvimento / conclusão” está presente, como de resto estará presente na maioria dos modelos de resenha (trata-se de um traço de cultura linguística).
Olhando de sobrevoo, não há diferenças em relação ao modelo anterior (“Apresentação / Proposição / Valores”). Mas observem (vejam grifos) que o resenhista não se limita a anunciar as proposições (ou as teses) do livro em sua ordenação original. Ele também se preocupa em explicitar as relações lógico-funcionais. Ao dizer que “a primeira parte do livro estabelece as bases”, a segunda “muda o argumento” e a terceira “coroa a demonstração” ele faz uma interpretação de segundo nível), ou seja, ele não transcreve, apenas, o que o autor disse em cada parte. A descrição das partes é, na verdade, uma metadescrição, o que podemos considerar uma atribuição de valor.
Quadro 3.4 Composição de resenha do tipo “Apresentações / Proposição / Proposição / Valores
|
Apresentações |
1. Sob um título um tanto paradoxal [A economia de Deus: Família e Mercado entre Cristianismo, Hebraísmo e Islã], Gérard Delille mostra como as três grandes religiões monoteístas do mundo antigo formam um sistema no sentido estruturalista do termo, ou seja, como mantêm relações de inversão que se correlacionam em vários níveis da realidade social. O parentesco, no sentido em que os antropólogos geralmente o entendem, serve de alavanca para o autor, ele próprio um historiador, traçar um quadro amplo do desenvolvimento diferencial do Ocidente e do Oriente Médio de acordo com a predominância desta ou daquela religião. […] |
| Proposições (I) | 2. A primeira parte do livro estabelece as bases, destacando o que diferencia as regras matrimoniais nas três respectivas esferas do judaísmo, islamismo e cristianismo. […] |
| Proposições (II) | 4. A segunda parte muda o argumento para o campo da economia. Entre os muçulmanos, o sistema parental é um sinal de fechamento; apenas a guerra de conquista, sinônimo de redistribuição em grande escala da riqueza, é um fator de desenvolvimento. Entre os judeus, a alternância entre endogamia parental e exogamia e também local, associada à manutenção de vínculos paternos e maternos, favorece a constituição de redes com extensas ramificações. […] |
| Proposições (III) | 5. Menos nutrida que as anteriores e mais clássica nos seus fundamentos teóricos, a terceira parte coroa a demonstração ao nível do exercício do poder e da construção do Estado. Opõe-se, assim, a dois modelos, nomeadamente o despotismo oriental e a soberania real prevalecente na Europa (excluindo um pouco rapidamente a questão do político no caso do judaísmo, que hoje surge com o Estado de Israel). […] |
| Avaliação de síntese | 6. A salvação de Deus é um livro que esperávamos há muito tempo. G. Delille combina com sucesso e generosamente abordagens históricas e antropológicas. Seu afresco abarca espaços, temporalidades e temas extremamente diversos, que ele consegue vincular a uma força heurística incomum hoje. Esse verdadeiro tour de force torna a crítica difícil. Se fôssemos formular uma, no entanto, ele se relacionaria com a primazia concedida à noção de troca matrimonial. |
| 7. Esta noção foi forjada por Claude Lévi-Strauss no quadro da teoria antropológica, da qual Marcel Mauss é o iniciador, de um vínculo social fundamental que se basearia na força da dívida. […] Mas G. Delille, aqui como em seus trabalhos anteriores (dos quais este livro é também a feliz síntese), usa as noções de troca e reciprocidade de uma forma, nos parece, muito rígida. […] Esta é uma objeção de fundo que de forma alguma mancha nossa admiração por este livro, que está destinado a se tornar rapidamente um clássico das ciências sociais. Apenas um ponto a lamentar: um dispositivo de referência extremamente tedioso de usar. A ausência de notas de rodapé, todas rejeitadas no final do volume, e de bibliografia geral não é bem compensada pelo índice, por mais exaustivo que seja. (Desvéaux, 2016)
|
No modelo “Apresentações / Proposições e Valores / Valores” (Quadro 3.5), o traço diferenciador está na intercalação de proposições e críticas ao longo de cada parte (seção/capítulo) do livro em análise. Aqui, a atribuição de valor ao longo da descrição dos capítulos é explícita. Por essa estratégia, o leitor da resenha já vai construindo (no curso da descrição dos capítulos) uma ideia do valor final que o resenhista quer atribuir a obra.
Quadro 3.5. Composição de resenha do tipo “Apresentações / Proposições e valores / Valores
|
Apresentações |
1. Uma introdução à história da historiografia brasileira (1870-1970) oscila entre o inventário das concepções de historiador ideal e a transmutação do objeto “historiografia” ou “história da historiografia”, na duração de um século: de reflexão dispersa em necrológios e artigos de jornal à disciplina curricular da formação universitária em História […]
2. Thiago Lima Nicodemo (Unicamp), Pedro Afonso Cristovão dos Santos (UNILA) e Mateus Henrique de Faria Pereira (UFOP) são jovens pesquisadores da área de Teoria e História da Historiografia. Eles tentaram se livrar da história da historiografia brasileira como inventário de homens e livros em ordem cronológica, mas enfrentaram dificuldades […] |
| Proposições e Avaliação (I) | 3. A primeira delas está na tentativa meritória, mas infrutífera (neste caso), de combater o narcisismo implícito na autoria individual, diluindo os interesses dos falantes por meio de capítulos não autógrafos. […] |
| Proposições e Avaliação (II) | 7. No primeiro capítulo, são examinadas as frequências de uso da palavra historiografia nos últimos três séculos. A ideia é boa. A execução é limitada porque a fonte – o Google Ngram Viewe – não armazena obras em português. Por essa razão, os autores concluem, dedutivamente de modo corajoso: a instauração de um moderno conceito de história (historiografia), fenômeno global, é também fenômeno brasileiro. […]. Mas há um senão no caminho que é o fato de ancorar essa tese na mutação do conceito de história, difundida por R. Koselleck. Para enxergar algo novo no pensamento dos brasileiros sobre a historiografia, seria um bom exercício usar a mudança narrada por Koselleck como tipo e não como acontecimento histórico. […] |
| Avaliação de síntese | 19. Como afirmei no início, Uma introdução à História da Historiografia Brasileira pela pela ousadia de tentar diluir a autoria. Claro que é possível enxergar o “fio condutor” do livro. Mas a execução é prejudicada pela timidez em adotar um modelo interpretativo. Eles oscilam entre análises internalistas, apoiam a causação em contextos econômico-políticos e sofrem com a ausência de monografias sobre boa parte dos indícios que lançaram mão para demonstrar a tese […]
22. Parafraseando Maria Odila Leite da Silva Dias, com a mesma citação que finaliza o texto do livro, é muito “difícil pensar em fazer síntese [da historiografia] quando ainda desconhecemos grande parte da história [da historiografia] do Brasil.” (Freitas, 2020)
|
No modelo “Avaliação sintética / Avaliação / Avaliação / Avaliação sintética”, o resenhista faz a avaliação de conjunto da obra já no primeiro parágrafo do seu texto. O leitor já é informado dos principais vícios e das principais virtudes do livro. Dali em diante, ele prossegue se quiser (Em jargão da internet, o resenhista dar spoiler). Neste modelo, praticamente não há espaço reservado ao “que diz o autor”. Toda descrição é acompanhada de avaliações sem trégua. Ao final, o resenhista recupera a crítica sintética a obra e reforça o circuito neuronal constituído na cabeça do leitor, há aproximadamente dez minutos.
Quadro 3.6. Composição de resenha do tipo “Avaliação sintética / Avaliação / Avaliação…/ Avaliação sintética
|
Avaliação de síntese (+) (–) |
1. Lendo esta Histoire des Juifs, de Simon Schama, ficamos deslumbrados e irritados. Quanto mais avançamos na leitura, mais a admiração e a irritação aumentam. Antes de tudo, é a admiração que domina. […] |
| Avaliação
(+) |
2. Para o período bíblico e a interpretação de dados arqueológicos, um assunto de debate acalorado, em particular, nos últimos quarenta anos, ele se voltou para especialistas reconhecidos e abriu seu caminho – um meio-termo, entre a confiança perfeita no relato bíblico e o postulado de sua a-historicidade total. […] |
| Avaliação
(+) |
3. Schama oferece um texto muito animado, mas, como você pode esperar, o melhor do texto está nos dois exercícios em que é conhecido por se destacar, e primeiro no uso de arquivos visuais e material de dados […]. |
| Avaliação
(–) |
6. Mas, e a irritação? Ela está no fato de não vermos nenhuma das questões fortes que a história dos judeus pede, não dizemos em termos de decisão, mas apenas de questionamento […] |
| Avaliação
(–) |
7. Não temos necessariamente gostos e aversões diferentes. Mas esses desenvolvimentos lembram, pela combinação da suavidade do pensamento e do lirismo do tom, um discurso apologético amplamente difundido, pelo menos em certas correntes do judaísmo após a Emancipação. […] |
| Avaliação de síntese
(+) (–) |
10. […] Além disso, a empresa pode atender a adesão: o livro será então transformado em livro de presente, oferecido às crianças que não o lerão pelos pais que também não o lerão, pois não sentirão necessidade de legitimar por precedentes históricos a existência suburbana de hoje. Seria uma pena: aqui está um livro que, apesar dessas fragilidades essenciais, é uma espécie de obra-prima. (Kriegel, 2016)
|
No modelo “Proposição – Avaliação / Proposição – Avaliação / Avaliação sintética”, o resenhista não faz a apresentação do autor e obra. Ele apresenta o tema e inicia a resenha narrando sua experiência com a matéria. Os demais tópicos são enunciados de proposições autorais e avaliações do resenhistas, ordenadas na mesma sequência da exposição original. O resenhista demonstra extrema familiaridade e autoridade sobre a matéria, além de narrar em primeira pessoa. Essa estratégia de minimizar o espaço ao “que que disse o autor” amplia o seu poder de persuasão sobre o leitor. Observem, por fim, que praticamente metade do espaço da resenha (13 parágrafos em 25) é usado para a crítica de síntese.
Quadro 3.7. Composição de resenha do tipo “Revisão da literatura / Proposição – Avaliação / Proposição – Avaliação / Avaliação sintética
|
Revisão da literatura e relato de experiência |
1. Em 1974, quando anunciei ao orientador do meu corpo docente que pretendia fazer uma dissertação sobre algum aspecto da história da homossexualidade, a decisão representou um ato de fé de minha parte. Naquele ponto, não havia “história gay” […]
2. A convicção de que tal projeto poderia ser realizado foi finalmente provada para mim quando li o livro de 1977 de Jeffrey Weeks, Coming Out . 2 Weeks encontrou documentação suficiente para ser capaz de construir uma história interpretativa do ativismo gay – ou “política homossexual”, como seu subtítulo a descreveu – que se estendeu por quase cem anos. |
| Proposição
Avaliação |
4. Weeks começa definindo um contexto e delineando uma estrutura para as discussões historiográficas que se seguirão. |
| Proposição
Avaliação |
5. Weeks então passa a considerar o que ele descreve como “a invenção da história sexual” (23). |
| Proposição
Avaliação |
6. Em vez de tentar pesquisar a vasta gama de tópicos cobertos na literatura histórica sobre sexualidade, Weeks opta por dar um zoom em dois: história LGBT e histórias de gênero, sexualidade e poder. Em um capítulo intitulado “Questionando e Queering a História do Mesmo Sexo”, Weeks relata como a escrita desta história queer foi “a princípio uma obra de recuperação” (41). […] |
| Proposição
Avaliação |
8. Tendo discutido essas duas grandes áreas na literatura da história sexual, Weeks muda seu foco para dois outros tópicos importantes: a integração da história sexual e sua globalização. […] Ao incorporar a história sexual, Weeks sugere, o trabalho produzido ao longo de várias décadas pode ser um recurso valioso para compreender e responder a essas mudanças. |
| Proposição
Avaliação |
9. Embora Weeks seja inequívoco sobre o valor e a necessidade de a sexualidade entrar na corrente principal do conhecimento e das narrativas históricas, ele me parece menos claro sobre até que ponto isso aconteceu. […] |
| Avaliação sintética | 13. Olhando além dos capítulos individuais para o livro em sua totalidade, descobri que questionava uma das afirmações centrais de Weeks […] |
| 15. Mencionei anteriormente que, de todas as questões discutidas no livro, aquela cujas conclusões são mais ambíguas é a questão da integração. Não é difícil para mim entender por que isso acontece porque, dependendo do ponto de vista a partir do qual se examina a questão, nossa avaliação pode ser muito diferente. […] | |
| 17. No entanto, ao mesmo tempo, pode-se argumentar razoavelmente que a história LGBT existe em seu próprio silo separado e fechado. […] | |
| 24. Ironicamente, no que diz respeito à questão da integração, essa lealdade compartilhada a uma história sexual crítica significou que, em um grau significativo, ambos os conjuntos de historiadores permanecem bastante marginais. […] | |
| 25. Reconhecer essas limitações no alcance e na influência da história sexual não é negar, nas palavras de Weeks que citei antes, que a história sexual deu “grandes passos a partir das margens” e que contribuiu para o enfraquecimento das estruturas opressivas e políticas. Mas, como ele reconhece e eu confirmo, ainda há um longo caminho a percorrer.
|
Desconhecemos estudos sobre o padrão retórico das resenhas na área de História e/ou Ensino de História. O que fizemos no tópico 4.2 foi uma breve demonstração dos modelos que flagramos em um exame de pouco mais de 30 resenhas, entre nacionais e estrangeiros, entre os quais estavam a estadunidense History and Theory, a francesa Annales e as brasileiras Saeculum e Ponta de Lança.
Mas é plenamente possível apresentar alguns padrões retóricos em história a partir de apenas uma revista, examinando detalhada e sistematicamente todas as resenhas publicadas ao longo de determinado ciclo vital. É o que faremos na próxima aula.
Para citar este texto:
FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Maria Margarida Dias de. Modelos de composição de resenhas: In: Resenhando como historiadores. Aracaju: Criação, 2021. [No Prelo].
Ensino de História da África e educação antirracista: experiências no ensino médio em Aracaju-SE [MODELO]*
Kátia Maria da Silva Leite
Este texto cumpre atividade final do curso xxxxxxxxxxxxx, ministrado pelo professor Itamar Freitas, entre agosto e novembro de 2022, no Mestrado Profissional em Ensino de História.
O seu objetivo é indicar uma ideia de aprendizagem histórica que pode orientar a construção das estratégias de ensino resultantes da investigação produzida no ProfHistória. Aqui, limitamo-nos a apresentar um sentido de aprendizagem e/ou aprendizagem histórica que poderá servir de quadro teórico do produto final, cujo título e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Este título é traduzido no problema que se segue: Quais estratégias empregar no combate ao preconceito racial em turmas do ensino fundamental, em escolas de classe média, empregando como indutor os conteúdos de História da África? [Questão principal]
Trata-se de um problema que emerge das minhas demandas diárias xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no que diz respeito à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
A nossa hipótese é a de que a construção de um conjunto de sequências didáticas pode minorar essa insuficiência dos colegas no trabalho de combate ao preconceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Assim, com essas justificativas e questão, temos como objetivo a promoção do ensino de história dentro de uma educação antirracista [Objetivo geral]. Dentro desse objetivo, nos propomos a induzir os alunos à reflexão sobre a importância dos povos africanos [Objetivo específico], desconstruir imagens estereotipadas partilhadas por alunos do ensino médio sobre os povos africanos [Objetivo específico], estimular a construção de estratégias de contestação e combate do preconceito racial [Objetivo específico] e, o que consideramos mais efetivo, desenvolver sequências didáticas contatos entre europeus e africanos no século XV-XII. [Objetivo específico – PRODUTO]
Esse produto, inicialmente, foi estruturado em cinco momentos didáticos. No primeiro, o professor identifica conhecimentos prévios dos alunos sobre povos africanos. No segundo, questiona estereótipos negativos sobre povos africanos nos discursos dos alunos. No terceiro, convida os alunos a analisarem letras de música sob o ponto de vista da autoria, tempo e espaço de produção, interpretação em primeiro plano (literal) e interpretação em segundo plano. No quarto, identifica preconceitos em letras de rapp ao longo das últimas três décadas, no Brasil. No quinto, por fim, o professor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [momento didático em que o professor auxilia os alunos a construírem estratégias de contestação].
Considerando a proposta acima, tomamos as ideias de fulano xxxxxxxxxx e beltrano xxxxxxxx para orientar a construção do nosso produto, entendendo a aprendizagem histórica como xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Essa definição de aprendizagem está explícita na ideia de que o preconceito racial é xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e somente pode ser combatido se os alunos modificarem suas percepções sobre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Conforme xxxxxxxxx, o aluno aprende a respeitar xxxxxx (ou seja, modifica o seu comportamento estereotipado) quando xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Em síntese, as ideias de aprendizagem histórica de xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxx serão explicitadas, principalmente, nas cinco habilidades prescritas nos cinco passos da sequência didática sugerida acima, ou seja, para xxxxxxxxxxxxxxxx, emprego a habilidade rememorar o passado; para modificar o comportamento preconceituoso, emprego xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.
(*) Os textos devem medir entre 400 palavras e 600 palavras (inclusas as referências bibliográficas).
Historia Regional. Villa Constitución, n.48, enero/abril, 2023.
Dossier: “Territorios, oralidad y memoria: huellas del pasado en el cine y audiovisual contemporáneo” Coordinadoras: Paz Escobar (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-CONICET) Paula Rodríguez Marino (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad, Universidad Nacional de Río Negro) Moira Cristiá (CONICET-Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires) Imagen de tapa: Fotografía de rodaje de Chubut, libertad y tierra (Carlos Echeverría, 2019). Gentileza de Carlos Echeverría.
Dossier
- Presentación al dossier. Territorios, oralidad y memoria: huellas del pasado en el cine y audiovisual contemporáneo
- Paz Escobar, Paula Rodríguez Marino, Moira Cristiá
- PDFHTMLEPUB
- Testimonios, oralidad y territorio en Chubut, libertad y tierra (2019)
- Maximiliano de la Puente, Lorena Díaz Quiroga
- PDFHTMLEPUB
- Las Aspirantes de Gretel Suárez (2018): Memorias subterráneas de Malvinas y una fuerza insumisa
- Verónica Perera
- PDFHTMLEPUB
- Testimonios del agua: algunas consideraciones sobre la oralidad, las imágenes y el territorio en El Botón de Nácar (2015)
- Rebeca Surai Sotelo
- PDFHTMLEPUB
- Memorias de solidaridad y violencia política durante la última dictadura argentina. Historias conectadas en el documental Exilio en África
- Moira Cristiá, Mario Ayala
- PDFHTMLEPUB
- De Argentina a Nicaragua en super-8. Memoria, heroísmo y género en la militancia comunista de los ochenta
- Victoria Bona
- PDFHTMLEPUB
- Archivos de la subalternidad: territorio y testimonios en Querida Mara, cartas de un viaje por la Patagonia (Carlos Echeverría, 2008)
- Paz Escobar
- PDFHTMLEPUB
- Voces y gestualidades que se extinguen: el archivo audiovisual como salvaguarda de la subjetividad corporal de las cautivas de las Magdalenas
- Paula Brain
- PDFHTMLEPUB
Artículos
- El manejo de los residuos orgánicos en el virreinato del Perú: El caso de los muladares de la ciudad de Lima
- Paula Ermila Rivasplata Varillas
- PDFHTMLEPUB
- “Sírvase su majestad”: Los donativos regionales durante el gobierno del virrey Abascal según la Minerva Peruana y la Gaceta del Gobierno de Lima, 1808-1816
- Daniel Morán Ramos, Jesús Yarango Velásquez, Carlos Carcelén Reluz
- PDFHTMLEPUB
- De “La Matanza” a “La Victoria”. El departamento de Victoria, Entre Ríos, y su dinámica poblacional durante el siglo XIX
- Ana María Ferreyra, José Antonio Mateo
- PDFHTMLEPUB
- El “anarquismo argentino” en la historiografía anarquista. De la construcción de una noción centralista a la ampliación de la escala geográfica
- Ivanna Margarucci
- PDFHTMLEPUB
- Una flor exótica en el desierto. Segunda huelga del magisterio mendocino (julio-agosto de 1919)
- Matías Latorre
- PDFHTMLEPUB
- Una mirada a la configuración histórica de la docencia rural desde la perspectiva de género
- María Susana Mayer
- PDFHTMLEPUB
- Agencias estatales y políticas turísticas en Salta (1934- 1943)
- Carlos Martín Rodríguez Buscia
- PDFHTMLEPUB
- La Confederación General de los Trabajadores y la cultura física entre 1946 y 1955. Tensiones, negociaciones y alianzas con el gobierno peronista
- Iván Pablo Orbuch
- PDFHTMLEPUB
- Una “verdadera” universidad. El proceso de transformación de la Universidad Obrera Nacional en Universidad Tecnológica Nacional (1955-1959)
- Álvaro Sebastián Koc Muñoz
- PDFHTMLEPUB
- Un reclamo centenario que resurge: estrategias gremiales de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario en torno al conflicto por el descanso dominical (1998-2019)
- Jaime Guiamet
- PDFHTMLEPUB
Textos
- Aprendiendo el oficio. Aportes y contribuciones a la historia regional desde la formación docente
- Victorio Zuliani
- PDFHTMLEPUB
Materiales para el trabajo de cátedra
- ¿Qué piensan quienes producen? Representaciones en torno a la relación sociedad-naturaleza de familias productoras del sur santafesino
- Evangelina Ana Tifni
- PDFHTMLEPUB
Aprendiendo el oficio
- Ausencias institucionales y femicidios evitables, el caso de Villa Constitución, 2009-2015
- Eliana Fabiani
- PDFHTMLEPUP
Revista de libros
- Reseña de Libros: BADALONI, Laura; Ferroviarios del Central Argentino. La conformación de un colectivo de trabajadores (1902-1933); Imago Mundi / CEHTI, Buenos Aires, 2022, 422 pp.
- Micaela Spagnoli
- PDFHTMLEPUB
- Reseña de Libros: ADRIANI, Marcelo Luciano; El Peronismo de Santa Fe (1973-1976). Frentismo, rupturas internas y desestabilización institucional. Córdoba. Tinta Ilustre. 2021. 224 páginas.
- Alberto Neirot
- PDFHTMLEPUB
Publicado: 2022-12-08
Antipatriotas del agua. Conflictos y grupos de interés en el franquismo | Francesco D’Amaro
El libro a reseñar tiene como eje central las disputas sobre el agua en España durante el régimen de Franco. Sus principales fuentes proceden de los archivos de varias instituciones de regantes (Real Acequia del Júcar y Federación Nacional de Comunidades de Regantes). Además, se complementa con otras procedentes de la dictadura franquista, en especial las del Sindicalismo Vertical. A través de ellas, el autor disecciona los difíciles equilibrios entre el Estado dictatorial y los poderes tradicionales en el heterogéneo escenario del mundo rural.
La obra es el resultado de una tesis doctoral que ya había tenido notables anticipos en forma de artículos. Al tratarse de un autor que se ha movido entre dos historiografías, la italiana y la española, el ejercicio de historia comparada se realiza aquí con una acusada naturalidad, integrando los debates más interesantes en el texto. En general, son mejor conocidos los consorzi di bonifica, instituciones para el regadío implementadas en Italia antes de la II Guerra Mundial, que las entidades surgidas en torno al riego en España. Leia Mais
Los últimos años de la reforma agraria mexicana/ 1971-1991: una historia política desde el noroeste | Luis Aboites
Uno de los principales temas dentro de la historiografía agraria mexicana es el de la reforma agraria. Resultado del movimiento armado iniciado en 1910, esta reforma ha sido estudiada en miles de páginas en donde se destacan las políticas impulsadas por el Estado posrevolucionario, el número de hectáreas repartidas, los problemas que trajo su puesta en práctica y su culminación con la promulgación de la reforma al artículo 27 constitucional en el año de 1992, por solo mencionar algunos de los aspectos que se han abordado. Este último punto, el fin de la reforma agraria, es el objeto de estudio de la obra que aquí se reseña.
Los últimos años de la reforma agraria mexicana es un libro que nos presenta una historia política de los últimos 20 años del reparto agrario. Desde una perspectiva en donde se conecta lo regional con lo nacional, este trabajo busca rebasar la interpretación que sitúa como grandes protagonistas del fin de la reforma agraria a las políticas neoliberales impulsadas en México desde la década de los años ochenta y al autoritarismo del régimen de partido único, encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En contraposición con esta postura y como una de las principales contribuciones de esta investigación, el autor realiza una crítica puntual a la estatolatría de cierta historiografía que ha centrado su análisis en la figura presidencial, en las políticas estatales y en la historia de la reforma agraria dividida en sexenios, para poner mayor atención en los cambios demográficos y económicos, así como en el papel de los actores, específicamente “en los enemigos de la reforma agraria” (p. 20), por lo que, en última instancia, se trata principalmente de una historia política de los conflictos entre el antiagrarismo de los hacendados-empresarios expropiados y el Estado posrevolucionario, “en especial contra el presidencialismo y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)” (p. 21), que culminó con el triunfo de los primeros. Leia Mais
Senderos de la historia. Miradas y actores en medio siglo de historia rural | Alba Díaz-Geada e Lourenzo Fernández Prieto
Esta obra supone una notable actualización y balance de la historiografía agraria española de las últimas décadas. Siguiendo la tradición establecida por el Seminario de Historia Agraria (SEHA), actualmente Sociedad de Estudios de Historia Agraria, propone un debate colectivo en torno a las modificaciones operadas en enfoques, métodos y sujetos que han sido abordados por la historia agraria en las épocas moderna y contemporánea. Así, supone un encuentro de diversas generaciones de historiadores que, desde la década de 1970, se han esforzado, desde publicaciones, seminarios y congresos, en mantener y extender una escuela historiográfica de gran calidad, modélica para otros campos de la historia contemporánea por su fomento de una interdisciplinariedad que, por definición, acoge en su seno la historia agraria por su porosidad y conexiones científicas con la historia política, económica, social o cultural.
Senderos de la historia viene por tanto a significar un nuevo impulso al seguir la estela de la gran renovación que implicó, veinte años antes, la publicación de El pozo de todos los males1. En este libro se superaron las tesis historiográficas más clásicas sobre el “atraso” de la agricultura española situando nuevas perspectivas en torno a variables analíticas como las características del cambio tecnológico, las relaciones económico-ambientales o la distribución de la renta y la riqueza. De este modo, concluyó que carecía de sentido caracterizar como “atrasada” la evolución de la agricultura y la economía españolas durante la fase expansiva capitalista culminada en la década de 1930, puesto que dicha evolución fue consecuencia de reglas sociales articuladas para impulsar el crecimiento en un contexto de gran desigualdad y en un contexto ambiental de posibilidades limitadas, creando un desarrollo social muy precario y con escasas capacidades de reproducción estable. Una década más tarde, la evolución de la historia agraria española conoció otro importante jalón con la publicación de Sombras del progreso2, donde se profundizó en estas tesis. Leia Mais
Fields of Revolution: Agrarian Reform and Rural State Formation in Bolivia/1935- 1964 | Carmen Soliz
The question of agrarian reform in Latin America has recently resurfaced as a topic of historical inquiry. In this context of renewed attention to the political nature of land reform, scholars have begun to ask: which land reform was the most radical? While the success of Mexico’s agrarian reform has been hotly contested for decades, gains from Guatemala’s reform were reversed after the 1954 coup, and Cuba’s 1959 land reform suddenly appears less radical when paired against the 1969 agrarian reform that cooperativized land in Peru. Bolivia’s 1953 land reform has seldom been interpreted as more transformational, far-reaching, or long-lasting than these or other Latin American examples. But Carmen Soliz’s methodically researched book, Fields of Revolution: Agrarian Reform and Rural State Formation in Bolivia, 1935-1964, seems to suggest just that.
Standard depictions of Bolivia’s 1952 revolution have regarded its agrarian reform law as either incomplete or a failure. Indeed, when Cuban revolutionaries embarked on their own project of agrarian reform in 1959, they looked to the Mexican and Bolivian cases for inspiration but concluded that neither had been successful enough to elicit emulation. The scholarship on Bolivia’s 1952 revolution, moreover, has continued to interpret Bolivia’s agrarian reform as limited, top-down, and applied in a clientelist manner. Soliz’s book overturns those conceptions and brings to light an entirely different reality, one forged in the highlands of rural Bolivia, where peasants expanded the limits of the agrarian reform law, won a new future for themselves, and changed the outlook of Bolivian politics. Leia Mais
Colonial cataclysms: climate/landscape/and memory in Mexico’s Little Ice Age | Bradley Skopyk
Difícilmente podríamos decir que el clima es una novedad para las ciencias históricas, en especial cuando los estudios abarcan el mundo agrario. En el caso de la literatura sobre el espacio que hoy conforma el territorio mexicano, desde fines del siglo pasado podemos encontrar historiadores y arqueólogos realizando análisis que involucran eventos de sequías, heladas, sedimentación e inundaciones. Aunque estos antecedentes no han desembocado en una historia del clima con la misma expresión que tienen otros tipos de abordajes y narrativas, lo cierto es que en los últimos años aquellos especialistas atentos a las variables y variabilidades climáticas han logrado identificar y/o replantear problemáticas que antes eran vistas desde un mareante antropocentrismo. Asimismo, sus estudios producen cada vez más metodologías nuevas para sacar e interpretar datos climáticos (proxy data) presentes en los archivos o producidos por otras ciencias. Es justo en este presente historiográfico, y en diálogo con él, que vino a luz el libro Colonial Cataclysms: climate, landscape, and memory in Mexico’s Little Ice Age, escrito por el historiador Bradley Skopyk.
Colonial Cataclysms es un estudio con la mirada puesta sobre México central durante el dominio ibérico y constituye una aportación mayúscula a la historia de la región analizada y un acercamiento novedoso a los procesos ocurridos en el marco de la Pequeña Era del Hielo (PEH en adelante). Con base en una serie de variaciones climáticas elaborada por el autor mediante la correlación entre las dinámicas del clima, los conocimientos morfodinámicos, estudios dendrocronológicos y el archivo, este trabajo se desarrolla a partir del argumento de que entre principios del siglo XVI y fines del siglo XVIII, México central vivió una etapa de flujo ambiental, social y político directamente vinculada a la existencia de dos cataclismos. Según el autor, estos cambios abruptos tuvieron orígenes diferentes y sus rasgos quedaron incrustados en el paisaje físico y documentado. Mientras el primero, de carácter más climático, se conformó a partir de una fase de la PEH que se prolongó hasta fines del siglo XVII y se caracterizó por picos de humedad y bajas temperaturas, el segundo tuvo una manifestación más geomórfica, distinguiéndose por una rápida transformación del campo, donde los paisajes palustres fueron sucedidos por otros de laderas áridas y valles sedimentados y disecados. Leia Mais
Historia Agraria de América Latina. Santiago, v.3, n.2, nov., 2022.
Artículos
- The California Gold Rush and the Creation of Chile’s National Mortgage Bank: the Caja de Crédito Hipotecario
- Philip Brock
- Ver Artículo Descargar PDF Descargar PDF
- Innovar en una coyuntura adversa: iniciativas estatales y experiencias de agricultores ante la crisis agrícola en la Pampa Seca (1937-1945)
- Federico Martocci
- Ver Artículo Descargar PDF
- Usurpaciones y disputas por la tierra en el nororiente del Nuevo Reino de Granada, siglos XVII-XVIII
- Roger Pita Pico
- Ver Artículo Descargar PDF
- The emergence of Brazil as the Leading World Exporter of Chicken Meat
- Herbert Klein, Francisco Vidal
- Ver Artículo Descargar PDF
- Régimen de propiedad de la tierra y explotación petrolera: El caso del Municipio de Amatlán, Veracruz, México, 1910-1921
- Marcela Gaona Díaz
- Ver Artículo Descargar PDF
- Ejidatarios, legislación agraria y territorios en Veracruz, México. Noventa años de relaciones complejas
- Virginie Thiébaut
- Ver Artículo Descargar PDF
Reseñas
- Bradley Skopyk, Colonial cataclysms: climate, landscape, and memory in Mexico’s Little Ice Age. Tucson: The University of Arizona Press, 2020, 313 pp. ISBN-13:978-0-81653996-3.
- Rubens Vanderlan Oliveira Santos
- Ver Artículo Descargar PDF
- Carmen Soliz, Fields of Revolution: Agrarian Reform and Rural State Formation in Bolivia, 1935-1964. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2021, 280 pp. ISBN: 9780822946656.
- Sara Kozameh
- Ver Artículo Descargar PDF
- Francesco D’Amaro, Antipatriotas del agua. Conflictos y grupos de interés en el franquismo. Granada: Comares, 2022, 265 pp. ISBN 978-84-1369-338-5.
- Sergio Riesco
- Ver Artículo Descargar PDF
- Luis Aboites, Los últimos años de la reforma agraria mexicana, 1971-1991: una historia política desde el noroeste. Ciudad de México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2022, 333 pp. ISBN 978-607-564-319-9.
- Nicolás Vázquez Ortega
- Ver Artículo Descargar PDF
- Alba Díaz-Geada y Lourenzo Fernández Prieto (coord.), Senderos de la historia. Miradas y actores en medio siglo de historia rural. Granada: Comares, 2020, 338 pp. ISBN 978-84-1369-081-0.
- Adrián Sánchez Castillo
- Ver Artículo Descargar PDF
Quirón. Medelin, v.8, n.17, 2022.
Historia urbana y ambiental
Editorial
- Editorial No. 17
- Comité editorial
Artículo
- El plano del recinto ceremonial de México-Tenochtitlan en los Memoriales de fray Bernardino de Sahagún: algunas consideraciones entre la Historia y la Arqueología
- Aldo Sauza Díaz
- Entre olvido y ruinas: San Martín de Cancán, un antiguo poblado minero en el nordeste antioqueño
- Diego Alejandro Herrera Rodríguez
- Transitar y civilizar. El camino de Honda y su importancia en el crecimiento y evolución de Santafé de Bogotá: 1580-1630
- Pablo Andrés Montoya Soto
- La configuración de un ideal femenino desde el pensamiento de élite. Bogotá, 1858-1895
- Camila De los Ríos Muñoz
- Desde el cosmos hasta la vida humana: Cuerpo y Naturaleza como sujetos históricos. Un aporte teórico desde el materialismo dialéctico
- Jhonatan Josué Gómez Guevara, Juan Sebastián Ocampo Murillo
- La oposición política en Colombia: historia y funcionamiento desde principios del siglo XX hasta 2020
- Andrés Felipe Peñaranda Ospino
Reseña
- Serrano Pérez, Sol. El Liceo. Relato, memoria, política. Santiago de Chile: Taurus, 2018, 108 pp.
- Matías Orlando Ramírez Álvarez
- Crónica de Archivo
- Archivo Fotográfico de la Colección de Historia del Museo Universitario Universidad de Antioquia
- Diana Fernanda Bolaños Argote, Cristina Isabel Bolaños Argote
- Transcripciones
- Los indios de Oicatá frente a la viruela, las heladas y las conducciones mineras, 1694
- Camilo Andrés Gaviria García, Enmanuel David Tirado Herrera, Luis Felipe Vélez Pérez
- Transcripción de Relación del descubrimiento del Dorado
- Simón Flórez López
Publicado: 2022-11-01
Revista Brasileira de História Militar. Rio de Janeiro, v.32, nov., 2022.
- Os Dois Fortes da Cidade de Filipeia da Capitania da Paraíba (1585-1639): Esclarecendo um Equívoco Recorrente
- Leandro Vilar Oliveira, George Henrique de Vasconcelos Gomes
- A Independência do Brasil na Bahia e o Surgimento do Exército Imperial Brasileiro
- Lucas Cerqueira Viana Pio
- Espada de Honra: General Osorio – O Legendário
- Érico Storto Padilha, Carlos Alexandre de Almeida Costa
- As primeiras décadas de atuação da Polícia Militar no litoral do Paraná: Da emancipação Política ao final do Período Imperial (1854-1889)
- Fernando Mendes Coelho
- A Sobrevivência pela Conquista: O Processo de Modernização Bélica Etíope entre 1855 e 1935
- Mário Lemos Flores do Prado
- História do Exército dos EUA: Evolução Militar e presença no Território Nacional
- Fernando da Silva Rodrigues
Intelligere. São Paulo, n.13, 2022.
APRESENTAÇÃO
- Apresentação
- Os Editores
DOSSIÊ: GEORGE ORWELL
- My Path to and with Orwell
- Gregory Claeys
- Geopolítica da Distopia: o sistema de dominação em 1984
- Leonardo Lucena Trevas
- Insatisfação resignada: comentários sobre A flor da Inglaterra, de George Orwell
- Débora Reis Tavares, Daniel Puglia
- Winston Smith, tradutor
- Bruno Gambarotto
- Tudo a partir de um grão: o real totalitarismo de 1984
- Fabio Akcelrud Durão, Tauan Fernandes Tinti
- Entrevista Fido Nesti
- Fido Nesti
- Entrevista Richard Blair
- Richard Blair
ARTIGOS
- Tycho Brahe e a precisão das observações astronômicas
- Claudemir Roque Tossato
- Annales fuera de Francia: la historia de las mentalidades y su inserción en el ámbito historiográfico mexicano
- Alfredo Ruiz Islas
- Hayden White e os limites da escrita do Holocausto: do narrativismo ao passado prático
- Fernando Garcia
- Projetos distintos: leituras sobre Edith Stein no Brasil no início do século XX
- Danilo Souza Ferreira
TRADUÇÕES
- Plinio, o Velho e o estudo das aves
- Lilian Al-Chueyr Pereira Martins, Pedro de Lima Navarro
PESQUISA
- Tolkien: uma análise sobre a cultura política conservadora inglesa
- Mara Lúcia Ribeiro de Sousa
EXPEDIENTE
- Expediente
- Os Editores
PUBLICADO: 2022-10-27
Estudios de Filosifía Práctica e Historia de las Ideas. Mendonza, vol. 25, 2022
Dosier
- Arturo A. Roig. A cien años de su nacimiento
- Laura Aldana Contardi, Marcos Olalla
- HTML
- La filosofía de Arturo Roig como respuesta a la desconfianza foucaultiana en torno a la liberación
- Sebastián Botticelli
- HTML
- Necesidad y libertad en la teoría crítica del sujeto de Arturo Roig
- Matías Hernán Vera
- HTML
- ¿Cómo se piensa el acontecer histórico de nuestra América?Apuntes sobre la propuesta de una teoría crítica de la historia de las ideas filosóficas en la obra de Arturo Andrés Roig
- Dante Ramaglia
- HTML
- Función misiva: el mensaje de la filosofía de la historia
- Andrés Carlos Gabriel Perez Javaloyes
- HTML
- Arturo Roig y Paulo Freire: un diálogo imprescindible para (re) pensar la cuestión del sujetx desde la filosofía latinoamericana crítica
- Noelia Zalazar
- HTML
- Identidades indígenas ontologizadas y discriminación
- Maria Luisa Rubinelli
- HTML
- Reflexiones en torno a la identidad en los escritos de Arturo Andrés Roig
- Noelia Liz Gatica
- HTML
- Arturo Andrés Roig: notas acerca de una tradición de lectura, del abordaje metodológico y de la transformación educativa
- laura guic
- HTML
- La complejidad de la danza de las formas en la historia de la sociedadUn análisis del Tropicalismo brasileño a partir de nociones roigeanas
- Ana Carolina da Luz
- HTML
Comentarios de libros
- Elisabeth Roig. Empecinado filósofo de la esperanza: biobibliografía anotada de Arturo Andrés Roig
- Adriana María Arpini, Elisabeth Roig
- HTML
Publicado: 2022-10-21
Origem dos Munduruku | Daniel Munduruku
Aldeia Munduruku Katô, Rio Kabitutu, Jacareacanga – PA | Foto: Wilmar Santin
Um dia, os homens apareceram sobre a terra. Os primeiros homens que os animais das florestas viram nas selvas e nas savanas foram aqueles que fundaram a maloca de Acupary.
Certo dia, entre os homens da maloca de Acupary, surgiu Karu Sakaibê, o Grande Ser. Não havia então sobre a terra outro tipo de caça a não ser o de pequeno porte, mas logo a caça grossa se multiplicou. E isso aconteceu por obra de Kary Sakaibê, que muito gostava daquele povo e não queria que ele passasse necessidade. Por isso ele ensinou a todos a arte da caça, a arte de unir-se aos animais a serem caçados de modo que aprendessem quais deles já estariam preparados para servir de alimento aos homens de Acupary.
Karu Sakaibê não tinha mãe nem pai, mas tinha um filho, que se chamava Karu Taru, e um ajudante a quem chamava Reru. Os três andavam pelo mundo sempre juntos procurando saber como se comportavam os homens.
De certa feita, tendo voltado da caçada de mãos vazias, disse Karu ao filho:
– Vá ver como estão os vizinhos. Parece que eles aprenderam bem as artes da caça que nós lhes ensinamos e abateram tanta caça que nã sabem o que fazer com ela. É bom que eles repartam com os outros.
Foi o pequeno Karu ao encontro dos parentes. Chegando lá disse aos caçadores tudo o que seu pai havia falado, mas os homens de Acupary não quiseram ouvi-lo e fizeram-no voltar ao pai Kary apenas com as peles e as penas dos animais que tinham matado.
Karu Sakaibê havia previsto que isso iria acontecer, pois sabia que os homens não conseguem viver com fartura sem se tornarem egoístas, mesquinhos e maus. É assim que nasce a rejeição das outras pessoas. Porém, não se sentiu irritado nem magoado com a ingratidão daquelas pessoas. Para dar mais uma oportunidade para que os caçadores reconsiderassem sua atitude, enviou pela segunda vez o pequeno Karu, que os advertiu e ameaçou com palavras muito duras ditas pelo pai. Mesmo assim aqueles homens não quiseram ouvi-lo e ainda fizeram troças sobre o poder de Karu Sakaibê.
Quando o filho retornou e contou-lhe tudo o que se havia passado, Karu Sakaibê ficou muito irritado com a atitude egoísta e mesquinha dos caçadores. Ainda assim resolveu dar uma terceira oportunidade aos caçadores. Por isso convocou mais uma vez o jovem e incumbiu-o da missão de convencê-los a cederem carne a seu pais, mas ele não teve êxito novamente e acabou escorraçado pelos moradores de Acupary.
Percebendo que aqueles homens e mulheres não o honrariam, o pai Karu ficou furioso. Pegou, então, as penas que haviam-lhe enviado e fincou-as uma a uma, pacientemente, ao redor da maloca de Acupary. E com um gesto brusco, acompanhado de três palavras encantadas, Karu transformou em porcos bravos todos os habitantes de Acupary – não só os homens que se tinham mostrado cruéis, mas também as mulheres e as crianças.
Em seguida, olhando para as penas que haviam fincado em redor da aldeia, ergueu a mão e moveu-a de um lado a outro do horizonte. A esse apelo inaudível ao ouvido humano, moveram-se as montanhas, e o terreno onde se localizava a maloca transformou-se numa enorme caverna.
Ainda hoje os Munduruku acreditam piamente que às vezes escutam, da entrada dessa gruta além da qual ninguém se arrisca penetrar, gemidos humanos que se confundem com brunhidos de porcos. É por isso que ninguém ousa entrar nessa caverna, pois ela esconde o mistério da nossa origem.
Desolado com os habitantes de Acupary, Karu Sakaibê resolveu partir daquela região, sempre acompanhado do fiel Reru, e enveredou pelos campos. Depois de dois dias de marcha, fatigado, parou num descampado. Nesse lugar, fez um gesto sagrado batendo o pé no chão, e uma longa fenda se abriu. O velho Karu dela tirou um casal de todas as raças: um de Munduruku, um de índios (porque os Munduruku não pertencem à mesma raça que os índios, mas são de uma essência superior), e um de brancos e um de negros.
Foi ali que Karu criou a humanidade pela segunda vez. Era um ugar que tinha um nome predestinado, Decodemo: lugar onde há macacos em abundância.
Índios, brancos e negros dispersaram-se cada um para um lado e foram povoar a terra com a sua descendência.
O quarto casal – o Munduruku – ficou em Decodemo. Os Munduruku de Decodemo não tardaram a tornar-se tão numerosos que, sempre que se punham a caminho para a guerra, a terra tremia, sacudida a até as entranhas. Em virtude disso nossos antepassados receberam o nome de Munduruku – que significa “formigas gigantes”. Por muitas e muitas luas nossos ancestrais foram os senhores absolutos de toda a região do rio Tapajós, onde desenvolveram um conjunto de práticas de sobrevivência e de guerra que amedrontava os inimigos.
Referências
MUNDURUKI, Daniel. Origem dos Munduruku. In: As serpentes que roubaram a noite: e outros mitos. Ilustrações das crianças Munduruku da aldeia Katô. São Paulo: Peirópolis, 2001.p.9-16.
Voltar ao programa do curso “Povos indígenas no Brasil: opressão histórica e perspectivas atuais”
Danças sagradas, encontros secretos e estados alterados | Jan Hoffman French
Aldeia Xocó, na Ilha de São Pedro – SE | Foto: ASCOM/UME, Ana Tereza de Jesus
As práticas culturais sertanejas sempre estiveram imbricadas com rituais indígena, adaptações por parte de africanos e escravos e costumes rurais portugueses pré-conquista ligados ao catolicismo popular. Mais relevantes para a presente discussão são algumas das danças que caracterizam a vida sertaneja, particularmente o samba de coco e o Toré. Na propriedade dos Britto, antes da chegada de RFrei Enoque, as pessoas que se tornariam Xocó participavam de uma grande variedade de tradições sertanejas folclóricas, entre elas o Toré e o samba de coco, embora essas danças não fossem consideradas evidências de nada: eram vistas como uma brincadeira. Ambas associavam-se ao trabalho nos arrozais, parte do combinado dos meeiros com os propritários de terra. Nos primeiros relatórios antropolígicos sobre os Xocó em 1976 (Melatti 1979; Rick 1979) não se fazia mensão alguma a uma “dança sagrada” do tipo do Toré praticado pelos Kariri-Xocó, seus “primos” a jusante (Mota 1997: 35). De fato, duas décaas depois, os Xocó foram acusados de nao conhecer os Torés corretamente (Mota 1997: 35). Tambpouco foram mencionadas quaisquer outras práticas que distinguiriam essas pessoas de seus vizinhos e parentes sertanejos. A visão geral era de que as pessoas que agora reivindicavam a identidade indígena na condição de Xocó não apresentavam nenhuma ads características comummente associadas aos índios nordestinos. Na verdade, havia at´uma divisão entre ancestralidade indígena e as tradições indígenas: “Embora o […] sertanejo frequentemente possua ancestralidade indígena, ele não traz o peso das grandes tradições indígenas, tendo sua língua, sua religião e de fato a maior parte de sua coltura dos portugueses” (A. W. Johnson 1971: 123). or isso, quando os índios nordestinos começaram a afirmar seus direitos à tutela do governo e à terra, foram designados como remanescentes indígenas.
Como solução para essa “falta” de evidências culturais, o complexo cultural indígena nordestino foi apresentado aos Xocó por intermediários da Igreja Católica, como o CIMI, que promoveu a assembleia indígena na aldeia em 1979, e por Frei Enoque, que tentou organizar encontros com os Kariri-Xocó para ensinar-lhes seus segredos (Melatri 1985). Ademais, Clarice Mota, antropóloga que visitara ambas as tribos pela primeira vez em 1983, retornou ao local em 1985 e organizou e filmou uma visita do xamã xocó aos Kariri-Xocó; na ocasião, este foi levado ao ouricuri para obter conhecimentos secretos (Mota 1997: 7, 14, 18). Conforme os Xocó aprenderam essas práticas, elas se somaram a suas crenças católicas e fortaleceram sua lealdade aos padres e ao bispo. Como explicado por uma mulher xocó que havia acaabdo de participar das versões xocó do ouricuri e e tomar a jurema em setembro de 2000, ela em breve passaria uma semana na capital do estado fazendo trabalh missionário para a Igreja CAtólia na periferia da cidade, local de residência de pessoas extremamente pobres. Assim como seus “ancestrais” foram missionizados, também ela faria isso pelos não índios. Como ocorria com seus companheiros xocó, sua identidade indígena não impedia o forte compromisso com a Igreja.
Na década de 1940, Roger Bastide (1944: 50) identificu o Toré como parte de um complexo de crenças e práticas conhecido como catimbó. Pensava-se que alguns dos componentes do catimbó relacionavam-se aos povos indígenas e outros, aos descendentes africanos, mas haviam sido incorporados ao catolicismo popular nordestino. Flocloristas do Nordeste, como Alceu Maynard Araújo (1964c: 46-47), cujas pesquisas datam da década de 1950, descreveram o Toré como uma prática mágica que era “uma mistura de crença católica romana – existência de purgatório e kardecista, isto é, o desenvolvimento do espírito através das reincarnações”. Invocavam-se santos e dizia-s que os dançarinos sw transformavam por meio da ingestão de jurema alucnógena, “em cujos poderes máxicos os sertanejos acreditam piamente”. Araújo explicava que as pessoas “que possuem sangue índio” que ingerissem a jurema “estarão ao pé da juremeira, uma espécie de purgatório católico romano”, onde poderiam tornar-se “caboclos”, o que se considerava uma forma de santificação. Além de ser uma planta com certos poderes curativos, a jurema é hoje vista como parte de uma conjunção religiosa e cultural que inclui canções, mitos e a consagração do espaço (ouricuri) (mta e Albuquerque 2002: 43), sendo que tudo isso está historicamente relacionado ao candomblé e à umbanda, ambos parte integrande do imaginário africano no Brasil. Em estudos recentes sobre a jurema, além de aprender que as alucinações ocorrem apenas quando ela é misturada a produtos extraídos de outras plantas durante o cozimento, os estudiosos investigaram seus significados e expressões polivalentes. Seu estatuto nas religiões afro-brasileiras espelha seu estatuto no universo espiritual indígena, conforme expresso no subtítulo “de espécie botânica à divindade afro-indígena” (Mota Albuquerque 2002; Mota 1997: 48).
Deste a década de 1940, quando o toré se tornou um “ritual sumário” ou “expressão obritatória” (Arruti 1999: 255) da identidade indígena nordestina (Arruti 1998b) e assumiu conotações religiosas indígenas, ele passou a envolver pintura corporal, máscaras e saiotes de fibra vegeral. “A dança é regida por uma música fortemente compassada, o Toante” (Arruti 1999: 255-256), com perguntas e respostas. É organizada em uma fila que serpenteia com s homens na frente, seguidos das mulheres e crianças. Todos batem os pés e os líderes tocam instrumentos semelhantes a flautas; algumas pessoas tocam maracás. Do ponto de vista espiritual, dançar o Toré é esssencial para a comunicação com os encantados, espíritos de índios que não morreram, mas abandonaram este mundo para tornar-se protetores de seu grupo (Arruti 1999: 255). Aém do uso privado do Toré com parte do ouricuri e do uso da jurema como alucin´geno, todas as tribos reconhecidas do Nordeste apresentam publicamente uma versão do Toré em ocasiões especiais, como o dia nacional do índio ou o 500o aniversário do “descobrimento” do Brasil pelos portugueses em 2000.
Pode-s traçar a forma como o Toré se tornou a principal evidência de indigenidadeno Nordeste a partir dos escritos antropológicos de Carlos EStevão Oliveira (Arruti 1999: 255). No início da década de 1940, ele realizou pesquisa entre os mil Funi-ô, únicos índios nordestinos faldantes de uma língua indígena, Ia-Tê. O inspetor regional do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), que precedeu a Funai, adotou as observações de EStevão Oliveira sobre o Toré entre os Fulni-ô como critério para julgar as comunidades que começavam a reivindicar uma identidade indígena associada às lutas pela terra em todo o Nordeste. Cmo revelado em entrevista realizada pelo antropólogo Rdrigo Grünewald, o inspetor regional estava bastant ciente de que estava instituindo um rito de passagem, e não uma verificação da autenticidade de grupos que asolutamente não diferiam de forma significativa de seus vizinhos. Eles certamente não eram “primitivos” ou “não civilizados” como os índios da região amazônica com os quais o SPI havia lidado até a década de 1940 (Arruti 1999: 256, aspas no original).
Para esse funcionário do governo, o Toré não era uma expressão de autenticidade, mas uma “expressão obrigatória” com propósito educativo equivalente à conscientização política. A performance da dança em si, segundo ele, era crucial para que um grupo passasse da simples declaração de que desejava “ser” índio para a demonstração de que pretendia também agir como tal. Não demorou muito para que “o Toré fosse reificado como prova substantiva de veracidade étnica” (Arruti 1999: 256), algo que continua sendo no século XXI.

Indígenas Xocó, em 2015 | Imagem: Marcelo Maciel de Carvalho
Alguns povos rurais do Nordeste brasileiro claramente se beneficiaram da abertura, por meio da negociação pós-legislativa, de possibilidades de tornarem-se índios totalmente reconhecidos sob a tutela do EStado brasileiro. Ao mesmo tempo há uma perda associada a essa escolha, especialmente em relação à variedade e aos significados das práticas culturais locais. Na vida das pessoas que cresceram na terra dos Britto, tanto o Toré quanto o samba de coco eram experiências lúdicas associadas ao cultivo do arroz; não tinham significados religiosos perceptíveis. Sete anos após a chegada de Frei Enoque a SErgipe, ele gravou e transcreveu entrevistas com moradores mais velhos que haviam se autoidentificado como índios ou, como estes ainda se denominavam em 1978, como caboclos. As transcrições ajudam a compreender o processo de produção de evidências para o reconhecimento. Ao entrevista mulheres com cerca de 90 anos, Frei Enoque perguntou-se se haviam dançado o Toré, ao que responderam afirmativamente. Em resposta a outras perguntas sobre a Ilha de São Pedro, dona Zefinha contou-lhe como sentia falta da ilha, onde desejava ser enterrada. Frei Enoque perguntou-lhe se ela gostaria de viver na ilha, ao que ela respondeu: “Eu acho que se eu soubesse que nós ficaríamos com a Ilha de São Pedro, eu ia dançar um [samba de] coco ainda!”. Frei Enoque voltou-se então imediatamente para a outra mulher e substituiu o nome da dança pelo Toré: “Mãezinha ainda ia dançar o Toré se voltasse um dia pra Ilha de São Pedro?”. Essa substituição é significativa, pois a dança exigida como prova de indigenidade era o Toré, enquanto o samba de coco era visto apenas como uma dana sertaneja qualquer. Algum tempo depois, ela se tornaria a evidência cultural equivalente para que o Mocambo se tornasse um quilombo. Em confirmação à continuidade do imbricamento entre práticas culturais a despeito dos novos reconhecimentos, a antropóloga da Funai que visitou a Ilha de São Pedro pela terceira vez em 1985 observou em seu relatório que os índios dançavam regularmente tanto o Toré quanto o samba de coco (Melatti 1985: 23), combinação que testemunhei na Ilha em 2000 durante a comemoração de sua invasão, da qual nenhuma pessoa externa participou com excessão de Clarice Mota, que fazia campanha para as próximas eleições, e eu. Surpreendi-me ao encontrar uma variação do samba de coco na ilha, pois os Xocó, como única tribo indígena de Sergipe, em princípio dançariam apenas o Toré em eventos públicos.
O Toré que os Xocó apresentaram em 2000 foi a versão que lhes havia sido ensinada pelos Kariri-Xocó, os quais, por sua vez, participaram de uma cadeia de ensino e aprendizado da dança que tivera indício na década de 1940 (Arruti 1999). As variações locais dessas danças e canções perderam importância, e devido à atenção devotada publicamente ao Toré promovido pelo governo, tornou-se mais difícil analisar a continuidade de seus significados históricos. A noção de que a dança “verdadeira” havia sido perdida e está sendo ressuscitada desvaloriza os sentidos alternativos: o Toré comunica mais do que a indianidade àqueles que o praticavam antes de reivindicar uma identidade indígena. A forma lúdica assumida pela dança nesse caso não necessariamente se opõe ao sagrado. No catolicismo popular sertanejo, os festivais sagrados em homenagem aos santos, por exemplo, são comuns e festejados: “o sagrado também serve para brincar e se divertir e não se caracteriza exclusivamente por atitudes de circunspecção” (Grünewald 2004: 23). De fato, o Toré pode nem mesmo ter origens religiosas, a despeito de seu uso atual como demonstração da religiosidade indígena. É igualmente provável que as pessoas tenham dançado variações do Toré, e foi somente no século XIX, com o desenvolvimento do espiritismo kardecista e a então crescente popularidade das religiões afro-brasileiras, como o candomblé, com seus caboclos e possessões espíritas, que os atributos atuais do Toré foram reificados e utilizados como evidência de uma história indígena autêntica (Grünewald 2004: 25).
Também é importante não subestimar a influência do catolicismo na dança sagrada dos índios (Pomba 2003), o que nos leva novamente à conclusão de que o Toré não era um fenômeno “puro” preexistente, que está sendo “recapturado”. Assim como na Ilha de São Pedro, em todo o Brasil as populações indígenas foram reunidas em missões católicas que se tornavam espaços de trabalho e coexistência de portugueses, índios e africanos. Isso levou à “Difusão do termo toré para designar rituais sincréticos afro-ameríndios populares com possessão” e estendeu-se a ritos designados “torés misturados” em Alagoas e Sergipe (Günewald 2004: 18), precisamente o território dos Kariri-Xocó e Xocó. Quando os observadores ou participantes julgam que qualquer tipo de variação dessas práticas trai uma prática universal autêntica imaginada, ainda que como expediente político, correm o risco de sabotar a capacidade de realizar uma análise mais rica do uso da dança no processo de legalização das identidades. O Toré é uma prática cultural misturada, combinada e inautêntica desde o princípio (Briggs 1960; Hobsbawm e Ranger 1983; T. Turner 1991; Vlastos 1998). Ainda assim, passou a ocupar o espaço legal e simbólico da indianidade nordestina ao mesmo tempo que mudou seu caráter e sentido para as gerações futuras.
Referências
FRENCH, Jan Hoffman. Danças sagradas, encontros secretos e estados alterados. IN: Tornar-se negro ou índio: a legalização das identidades no Nordeste brasileiro. Tradução de Iracema Dulley. Rio de Janeiro: FGV, 2021. p.215-223.
Voltar ao programa do curso “Povos indígenas no Brasil: opressão histórica e perspectivas atuais”
O primeiro xamã | David Kopenawa e Bruce Albert (Excerto)
David Kopenawa | Imagem: Revista Trip
Foi Omama que criou a terra e a floresta, o vento que agita suas folhas e os rios cuja água bebemos. Foi ele que nos deu a vida e nos fez muitos. Nossos maiores nos deram a ouvir seu nome desde sempre. No começo, Omama e seu irmão Yoasi vieram à existência sozinhos. Não tiveram pai nem mãe. Antes deles, no primeiro tempo, havia apenas a gente que chamamos yarori.1 Esses ancestrais eram humanos com nomes de animais e não paravam de se transformar. Assim, foram aos poucos se tornando os animais de caça que hoje flechamos e comemos. Então, foi a vez de Omama vir a existir e recriar a floresta, pois a que havia antes era frágil. Virava outra sem parar, até que, finalmente, o céu desabou sobre ela. Seus habitantes foram arremessados para debaixo da terra e se tornaram vorazes ancestrais de dentes afiados a quem chamamos aõpatari.2
Por isso Omama teve de criar uma nova floresta, mais sólida, cujo nome é Hutukara. É também esse o nome do antigo céu que desabou outrora. Omama fixou a imagem dessa nova terra e esticou-a aos poucos, cuidadosamente, do mesmo modo como espalhamos o barro para fazer placas de cerâmica mahe.3 Em seguida, cobriu-a com pequenos traços apertados, pintados com tintura de urucum, parecidos com desenhos de palavras. Depois, para evitar que desabasse, plantou nas suas profundezas imensas peças de metal, com as quais também fixou os pés do céu.4 Sem isso, a terra teria ficado arenosa e quebradiça e o céu não teria permanecido no lugar. Mais tarde, com o metal que ficou, depois de fazer com que ficasse inofensivo, Omama também fabricou as primeiras ferramentas de nossos ancestrais.5 Finalmente, assentou as montanhas na superfície da terra, para evitar que as ventanias de tempestade a fizessem tremer e assustassem os humanos. Também desenhou o primeiro sol, para nos dar luz. Mas era por demais ardente e ele teve de rejeitá-lo, destruindo sua imagem. Então, criou aquele que vemos até hoje no céu, bem como as nuvens e a chuva, para poder interpô-los quando esquenta demais. Isso ouvi os antigos contarem.
Omama criou também as árvores e as plantas, espalhando no solo, por toda parte, as sementes de seus frutos. Os grãos germinaram na terra e deram origem a toda a floresta em que vivemos desde então. Foi assim que cresceram as palmeiras hoko si, maima si e rioko si, as árvores apia hi, komatima hi, makina hi, oruxi hi e todas as outras de que tiramos nosso alimento. No início, seus galhos eram nus. Depois, frutos se formaram. Então, Omama criou as abelhas, que vieram morar nelas e sorver o néctar das flores com que produzem seus vários tipos de mel.
No início, também não existiam os rios; as águas corriam debaixo da terra, bem fundo. Só se ouvia seu ronco, ao longe, como o de fortes corredeiras. Formavam um enorme rio que os xamãs nomeiam Motu uri u. Certo dia, Omama trabalhava em sua roça com o filho, que começou a chorar de sede. Para matar-lhe a sede, ele perfurou o solo com uma barra de metal.6 Quando a tirou da terra, a água começou a jorrar violentamente em direção ao céu e jogou para longe o menino que se aproximara para bebê-la. Lançou também para o céu todos os peixes, raias e jacarés. Subiu tão alto que um outro rio se formou nas costas do céu, onde vivem os fantasmas de nossos mortos. Em seguida, a água foi se acumulando na terra e começou a correr em todas as direções, formando os rios, os igarapés e os lagos da floresta.
No início, nenhum ser humano vivia ali. Omama e seu irmão Yoasi viviam sozinhos. Nenhuma mulher existia ainda. Os dois irmãos só vieram a conhecer a primeira mulher muito mais tarde, quando Omama pescou a filha de Tëpërësiki num grande rio.7 No início, Omama copulava na dobra do joelho de seu irmão Yoasi. Com o passar do tempo, a panturrilha deste ficou grávida, e foi assim que Omama primeiro teve um filho.8 Porém, nós, habitantes da floresta, não nascemos assim. Nós saímos, mais tarde, da vagina da esposa de Omama, Thuëyoma,9 a mulher que ele tirou da água. Os xamãs fazem descer sua imagem desde sempre. Chamam-na também Paonakare. Era um ser peixe que se deixou capturar na forma de uma mulher. Assim é. Se Omama não a tivesse pescado no rio, talvez os humanos continuassem a copular atrás do joelho!
Mais tarde, Omama ficou furioso com seu irmão Yoasi, porque este, contra a sua vontade, tinha feito surgir na floresta os seres maléficos das doenças, os në wãri,10 e também os da epidemia xawara, que, como eles, são comedores de carne humana. Yoasi era mau e seu pensamento, cheio de esquecimento. Omama era quem tinha criado o sol que não morre nunca. Não falo aqui do sol mothoka, cujo calor cobre a floresta, e que é visto pelas pessoas comuns, mas da imagem do sol.11 Assim é. O sol e a lua têm imagens que só os xamãs são capazes de fazer descer e dançar. Elas têm a aparência de humanos, como nós, mas os brancos não são capazes de conhecê-las.
Omama queria que fôssemos imortais, como o ser sol chamado de Mothokari 12 pelos xamãs. Queria fazer bem as coisas e pôr em nós um sopro de vida realmente sólido. Por isso, buscou na floresta uma árvore de madeira dura para colocá-la de pé e imitar a forma de sua esposa. Escolheu para tanto uma árvore fantasma pore hi, cuja pele se renova continuamente. Queria introduzir a imagem dessa árvore em nosso sopro de vida, para que este permanecesse longo e resistente.13 Assim, quando envelhecêssemos, poderíamos mudar de pele e esta ficaria sempre lisa e jovem. Teria sido possível rejuvenescer continuamente e não morrer nunca. Era o que Omama desejava. No entanto, Yoasi, aproveitando-se da ausência do irmão, tratou de colocar na rede da mulher de Omama a casca de uma árvore de madeira fibrosa e mole, a que chamamos kotopori usihi. Então, a casca acabou se dobrando num lado da rede e começou a pender para o chão. Imediatamente, os espíritos tucano começaram a entoar seus pungentes lamentos de luto.14 Omama ouviu-os e ficou furioso com o irmão. Mas era tarde demais, o mal estava feito. Yoasi tinha nos ensinado a morrer para sempre. Tinha introduzido a morte, esse ser maléfico, em nossa mente e em nosso sopro,15 que por esse motivo se tornaram tão frágeis. Desde então, os humanos estão sempre perto da morte. Também por isso às vezes chamamos os brancos de Yoasi thëri, Gente de Yoasi. Suas mercadorias, suas máquinas e suas epidemias, que não param de nos trazer a morte, também são, para nós, rastros do irmão mau de Omama.
Foi também Yoasi que criou o ser lua Poriporiri. Por isso este também não para de morrer. Poriporiri é um homem que viaja todas as noites através da imensidão do céu, sentado em sua canoa, como uma espécie de avião. No começo, é um rapaz, mas, dia após dia, vai envelhecendo. Quando termina sua viagem, está seco e seus cabelos ficaram brancos. Ele acaba morrendo. Então, suas filhas começam a chorar por ele sem descanso, junto com os espíritos tucano. Suas lágrimas se tornam fortes chuvas que caem longamente na floresta. Depois de algum tempo, quando o corpo do pai já se decompôs, elas recolhem seus ossos com cuidado. Então eles desabrocham novamente e Poriporiri volta à vida. Assim é. O ser lua é também coisa da morte. Yoasi quis assim porque lhe faltava sabedoria. Omama, ao contrário, queria realmente que fôssemos eternos. Se tivesse estado só, não morreríamos jamais e nosso sopro de vida sempre teria o mesmo vigor. Mas não foi assim e, infelizmente, Yoasi fez nossos ancestrais se tornarem outros.
Por isso Omama finalmente criou os xapiri, para podermos nos vingar das doenças16 e nos proteger da morte a que nos sujeitou seu irmão mau. Então ele criou os espíritos da floresta urihinari, os espíritos das águas mãu unari e os espíritos animais yarori. Depois, escondeu-os, até que seu filho se tornasse xamã, no topo das montanhas e nas profundezas do mato. Antes, eu achava que os xapiri tinham vindo a existir por si sós, mas estava enganado. Mais tarde, quando pude vê-los e ouvir seus cantos, realmente entendi quem eram. O pai de minha esposa conta também que foi a esposa de Omama, a mulher das águas, quem primeiro pediu que os xapiri fossem trazidos à existência. Somos seus filhos e nossos antepassados tornaram-se numerosos a partir dela. Por isso, depois de ter procriado, perguntou ao marido: “O que faremos para curar nossos filhos se ficarem doentes?”. Era essa a sua preocupação. O pensamento do marido, Omama, continuava no esquecimento. Por mais que seu espírito buscasse, ele se perguntava em vão o que poderia ainda criar. A mulher das águas lhe disse então: “Pare de ficar aí pensando, sem saber o que fazer. Crie os xapiri, para curarem nossos filhos!”. Omama concordou: “Awei! São palavras sensatas. Os espíritos irão afugentar os seres maléficos. Arrancarão deles a imagem dos doentes e as trarão de volta para seus corpos!”. Foi assim que ele fez aparecer os xapiri, tão numerosos e poderosos quanto os conhecemos hoje.
Mais tarde, o filho de Omama tornou-se um rapaz e seu pai quis que ele aprendesse a fazer dançar os xapiri para poder tratar os seus. Buscou uma árvore yãkoana hi na floresta e disse ao filho: “Com esta árvore, você irá preparar o pó de yãkoana! Misture com as folhas cheirosas maxara hana e as cascas das árvores ama hi e amatha hi e depois beba! A força da yãkoana revela a voz dos xapiri. Ao bebê-la, você ouvirá a algazarra deles e será sua vez de virar espírito!”. Depois, soprou yãkoana nas narinas do filho com um tubo de palmeira horoma.17 Omama então chamou os xapiri pela primeira vez e disse: “Agora, é sua vez de fazê-los descer. Se você se comportar bem e eles realmente o quiserem, virão a você para fazer sua dança de apresentação e ficarão ao seu lado. Você será o pai deles. Assim, quando seus filhos adoecerem, você seguirá o caminho dos seres maléficos que roubaram suas imagens para combatê-los e trazê-las de volta! Você também fará descer o espírito japim ayokora18 para regurgitar os objetos daninhos que você terá arrancado de dentro dos doentes. Assim você poderá realmente curar os humanos!”. Foi desse modo que Omama revelou a seu filho — o primeiro xamã — o uso da yãkoana e lhe ensinou a ver os espíritos que acabara de trazer à existência. Nossos maiores continuaram a seguir o rastro de suas palavras até hoje. Por isso, continuamos a beber yãkoana para fazer os xapiri dançar. Não fazemos isso à toa. Fazemos porque somos habitantes da floresta, filhos e genros de Omama.
O filho de Omama escutou atentamente as palavras do pai e concentrou seu pensamento nos xapiri. Entrou em estado de fantasma e tornou-se outro.19 Então pôde contemplar a beleza da dança de apresentação dos espíritos. Tornou-se xamã depressa, porque soube demonstrar amizade a todos. Os xapiri já tinham o olhar fixado nele desde que era bem pequeno e seu pai tinha falado a respeito deles muitas vezes. Agora, tinha crescido e eles finalmente tinham vindo em grande número. Podia vê-los descer, resplandecentes de luz, e escutar seus cantos melodiosos. Então, exclamou: “Pai! Agora conheço os espíritos e eles se juntaram do meu lado! De agora em diante, os humanos vão poder se multiplicar e combater as doenças!”. Omama era o único a conhecer os xapiri e os deu ao filho porque, se morresse sem ter ensinado suas palavras, jamais teria havido xamãs na floresta. Não queria que os humanos ficassem sem nada e causassem dó. Por isso, fez de seu filho o primeiro xamã. Deixou-lhe o caminho dos xapiri antes de desaparecer. Foi o que ele quis.
Disse a ele estas palavras: “Com estes espíritos, você protegerá os humanos e seus filhos, por mais numerosos que sejam. Não deixe que os seres maléficos e as onças venham devorá-los. Impeça as cobras e escorpiões de picá-los. Afaste deles as fumaças de epidemia xawara. Proteja também a floresta. Não deixe que se transforme em caos. Impeça as águas dos rios de afundá-la e a chuva de inundá-la sem trégua. Afaste o tempo encoberto e a escuridão. Segure o céu, para que não desabe. Não deixe os raios caírem na terra e acalme a gritaria dos trovões! Impeça o ser tatu-canastra Wakari de cortar as raízes das árvores e o ser do vendaval Yariporari de vir flechá-las e derrubá-las!”. Essas foram as palavras que Omama deu ao filho. Por isso, até hoje os xamãs continuam defendendo os seus e a floresta. Mas também protegem os brancos, apesar de serem outra gente, e todas as terras, até as mais imensas e distantes.
O filho de Omama primeiro tomou yãkoana com o pai. Depois continuou a bebêla sozinho, mais e mais, para chamar cada vez mais espíritos e poder conhecer todos os seus cantos. Era deslumbrante quando fazia dançar suas imagens. Era um rapaz muito bonito, tinha a pele coberta de urucum bem vermelho e desenhos de um negro brilhante. Suas braçadeiras de crista de mutum prendiam muitas caudais de arara-vermelha, pingentes de rabo de tucano e buquês de penas paixi.20 Tinha os olhos escuros, e os cabelos cobertos de penugem hõromae, de um branco resplandecente.21 Tinha também uma pele de rabo de macaco cuxiú-negro em torno da cabeça.22 Dançava lentamente, com as costas bem curvadas para trás. Ver a beleza dos xapiri o enchia de felicidade. Chamava-os e os fazia descer sem parar. Trazia-os no pensamento, de verdade. Era assim porque tinha sido gerado pelo esperma de Omama, que é o criador dos xapiri.
***
Acho que o filho de Omama, hoje, está morto. Sua imagem, porém, ainda existe, muito longe daqui, onde os rios deságuam, do lado do nascer do sol, ou talvez no céu. Eu a vi no tempo do sonho, junto com a de nossa floresta, aos prantos. Esta, doente e transformada em fantasma pelas fumaças de epidemia, pedia aos xapiri para curá-la e acabar com o sofrimento causado pelo furor dos brancos. Imploravalhes que limpassem as árvores e tornassem suas folhas brilhantes de novo; que fizessem crescer suas flores e lhe devolvessem a fertilidade. Dizia a eles: “Vocês são meus, devem vingar-me!”. Vejo tudo isso em sonho porque, tornado fantasma com a yãkoana durante o dia, o meu interior se transformou.23 Senão, eu não poderia falar assim.
O filho de Omama foi o primeiro a virar espírito, antes de qualquer outro. Foi o primeiro a estudar e a ver as coisas com a yãkoana. Depois dele, muitos de nossos ancestrais se tornaram xamãs. Ele lhes mostrou como fazer dançar os espíritos. Disse a eles, como Omama lhe havia ensinado: “Quando os seres maléficos da floresta capturarem a imagem de seus filhos para devorá-la,24 os xapiri irão recuperá-la e vingá-los!”. Foi seguindo essas palavras que os nossos maiores se puseram a beber pó de yãkoana e a admirar o esplendor dos espíritos. É isso que fazemos até hoje. Por isso é tão comum ver os xamãs trabalhando em nossas casas.25 Sem eles, seriam vazias e silenciosas. Assim é. Essas palavras são antigas mas nunca vão desaparecer, porque são muito bonitas e o valor delas é muito alto.
DAVI KOPENAWA nasceu por volta de 1956, em Marakana, grande casa comunal situada na floresta tropical de piemonte do alto rio Toototobi, no norte do estado do Amazonas, próximo à fronteira com a Venezuela. Desde 2004, é presidente fundador da associação Hutukara, que representa a maioria dos Yanomami no Brasil. Em 2008, recebeu uma menção de honra especial do prestigioso prêmio Bartolomé de las Casas, concedido pelo governo espanhol pela defesa dos direitos dos povos autóctones das Américas e, em 2009, foi condecorado com a Ordem do Mérito do Ministério da Cultura brasileiro.
BRUCE ALBERT, antropólogo francês, nasceu em 1952, no Marrocos. É doutor em antropologia pela Université de Paris X-Nanterre e pesquisador sênior do Institut de Recherche pour le Développement (IRD, Paris). Participou em 1978 da fundação da ONG Comissão Pró-Yanomami (CCPY), que conduziu com Davi Kopenawa uma campanha de catorze anos até obter, em 1992, a homologação da Terra Indígena Yanomami. Viaja à terra yanomami praticamente todos os anos, há quatro décadas.

David Kopenawa e Bruce Albert | Foto: Beto Ricardo/ISA
Notas
1 De yaro, (animal de) caça, seguido do sufixo –ri (pl. pë), que denota o que se refere ao tempo das origens, não humano, superlativo, monstruoso ou de extrema intensidade. Esses ancestrais (në pata pë) compunham a primeira humanidade, que foi se transformando paulatinamente em caça, em razão de seu comportamento desregrado. Trata-se, na mitologia yanomami, de seres cuja forma pré-humana, sempre instável, está sujeita a uma irresistível propensão ao “devir animal” (yaroprai). De modo geral, os comportamentos que precipitam tais metamorfoses (xi wãri-) invertem as normas sociais atuais, particularmente as que regem as relações entre afins. São as imagens (utupë) desses seres primordiais que são convocadas como entidades (“espíritos”) xamânicas (xapiri).
2 Acerca da queda do céu e desses ancestrais ctônicos, ver M 7 e cap. 6 e 7.
3 Placa circular de cerâmica utilizada para assar os beijus de mandioca (mahe).
4 Os Yanomami descrevem o nível celeste (hutu mosi) como um tipo de abóbada apoiada no nível terrestre (warõ patarima mosi) graças a “pés” (estacas) gigantescos.
5 Sobre o poder patogênico do metal que Omama escondeu dentro da terra, ver o cap. 16.
6 Sobre Omama e a origem dos rios, ver M 202; sobre Omama e a origem do metal, ver cap. 9.
7 Sobre o monstro aquático Tëpërësiki (às vezes associado à sucuri), a união de sua filha com Omama e a origem das plantas cultivadas, ver M 197 e 198.
8 Sobre o nascimento do filho de Omama, ver M 22. Davi Kopenawa às vezes chama esse filho de Pirimari, que é também o nome da “estrela” que os Yanomami chamam de “genro da lua”, o planeta Vênus.
9 A forma desse nome possui um caráter de redobramento do feminino: thuë, “mulher, esposa”, –yoma, sufixo feminino (por exemplo, napëyoma = “mulher branca (napë)”. O que expressa bem o quanto se trata da (primeira) Mulher. É uma “mulher-peixe”, que Davi Kopenawa costuma comparar a nossa imagem da sereia (ver cap. 20).
10 Esses seres maléficos da floresta também são chamados de në wãri kiki (literalmente “valor de mal — plural de conjunto”), e qualificados pela expressão yanomae thë pë rããmomãiwi, “os que fazem adoecer os humanos” ou yanomae watima thë pë, “comedores de seres humanos”.
11 As “pessoas comuns”, kuapora thë pë (literalmente “gente que simplesmente existe”) são aqui contrapostas aos xamãs, xapiri thë pë (literalmente “gente espírito”). Estes atribuem àquelas “olhos de fantasma”, pois só são capazes de ver a aparência enganosa dos seres e dos fenômenos. A visão xamânica, em compensação, dá acesso à imagem-essência dos entes (utupë) no tempo de sua criação mítica. Essa formaimagem é denotada pelo sufixo –ri (pl. –ri pë). O conceito de utupë designa igualmente a imagem corpórea interior/essência vital dos seres animados atuais.
12 Os xamãs de Watoriki dizem que a forma espectral (seu “valor de fantasma”) de Omama (equivalente à sua imagem, utupë) “tem muitos nomes” (thë ã waroho), tais como o ser sol, Mothokari, o ser onça, Iramari, e o ser maléfico, Omamari.
13 Ver, para uma outra versão desse mito da origem da vida breve, M 191. Entre os Yanomami ocidentais, as mães amarram o cordão umbilical dos recém-nascidos nessas árvores, e giram em torno delas com os bebês no colo, para lhes garantir vida longa (Lizot, 2004, p. 321).
14 O canto choroso dos tucanos é considerado particularmente melancólico. É por isso associado ao luto e à saudade. Ouvir “chorar” os tucanos na floresta prenuncia morte numa casa distante; escutar seus apelos no final do dia inspira nostalgia amorosa.
15 Davi Kopenawa se refere aqui respectivamente ao “pensamento consciente” (pihi, que designa também a volição e o olhar) e ao “sopro vital” (wixia). A morte é nomeada noma a.
16 A ação da cura xamânica é descrita principalmente por três expressões bélicas: në yuai, “vingar-se”; nëhë rëai, “interpor-se, colocar-se de emboscada”; e nëhë yaxuu, “expulsar, afugentar” (ver cap. 6). A cura xamânica é, assim, concebida na forma de uma ação vingativa contra os agentes patogênicos predadores da imagem corpórea/essência vital (utupë) do doente.
17 Tubo de sessenta a noventa centímetros, geralmente fabricado com o caule esvaziado de uma pequena palmeira, horoma a, ou com a cana de flecha cultivada xaraka si.
18 Diz-se que os maiores xamãs yanomami são capazes de expectorar (kahiki hou, “cuspir, regurgitar, devolver pela boca”) os objetos patogênicos que afetam a imagem corpórea/essência vital (utupë) ou o duplo animal (rixi) dos doentes. Ver cap. 7.
19 A expressão “agir/entrar em estado de fantasma” (poremuu) se refere aos estados de alteração de consciência provocados pelos alucinógenos e pelo sonho (mas também pela dor ou pela doença), durante os quais a imagem corpórea/essência vital (utupë) se vê deslocada e/ou afetada. No caso, o fantasma (pore), que cada vivente traz em si enquanto componente da pessoa, assume o comando psíquico em detrimento da consciência (pihi). “Tornar-se outro” (literalmente “assumir valor de outro”) refere-se primeiramente a esse processo.
20 Esses buquês são confeccionados com penas rasgadas longitudinalmente e ligadas num pequeno cabo de madeira. Muitas vezes trata-se de penas verdes de asas de papagaio-moleiro werehe, ou de penas pretas e brancas de asas de jacamim maraxi. Esse tipo de penacho também pode ser feito com penas ventrais brancas de mutum paari ou de gavião wakoa.
21 Ornamento usado, como os descritos na nota anterior, tanto pelos xamãs como pelos homens em geral, durante as festas comunitárias reahu. Trata-se de penugem de urubu, watupa aurima a, ou de aves de rapina, wakoa a e kãokãoma a.
22 O pelo da cauda desse macaco é denso, bem preto e brilhante.
23 Ũũxi (“o interior”) designa a sede dos componentes da pessoa, por oposição ao invólucro corporal (“a pele”), siki. A expressão xi wãri– (literalmente “tornar-se ruim”) se refere às transformações míticas e a toda espécie de mudança de forma/identidade (“metamorfosear-se, perder a própria forma, retornar ao caos” e também “perder o juízo, estar fora de si”). Tem por sinônimo në aipëi, “tornar-se outro/assumir valor de outro”. Significa também, no sentido literal, “enredar-se, tornar-se inextricável, não mais cessar (estado ou ação), ficar bloqueado”. Note-se aqui que o xamanismo noturno, associado aos sonhos, é parte fundamental do xamanismo yanomami. A iniciação e o trabalho xamânico parecem dominar a produção onírica dos xamãs, cujos sonhos são, assim, constituídos principalmente de restos alucinatórios do xamanismo diurno (ver cap. 22). Finalmente, o uso do pó de yãkoana e os sonhos permitem igualmente aos xamãs ter acesso ao tempo mítico, que continua transcorrendo imutavelmente, num eterno presente das origens, enquanto “outra cena” do tempo histórico (o das migrações e das guerras).
24 Toda forma de agressão letal, humana ou não humana é concebida pelos Yanomami como uma forma de predação (ver Albert, 1985).
25 A atividade xamânica é designada pelo verbo kiãi, “mover-se, trabalhar (genérico)”.
Referências
KOPENAWA, David; ALBERT, Bruce. O primeiro xamã. In: A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. 2ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p.58-62.
Voltar ao programa do curso “Povos indígenas no Brasil: opressão histórica e perspectivas atuais”
Probable Inicio de la historia humana | Immanuel Kant
Immanuel Kant | Imagem: Editora Unesp
Es perfectamente lícito insertar conjeturas en el decurso de una historia con el fin de rellenar las lagunas informativas, pues lo antecedente — en tanto que causa remota— y lo consecuente —como efecto— pueden suministrar una guía bastante segura para el descubrimiento de las causas intermedias, haciéndose así comprensible la transición entre unas cosas y otras. Ahora bien, hacer que una historia resulte única y exclusivamente a partir de suposiciones, no parece distinguirse mucho del proyectar una novela. Ni siquiera podría ostentar el título de historia probable, correspondiéndole más bien el de simple fábula. No obstante, lo que no cabe aventurar en el desarrollo de la historia de las acciones humanas, puede muy bien ensayarse mediante suposiciones respecto de su inicio, siempre que lo establezca la Naturaleza. Tal inicio no tiene por qué ser inventado, ya que puede ser reconstruido por la experiencia, suponiendo que ésta no haya variado sustancialmente desde entonces hasta ahora: un presupuesto conforme con la analogía de la Naturaleza y que no conlleva osadía alguna. Una historia del primer despliegue de la libertad a partir de su disposición originaria en la naturaleza del hombre no tiene, por lo tanto, nada que ver con la historia de la libertad en su desarrollo, que —ésta sí— sólo puede basarse en informes.
Con todo, dado que las suposiciones no pueden elevar demasiado sus pretensiones de asentimiento, teniendo que anunciarse únicamente como una maniobra consentida a la imaginación —siempre que vaya acompañada por la razón— para recreo y solaz del ánimo, mas en ningún caso como algo serio, tampoco pueden rivalizar con esa historia que se ofrece sobre el mismo suceso y se toma como información genuina, cuya verificación se basa en fundamentos bien distintos a los de la mera filosofía natural. Justamente por ello, y puesto que emprendo aquí un simple viaje de placer, espero que me sea permitida la licencia de utilizar un texto sagrado a guisa de plano e imaginar que mi expedición (llevada a cabo con las alas de la [109-110] imaginación, aunque no sin un hilo conductor anudado a la experiencia por medio de la razón) encuentra exactamente la misma ruta que describe aquel testimonio histórico. El lector consultará los pasajes pertinentes de aquel documento (Génesis, II-IV)[170], comprobando paso a paso si el camino que toma la filosofía con arreglo a conceptos coincide con el que refiere la historia.
Si no queremos dejar vagar nuestra fantasía entre suposiciones, habremos de fijar el principio en aquello que no pueda ser deducido mediante la razón a partir de causas precedentes, por tanto, tendremos que comenzar con la existencia del hombre y, ciertamente, del hombre adulto —pues ha de prescindir del cuidado materno— y emparejado, para poder procrear su especie; asimismo ha de tratarse de una única pareja, para que no se origine de inmediato la guerra —lo que suele suceder cuando los hombres están muy próximos unos a otros siendo extraños entre sí— o también para que no se le reproche a la Naturaleza el haber regateado esfuerzos mediante la diversidad del origen en la organización más apropiada para la sociabilidad, en tanto que objetivo principal del destino humano, puesto que la unidad de esa familia —de la que habrían de descender todos los hombres— era sin duda la mejor disposición en orden a conseguir ese objetivo. Sitúo a esta pareja en un lugar a salvo del ataque de las fieras y bien provisto por la Naturaleza con todo tipo de alimentos, esto es, en una especie de jardín que goza de un clima siempre moderado. Y, además, sólo la considero después de que ha dado un paso gigantesco en la habilidad para servirse de sus propias fuerzas, por lo que no comienzo con el carácter enteramente tosco de su naturaleza. Pues bien, si yo pretendiera llenar esa laguna —que presumiblemente comprende un largo período de tiempo— a buen seguro que se darían demasiadas suposiciones y muy pocas probabilidades para el gusto del lector. Así pues, el primer hombre podía mantenerse erguido y andar, podía hablar (Génesis, II, 20)*[171] y hasta discurrir, es decir, hablar concatenando conceptos (Génesis, II, 23), por consiguiente, pensar. Habilidades que el hombre hubo de adquirir íntegramente por sí solo (pues de haber sido innatas, también serían hereditarias y esto es algo que contradice [110-111] la experiencia); pero ahora le supongo ya provisto de tales habilidades, con el fin de tomar en consideración simplemente el desarrollo de lo moral en sus acciones, lo cual presupone necesariamente esa habilidad.
El instinto, esa voz de Dios que obedecen todos los animales, era lo único que guiaba inicialmente al hombre inexperto. Este instinto le permitía alimentarse con algunas cosas, prohibiéndole otras (Génesis, III, 2-3). Pero no es necesario suponer un instinto especial —hoy ya perdido— para tal fin; pudo muy bien tratarse del sentido del olfato y de su afinidad con el órgano del gusto —es conocida la simpatía de este último con los órganos de la digestión, observándose todavía hoy la capacidad de presentir si una comida será o no agradable para el gusto. Es más, no hay porqué suponer que este sentido estaba más agudizado en la primera pareja de lo que lo está hoy en día, pues es de sobra conocida la diferencia existente en la capacidad de percibir entre aquellos hombres que sólo se ocupan de sus sentidos y los que, al mismo tiempo, lo hacen de sus pensamientos, apartándose por ello de sus sensaciones.
Mientras el hombre inexperto obedeció esa llamada de la Naturaleza, se encontró a gusto con ello. Pero en seguida la razón comenzó a despertarse dentro de él y, mediante la comparación de lo ya saboreado con aquello que otro sentido no tan ligado al instinto —cual es el de la vista— le presentaba como similar a lo ya degustado, el hombre trató de ampliar su conocimiento sobre los medios de nutrición más allá de los límites del instinto (Génesis, IV)[172]. Este intento habría podido salir bastante bien, aunque no lo dispusiera el instinto; bastaba con no contradecirlo. Sin embargo, una propiedad característica de la razón es que puede fingir deseos con ayuda de la imaginación, no sólo sin contar con un impulso natural encaminado a ello, sino incluso en contra de tal impulso; tales deseos reciben en un principio el nombre de concupiscencia, pero en virtud de ellos se fue tramando poco a poco todo un enjambre de inclinaciones superfluas y hasta antinaturales que son conocidas bajo la etiqueta de voluptuosidad. El motivo para renegar de los impulsos naturales pudo ser una insignificancia, pero el éxito de este primer intento, es decir, el tomar conciencia de [111-112] su razón como una facultad que puede sobrepasar los límites donde se detienen todos los animales fue algo muy importante y decisivo para el modus vivendi del hombre. Aun cuando sólo se tratara de un fruto cuyo aspecto —dada su semejanza con otros frutos admitidos que se habían probado antes— incitaba al intento, si a esto se añade el ejemplo de un animal a cuya naturaleza esa degustación le era tan apropiada como, por el contrario, le resultaba perjudicial al hombre —en quien existía un instinto natural contrario a tal ensayo que se oponía con fuerza al mismo—, todo ello pudo proporcionar a la razón la primera ocasión de poner trabas a la voz de la Naturaleza (Génesis, III, 1) y, pese a su contradicción, llevar a cabo el primer ensayo de una elección libre que, al ser la primera, probablemente no colmó las expectativas depositadas en ella. Si bien el daño pudo resultar tan insignificante como se quiera, el caso es que gracias a él se le abrieron los ojos al hombre (Génesis, III, 7). Este descubrió dentro de sí una capacidad para elegir por sí mismo su propia manera de vivir y no estar sujeto a una sola forma de vida como el resto de los animales. A la satisfacción momentánea que pudo provocarle el advertir ese privilegio, debieron seguir de inmediato el miedo y la angustia: cómo debía proceder con su recién descubierta capacidad quien todavía no conocía nada respecto a sus cualidades ocultas y sus efectos remotos. Se encontró, por decirlo así, al borde de un abismo, pues entre los objetos particulares de sus deseos —que hasta entonces le había consignado el instinto— se abría ante él una nueva infinitud de deseos cuya elección le sumía en la más absoluta perplejidad; sin embargo, una vez que había saboreado el estado de la libertad, ya le fue imposible regresar al de la servidumbre (bajo el dominio del instinto).
Junto al instinto de nutrición —en virtud del cual la Naturaleza conserva al individuo— se destaca el instinto sexual—mediante el que vela por la conservación de la especie. La razón, una vez despierta, no tardó en probar también su influjo a este instinto. Pronto descubrió el hombre que la excitación sexual —que en los animales depende únicamente de un estímulo fugaz y por lo general periódico— era susceptible en él de ser prolongada e incluso acrecentada gracias a la imaginación, que ciertamente desempeña su cometido con mayor moderación, pero asimismo con mayor duración y regularidad, cuanto más sustraído a los sentidos se halle el objeto, evitándose así el tedio que conlleva la satisfacción de un mero [112-113] deseo animal. La hoja de parra (Génesis, III, 7) fue, por lo tanto, el producto de una manifestación de la razón mucho mayor que la evidenciada en la primera etapa de su desarrollo, pues al hacer de una inclinación algo más profundo y duradero, sustrayendo su objeto a los sentidos, muestra ya la conciencia de un dominio de la razón sobre los impulsos y no —como en su primer paso— una mera capacidad de prestar a éstos un servicio de mayor o menor alcance. La abstención fue el ardid empleado para pasar de los estímulos meramente sentidos a los ideales, pasándose así paulatinamente del mero deseo animal al amor y, con éste, del sentimiento de lo meramente agradable al gusto por la belleza, apreciada sólo en los hombres al principio, pero también en la Naturaleza más tarde. La decencia, una inclinación a infundir en los otros un respeto hacia nosotros gracias al decoro (u ocultación de lo que podría incitar al menosprecio), en tanto que verdadero fundamento de toda auténtica sociabilidad, proporcionó además la primera señal para la formación del hombre como criatura moral. Un comienzo nimio, pero que hace época al conferir una orientación completamente nueva a la manera de pensar, siendo más importante que toda la interminable serie de logros culturales dados posteriormente.
El tercer paso de la razón —tras haberse entremezclado con las necesidades primarias sentidas de un modo inmediato— fue la reflexiva expectativa de futuro. Esta capacidad de gozar no sólo del momento actual, sino también del venidero, esta capacidad de hacerse presente un tiempo por venir, a menudo muy remoto, es el rasgo decisivo del privilegio humano, aquello que le permite trabajar en pro de los fines más remotos con arreglo a su destino —pero al mismo tiempo es asimismo una fuente inagotable de preocupaciones y aflicciones que suscita el futuro incierto, cuitas de las que se hallan exentos todos los animales (Génesis, III, 13-19). El hombre, que había de alimentarse a sí mismo, junto a su mujer y sus futuros hijos, comprobó la fatiga siempre en aumento de su trabajo; la mujer presumió las cargas a las que la Naturaleza había sometido a su sexo y aquellas que por añadidura le imponía el varón, más fuerte que ella. Ambos anticiparon con temor, como telón de fondo para una vida tan fatigosa, algo que sin duda también afecta inevitablemente a todos los animales, pero no les preocupa en absoluto: la muerte; por todo ello, les pareció que habían de proscribir y considerar delictivo ese uso de la razón que les había ocasionado todos esos males. Pervivir en su posteridad —imaginando que le irán mejor las cosas— o mitigar sus penas en tanto que [113-114] miembro de una familia, quizá fue la única perspectiva consoladora que les alentaba (Génesis, V, 16-20).
El cuarto y último paso dado por la razón eleva al hombre muy por encima de la sociedad con los animales, al comprender éste (si bien de un modo bastante confuso) que él constituye en realidad el fin de la Naturaleza y nada de lo que vive sobre la tierra podría representar una competencia en tal sentido. La primera vez que le dijo a la oveja: la piel que te cubre no te ha sido dada por la Naturaleza para ti, sino para mí, arrebatándosela y revistiéndose con ella (Génesis, V, 21), el hombre tomó conciencia de un privilegio que concedía a su naturaleza dominio sobre los animales, a los que ya no consideró como compañeros en la creación, sino como medios e instrumentos para la consecución de sus propósitos arbitrarios. Tal concepción implicaba (aunque oscuramente) la reflexión contraria, esto es, que no le era lícito tratar así a hombre alguno, sino que había de considerar a todos ellos como copartícipes iguales en los dones de la Naturaleza; una remota preparación para las limitaciones que en el futuro debía imponer la razón a la voluntad en la consideración de sus semejantes, lo cual es mucho más necesario para el establecimiento de la sociedad que el afecto y el amor.
Y así se colocó el hombre en pie de igualdad con todos los seres racionales, cualquiera que sea su rango (Génesis, III, 22), en lo tocante a la pretensión de ser un fin en sí mismo, de ser valorado como tal por los demás y no ser utilizado meramente como medio para otros fines. En esto, y no en la razón considerada como mero instrumento para la satisfacción de las distintas inclinaciones, está enraizado el fundamento de la absoluta igualdad de los hombres incluso con seres superiores que les aventajen de modo incomparable en materia de disposiciones naturales, pues esta circunstancia no le concede a ninguno de ellos el derecho de mandar caprichosamente sobre los seres humanos. Este paso se halla vinculado a su vez con la emancipación por parte del hombre del seno materno de la Naturaleza; una transformación ciertamente venerable, pero cuajada al mismo tiempo de peligros, puesto que le expulsó del estado candido y seguro de la infancia, cual de un jardín donde se abastecía sin esfuerzo alguno (Génesis, V, 23), arrojándole al vasto mundo, en donde le esperan tantas preocupaciones, fatigas y males desconocidos. Más adelante la dureza de la vida le insuflará cada vez con más frecuencia el anhelo de un paraíso, fruto de su imaginación, en el que pudiera pasar su existencia soñando y retozando [114-115] en una tranquila ociosidad y una paz duradera. Pero entre él y esa imaginaria morada del deleite se interpone la perpleja razón, impulsora irresistible del desarrollo de las capacidades en él depositadas, no consintiendo ésta que el hombre regrese al estado de tosquedad y simpleza del que ella lo había sacado (Génesis, V, 24). La razón le incita a aceptar pacientemente la fatiga que detesta, a perseguir el oropel que menosprecia y a olvidar la propia muerte, que tanto le horroriza, superponiendo todas aquellas menudencias cuya pérdida teme todavía más.
Referências
KANT, IMMANUEL. Probable inicio de la Historia Humana. In: Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre filosofía de la historia. (Spanish Edition) (p. 49-56). Edição do Kindle.
Voltar ao programa do curso “Povos indígenas no Brasil: opressão histórica e perspectivas atuais”
Gênesis
O começo [Gênesis 1]
1 No princípio Deus criou os céus e a terra.
2 Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz.
4 Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas.
5 Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o primeiro dia.
6 Depois disse Deus: “Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas”.
7 Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi.
8 Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o segundo dia.
9 E disse Deus: “Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca”. E assim foi.
10 À parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom.
11 Então disse Deus: “Cubra-se a terra de vegetação: plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies”. E assim foi.
12 A terra fez brotar a vegetação: plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom.
13 Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o terceiro dia.
14 Disse Deus: “Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos,
15 e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra”. E assim foi.
16 Deus fez os dois grandes luminares: o maior para governar o dia e o menor para governar a noite; fez também as estrelas.
17 Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra,
18 governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom.
19 Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o quarto dia.
20 Disse também Deus: “Encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu”.
21 Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies; e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom.
22 Então Deus os abençoou, dizendo: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham as águas dos mares! E multipliquem-se as aves na terra”.
23 Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o quinto dia.
24 E disse Deus: “Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies: rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie”. E assim foi.
25 Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom.
26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão”.
27 Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
28 Deus os abençoou e lhes disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra”.
29 Disse Deus: “Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês.
30 E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida: a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão”. E assim foi.
31 E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o sexto dia.
[Gênesis 2]
1 Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há.
2 No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou.
3 Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação.
Gênesis tem feito a Record TV atingir altos números de audiência diariamente | Foto: Reprodução/O Canal
Adão e Eva
4 Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados: Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus,
5 ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo.
6 Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo.
7 Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente.
8 Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara.
9 Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
10 No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro.
11 O nome do primeiro é Pisom. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro.
12 O ouro daquela terra é excelente; lá também existem o bdélio e a pedra de ônix.
13 O segundo, que percorre toda a terra de Cuxe, é o Giom.
14 O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates.
15 O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
16 E o Senhor Deus ordenou ao homem: “Coma livremente de qualquer árvore do jardim,
17 mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá”.
18 Então o Senhor Deus declarou: “Não é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda”.
19 Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria; e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome.
20 Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse.
21 Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne.
22 Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele.
23 Disse então o homem: “Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada”.
24 Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
25 O homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha.
A queda | Imagem: Mais Relevante
A queda do homem [Gênesis 3]
1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: “Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’?”
2 Respondeu a mulher à serpente: “Podemos comer do fruto das árvores do jardim,
3 mas Deus disse: ‘Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário vocês morrerão’ “.
4 Disse a serpente à mulher: “Certamente não morrerão!
5 Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal”.
6 Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também.
7 Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus; então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
8 Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
9 Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: “Onde está você?”
10 E ele respondeu: “Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu; por isso me escondi”.
11 E Deus perguntou: “Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer?”
12 Disse o homem: “Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi”.
13 O Senhor Deus perguntou então à mulher: “Que foi que você fez?”
Respondeu a mulher: “A serpente me enganou, e eu comi”.
14 Então o Senhor Deus declarou à serpente:
“Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens! Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida.
15 Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela; este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar”.
16 À mulher, ele declarou: “Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez;
com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará”.
17 E ao homem declarou: “Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa; com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida.
18 Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo.
19 Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado; porque você é pó, e ao pó voltará”.
20 Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade.
21 O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher.
22 Então disse o Senhor Deus: “Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre”.
23 Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado.
24 Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida.
Referências
Gênesis 1. In: Bíblia sagrada online. Disponível em < https://www.bibliaon.com/genesis/> Capturado em 12 out. 2022.
Voltar ao programa do curso “Povos indígenas no Brasil: opressão histórica e perspectivas atuais”
Aprendizagem histórica segundo Mario Carretero
Mario Carretero | Imagem: INFoD
Depois de quatro semanas de curso, espero que vocês já tenham percebido que podemos encarar o significado da expressão “aprendizagem histórica” sob várias dimensões: 1. mudança de comportamento à luz das capacidades gerais de um ser humano típico-ideal (pensar, agir e sentir, por exemplo); 2. mudança de comportamento à luz de competências profissionais históricas, refletidas em componentes curriculares (argumentar a partir de fontes criticadas); 3. mudança de comportamento observável em nível molecular e celular que excede o nível psicológico (uma alteração química provocada por ligações neuronais).
As propostas de Paulo Freire, Jörn Rüsen e Kieran Egan pertencem ao primeiro tipo. São fundamentadas, prioritariamente, sobre princípios de saberes universalizantes, como a Filosofia Especulativa de I. Kant, G. Hegel e K. Marx e a Antropologia estruturalista de C. Levi Strauss. As propostas de Mario Carretero, nosso teórico do dia, pertencem ao primeiro tipo mudança (capacidades gerais do ser humano), mas também ao segundo tipo de mudança de comportamento (competências profissionais históricas). Como consequência, recuperam algumas teses de Epistemologia da História, combinadas a proposições da Metodologia [geral] do Ensino e da Psicologia do Desenvolvimento.
Declinado o momentâneo perfil de Carretero, é provável que as questões levantadas acerca dos saberes que incidem sobre a ideia de aprendizagem histórica sejam respondidas com maior precisão, na aula de hoje. O grande exemplo é a teoria de Mario Carretero, que distribui a sua ideia de aprendizagem histórica em três clássicos componentes do currículo: os saberes de o “quê” ensinar, do “como” ensinar e do “a quem” ensinar.
1. Os primeiros estudos sobre aprendizagem histórica
O “momentâneo” do perfil de Carretero tem uma explicação. Os textos básicos sobre as ideias de aprendizagem foram selecionados entre os escritos dos anos 1990. Nesse período, Carretero já se dividia entre o ensino superior na Espanha e na Argentina, difundindo a sua versão sobre o modo construtivista de conhecer o mundo, com as ferramentas cognitivas das História, das Ciências Sociais e das Ciências Naturais.
Naquele período, Carretero já lançava mão da pesquisa acadêmica sobre aprendizagem histórica, focando em questões específicas, como o ensino-aprendizagem da causalidade, da resolução de problemas e o desenvolvimento da competência narrativa. Na nossa década, o autor chega a traduzir “aprendizagem histórica” por “pensamento histórico” e “consciência histórica” e a empregar perspectivas teóricas bastante críticas do construtivismo, como as Sam Wineburg, Keith Barton e de Kieran Egan.
Contudo, é a sua versão construtivista e sintética de aprendizagem histórica que queremos destacar na aula de hoje. A apropriação de resultados de pesquisa e de orientação teórica de autores Peter Lee e K. Egan e a sua preocupação recente com a contradição fundamental sob a qual se erigiram as finalidades do componente curricular História no Ocidente – entre “a racionalidade crítica do Iluminismo e o emocionalismo identitário do Romantismo” (que se desdobra na construção da alteridade – identidades além do “nós” interiorizado como “nacional”), vocês podem explorar a partir das coletânea do próprio Carretero, disponibilizadas ao final da aula 1 e da aula 4 e o livro intitulado Constructing patriotism (Carretero, 2006).
2. Uma Epistemologia historicista
Para demonstrar a importância da Epistemologia histórica na formatação de sua teoria da aprendizagem, Carretero cita autores que hoje consideramos clássicos nos cursos de licenciatura em História: Raymond Aron, Louis Mink, Jürgen Habermas e Edward Caar.
É evidente que essas pessoas pensam coisas diferentes sobre passado, ciência e vida. Mas Carretero tenta reduzir as teses autores ao essencial: Ciência da História produz ferramentas cognitivas que nos possibilitam conhecer o passado em sua historicidade, necessariamente mediado por valores cultivados pelo historiador (subjetividade inerente), que interferem na seleção e/ou construção de fontes e dos acontecimentos.
O conhecimento histórico, em síntese, não reproduz integralmente o acontecido, como sinalizavam algumas concepções “positivistas”. A ciência da História, para Carretero, ocupa-se da compreensão e da representação, sobretudo, escrita do passado em sua historicidade, estimulada pela experiência do presente de quem interroga aquele passado. A ciência da História produz um conhecimento singular – “ferramentas cognitivas” – que deve ser “ensinado” aos alunos para que eles próprios possam compreender” o passado de modo não “positivista” (para continuar com a expressão que ele emprega). Exemplo dessa ferramenta (veremos adiante), é a empatia.
3. Uma teoria genética do desenvolvimento (uma Epistemologia naturalista)
A Epistemologia Histórica é empregada para definir o que se deve aprender: habilidades, valores, conhecimentos que possibilitam uma compreensão historicista do passado. Mas é importante saber das limitações cognitivas dos alunos, em termos psicológicos.
Nesse ponto, o epistemólogo Jean Piaget (que fora reprovado como teórico do ensino de História) é recuperado (agora) na condição de teórico do desenvolvimento humano. Carretero não vê outra solução senão abonar a teoria dos estágios do filósofo suíço. E aqui, também, percebemos o sincretismo entre uma epistemologia historicista e uma epistemologia típica das ciências físico-naturais do século XIX, já que para Carretero, a aprendizagem sofisticada do passado somente seria alcançada no estágio formal, onde os alunos possuíssem:
- la capacidad de formular y comprobar hipótesis;
- la capacidad de aplicar estrategias complejas tanto de tipo deductivo como inductivo; una de las más conocidas es el control de variables;
- la capacidad de entender la interacción entre dos o más sistemas.
Essa apropriação logo se dissolve adiante quando ela afirma: “[…] el conocimiento histórico y social de cierta complejidad requiere una consideración que lo hace diferente del conocimiento que procede de las Ciencias Naturles, y […] dichas características deverían tenerse en cuenta a la hora de enseñar las disciplinas que nos ocupan.”
Isso significa dizer que o professor de história focado na aprendizagem histórica historicista deve desenvolver nos alunos as habilidades empregadas pelos profissionais da história em seu trabalho de compreensão científica do passado, criar estratégias de retenção, recuperação e aplicação . Entre essas habilidades, às vezes sintetizadas na expressão “método histórico”, estão: crítica de fontes (autenticidade e plausibilidade), a percepção de “regularidades” nos acontecimentos e a consequente aplicação de “modelos gerais”, a identificação do caráter narrativo do conhecimento histórico-científico (agentes, ação, sequência e desfecho), percepção da existência de diferentes e válidos modos de contar uma história e a identificação das intensões dos protagonistas da história (explicação).
4. Uma ideia sincrética de aprendizagem histórica
Acima, afirmei que Carretero constituía sua ideia de Ensino e História e, consequentemente, de aprendizagem histórica sob três domínios de investigação: a Epistemologia histórica, a Teoria genética do desenvolvimento humano e a Metodologia de Ensino. Infelizmente, ele não teoriza sobre o terceiro componente. E isso nos leva a encerrar os comentários sobre os fundamentos e avançar para as sínteses das suas ideias sobre aprendizagem (em geral) e aprendizagem histórica.
As ideias apresentadas neste tópico devem ser compreendidas em seu contexto de produção. Nos anos 1990, Carretero está preocupado com a incipiência da pesquisa experimental sobre a aprendizagem histórica. Ele foca, por exemplo, na necessidade de diagnosticar, nos modos como são construídos e nas possibilidades de modificar (ou não) as ideias “prévias”, “espontâneas”, “preconceituosas”, “errôneas” dos alunos sobre o passado; de identificar graus de complexidade e planejar combinações e hierarquias entre conceitos substantivos (feudalismo, Revolução etc.) para facilitar a sua compreensão; e na ampliação do conhecimento sobre a ciência histórica (tempo, narração etc.).
É possível, pensa o nosso autor (na passagem dos anos 1980 para os anos 1990) que o avanço no conhecimento sobre esses três aspectos (conhecimentos prévios, conteúdos substantivos e conteúdos metahistóricos) possa melhorar a qualidade com a qual os alunos ampliam o seu nível de informação sobre o passado. Foi com base nessas preocupações que selecionamos algumas conclusões de Carretero no que diz respeito às definições de aprendizagem e aprendizagem histórica.
Aprender é modificar esquemas de representação do mundo
As ideias de aprendizagem e aprendizagem históricas de Carreteiro são devidas às noções de indivíduo, conhecimento e modo de produção do conhecimento construtivistas. Embora ele fale de “construtivismos” – referentes às ideias de L. Vygotsky, J. Piaget e D. Ausubel, sua visão sobre o aprender é muito clara ao cunhar princípios gerais adjetivados de “construtivistas.
Que é construtivismo? Basicamente se pode dizer que é a ideia que sustenta que o indivíduo – tanto nos aspectos cognitivos e sociais do comportamento como nos afetivos – não é um mero produto do ambiente nem um simples resultado de suas disposições internas, mas, sim, uma construção própria que vai se produzindo, dia a dia, como resultado da interação entre esses dois fatores. Em consequência, segundo a posição construtivista, o conhecimento não é uma cópia da realidade, mas, sim, uma construção do ser humano. Com que instrumentos a pessoa realiza tal construção? Fundamentalmente com os esquemas que já possui, isto é, como o que já construiu em sua relação com o meio que a rodeia.
Observem que nessa definição por negação (negação de radicais comportamentalismos e cognitivismos) estão conceitos muito importantes para o entendimento da sua ênfase no conteúdo conceitual do ensino de história (conceito e princípios com os quais os alunos constroem representações sobre o passado) e, correlatamente, as bases para a negação de uma epistemologia positivista da ciência Histórica.
Isso veremos adiante. Aqui, nos interessa fixar essa ideia geral de aprendizagem, a partir do conceito de “esquema” ou “representação mental”. Para Carretero, o nosso conhecimento do mundo é indireto. Conhecemos o mundo mediante representações das coisas – de como as coisas são (para que servem, de quais elementos são constituídas, com qual dinâmica se desenvolvem etc.). Aprender é representar o mundo de maneira progressiva e qualitativamente diferente, ou seja, é modificar esquemas de representação do mundo, de modo que, em muitos casos (no conhecimento escolar, por exemplo), o esquema anterior é incorreto, quando comparado ao esquema posterior. Assim, os esquemas de conhecimento do mundo baseados no estágio concreto são incorretos ou menos sofisticados em seus resultados, quando comparados aos esquemas de conhecimento do mundo baseados no estágio formal.
Essa ideia se aplica às crianças e aos adultos. A representação da Terra como um objeto plano é um conhecimento incorreto, enquanto a representação da Terra com um objeto esférico é um conhecimento correto. É correto porque depende da ideia de prova e da habilidade de prever (hipótese), comparar (experimentar) e inferir (demonstrar) que a terra é esférica. Essas habilidades não estão presentes no raciocínio anterior.
Aprender é produzir sentido qualitativamente melhor sobre o passado
A ciência histórica fornece elementos conceituais ao professor de História que quer ver o seu aluno compreender o passado de modo qualitativamente superior, ou seja, atribuindo significado – o mais próximo possível – ao tempo em que os acontecimentos ocorreram, consolidá-lo e empregá-lo.
A aprendizagem histórica, por outro lado, depende do conhecimento que o aluno possui sobre o seu presente. Aí entram os saberes (descritivos) da Sociologia.
[…] para compreender la noción de democracia defendida por la Revolución Francesa frente al Antiguo Régimen resulta esencial que los alumnos compreendan la estructura básica de las democracias actuales. De esa manera les será posible entender en qué sentido las ideas de la ilustración eran revolucionarias.
Aprender é modificar o comportamento ideológico
Aprender é mudar comportamento, mas de dois tipos especiais: os comportamentos conceitual e valorativo. Nesse sentido, aprendizagem histórica é um processo de alteração do valor ou da imagem que o aluno cultiva ou retém sobre determinado conceito, tese, acontecimento ou processo.
Usando exemplos que nos interessam, podemos concluir que aprendizagem histórica é o processo de alteração do valor ou da imagem que os alunos retêm ou cultivam sobre o conceito de família (da nuclear aos novos arranjos) e sobre a proposição de que a diminuição da menoridade penal reduz as taxas de criminalidade no país (da defesa à ponderação crítica).
Seguindo o mesmo paralelismo, a aprendizagem histórica é o processo de alteração do comportamento indiferente, frente à informação de que ditadura militar ocorreu no Brasil e de que os direitos humanos são uma conquista civilizatória de três séculos, aproximadamente (ao contrário de uma invenção esquerdista de proteção aos delinquentes).
Aprender é compreender a mudança com o emprego de habilidades lógico-matemáticas
Aprende história quem visita o passado e o compreende como se estivesse em seu próprio país, relacionando-se com os seus atores, ações, cenários e motivações de modo empático. Dizendo de outro modo, aprende história que entende “as motivações e o sentido histórico de ideias e decisões estabelecidas em outras épocas” sem cometer anacronismos.
Aprende história (complementamos), quem emprega essa capacidade cognitiva emocional de “se ver do ponto de vista de outrem”, de “ver os outros do ponto de vista de outrem” ou para “ver os outros do ponto de vista deles mesmos” (Houaiss, sd.).
Aprende história, por fim, quem percebe que a mudança dos acontecimentos ocorre em diferentes ritmos e durações, quem situa adequadamente os acontecimentos em uma escala temporal e que estabelece conexões entre acontecimentos de natureza diferente, situados no mesmo ponto de uma escala temporal.
Essa última concepção de aprendizagem histórica tem implicações para o planejamento do ensino de História, como demonstrado na sequência:
Atividades para a efetivação da aprendizagem histórica dos(as) aluno(as)
[…] O professor deveria levar em conta que, cada vez que utiliza um conceito abstrato, os alunos podem estar entendendo em termos concretos e que, por conseguinte, deve “ir e vir”, do abstrato ao concreto e vice-versa, continuamente, em aula, mostrando como é possível chegar a tal conceito a partir de múltiplos exemplos específicos. Desse modo, a professora pode buscar, nas avaliações que faça de seus alunos, um diagnóstico da maneira em que eles fazem a representação a realidade social e [fazer] uma representação mental de como estão compreendendo a situação que pretende descrever e o tipo de relações que tenta estabelecer e se tudo o que está descrevendo conceitualmente está sendo reinterpretado em termos concretos pelo aluno.
Proponha exercícios de empatia e simulação através dos quais seus alunos possam situar-se nos papeis de personagens históricos. Assim, por exemplo, o aluno pode repetir o ponto de vista de um adversário num debate, representar os argumentos de uma pessoa no passado num jogo de papéis, ou explicar como acredita que se sinta uma pessoa a quem ele ou ela tenha afetado em algum conflito que se tenha apresentado entre ambos.
[Proponha] a realização de exercícios de ordenamento dos fatos históricos, utilizar tabelas de tempo para fazer com que seus alunos coloquem nelas todos os acontecimentos que vão estudando, assim como tabelas comparativas de tempo que lhes permitam compreender o que está acontecendo num determinado lugar enquanto em outro ocorram, simultaneamente, outras coisas. […]
Desse modo, [os alunos] deveriam pensar que há mudanças em suas próprias vidas que têm ritmos diferentes e tentar generalizar estes fenômenos às situações da história. Nesse sentido, pergunta-se, por exemplo, que costumes ou valores permaneceram iguais ao longo dos séculos e quais mudam permanentemente. (Carretero, 1993, p.81, p.85-86).
5. Uma defeito na teoria da aprendizagem de Carretero
As várias definições de aprendizagem aqui listadas tem a vantagem de fácil adequação às mais distintas situações comunicativas nas quais os professores de História se envolvem diariamente. Defeitos que minimizem a importância das concepções de Carretero, portanto, são irrelevantes.
Contudo, para efeito de coerência teórica (se alguém se interessar a respeito), devemos esclarecer que Carretero faz uma imagem ingênua da oposição historicismo/cientificismo (que ele chama de positivismo), revelada, principalmente, na apresentação das habilidades e conceitos (às vezes, princípios) que fundamentam as bases da sua ideia de aprendizagem histórica: a Epistemologia/Metodologia histórica e a Psicologia do Desenvolvimento. Ele crê expulsar positivismo da Epistemologia Histórica, mas esse mesmo positivismo volta na forma de habilidades típicas das ciências naturais, que caracterizam a produção do conhecimento falso e verdadeiro empregado como parâmetro para a escolha do conteúdo substantivo disciplinar. Ciência, neste caso (e para Carretero) é, sobretudo, demonstração e previsão, ou seja, tudo o que a vulgata historicista que ele lança mão gostaria de se afastar.
Referências
CARRETERO, Mario. Introdução. In: Constructing patriotism: Teaching History and memories in Global Words. Charlotte: IAP, 2011. p.xxiii-xxxv.
CARRETERO, Mario. O ensino da História e das Ciências Sociais. In; Construtivismo e educação. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. P.75-90.
CARRETERO, Mario. Perspectivas disciplinares, cognitivas y didácticas en la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia. CARRETERO, Mario; JACOTT, Liliana; LIMÓN, Margatita; LÓPEZ-MANJÓN, Asunción. Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires: Aique, 1995. p.15-32.
CARRETERO, Mario. Representação e aprendizagem nas narrativas históricas. In: CARRETERO, Mario; CASTORINA, José A. (Org.) Desenvolvimento cognitivo e educação: Processos do conhecimento e conteúdos específicos. Porto Alegre: Penso, 2014. p.203-222. [Primeira edição em espanhol – 2012].
CARRETERO, Mario. Teaching History Master Narratives: Fostering Imagi-Nations. In: CARRETERO, Mario; BERGER, Stefan; GREVER, Maria (Ed). Palgrave Handbook of Research in Historical Culture and Education. London: Plagrave/McMillan, 2017. p.511-528.
CARRETERO, Mario; LIMÓN, Margarita. Construcción del conocimiento y enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia. In: CARRETERO, Mario; JACOTT, Liliana; LIMÓN, Margarita; LÓPEZ-MANJÓN, Asunción. Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires: Aique, 1995. p.33-62.
VOSS, James F.; CARRETERO, Mario. International Review of History Education. V.2, Learning and Reasoning in History. London: Routledge/Falmer, 1998.
História da Enfermagem. Brasília, v.13, n.2, 2022.
EDITORIAL
- Especialização em História da Enfermagem
Fernando Porto - Specialization in History of Nursing
Fernando Porto - Especialización en la Historia de la Enfermería
Fernando Porto
ARTIGOS ORIGINAIS
- Marcos históricos e legais da educação profissional técnica de nível médio em enfermagem no Brasil ao longo de 90 anos
Historical and legal landmarks of middle-level technical professional education in nursing in Brazil over 90 years
Hitos históricos y jurídicos de la formación profesional técnica secundaria en enfermería en Brasil a lo largo de 90 años
Gilberto Tadeu Reis da Silva, Ludmila Anjos de Jesus, Ingryd Vanessa Santos do Nascimento, Letícia Melquiades Nascimento, Silvana Lima Vieira - A construção do conhecimento no espaço acadêmico da Escola Paulista de Enfermagem
Knowledge construction in the academic space of the Escola Paulista de Enfermagem
La construcción del conocimiento en el espacio académico de la Escola Paulista de Enfermagem
Shirley da Rocha Afonso, Vanessa Ribeiro Neves, Maria Itayra Padilha - Exposição virtual: enfermagem sem fronteira
Virtual exhibition: Nursing without borders
Exposición virtual: enfermería sin fronteras
Kayllane Conceição Soares Souza, Breno da Silva Francisco de Lima, Márcia Valéria Rosa, Elen Soraia de Menezes Cabral, Luciana Barizon Luchesi, Fernando Porto
IN MEMORIAM
- Miriam Susskind Borenstein: 16/08/1954 – 23/09/2021
Maria Itayra Padilha, Maria Ligia dos Reis Bellaguarda, Ana Rosete Camargo Rodrigues Maia
RELATO DE EXPERIÊNCIA
- Ensino de história da enfermagem na graduação na pandemia de COVID-19 no ano de 2020
Teaching nursing history in undergraduate education during the COVID-19 pandemic in 2020
Enseñanza de historia de la enfermería en la graduación durante la pandemia de COVID-19 en el año de 2020
Margarete Bernardo Tavares da Silva, Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense, Luana Valentim Monteiro, Maria de Fátima da Silva Castro, Daniela Vieira Malta, Camila Pureza Guimarães da Silva
POSTED BY: HERE 3 DE NOVEMBRO DE 2022
Clepsidra. Buenos Aires, v.9, n.18, 2022.
Editorial
- Sumario 18Memorias e industrias culturales. La mediatización del pasado en América Latina
- Revista Clepsidra
- El pasado mediatizado: experiencia, interactividad y consumo
- Soledad Catoggio, Claudia Feld
Introducción al Dossier
- Dossier: “Memorias e industrias culturales. La mediatización del pasado en América Latina”
- Lorena Antezana, Hans Stange
Dossier Temático
- Estudio de audiencias durante la pandemia y el estallido social chileno: efectos de la conmemoración virtual del 11 de septiembre del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
- Beatriz Águila Mussa, Sol Rojas-Lizana, Ramón Uribe
- Filmar el adentro y el afuera: el cine doméstico en el marco de la modernización chilena del siglo XX, sus usos y tensiones contemporáneas
- Diego Olivares Jansana
- “Diálogos” en papel. Un análisis sobre las condiciones de producción y circulación del libro Hijos de los 70
- Ezequiel Saferstein, Analía Goldentul
- ¿Qué pasados nos cuenta el VoD? Tiempos, espacios y agentes presentes en el catálogo de Netflix (visto desde México)
- Adrien Charlois Allende
- Puntuaciones en torno al destape y la espectacularización de la violencia del terrorismo de Estado en la Argentina durante la última transición democrática
- Luciano Uzal
- Entrevistas / Conferencias
- Memorias de mujeres, voces feministas y la rebeldía de la historiaEntrevista a Graciela Sapriza
- Ana Laura de Giorgi
Reseñas
- Libros de: Marina Franco y Claudia Feld, Hernán Confino y Patricia FunesFlorencia Urosevich, María Lucía Abbattista y Diego Galante
- Florencia Urosevich, María Lucía Abbattista , Diego Galante
Publicado: 2022-10-03
Historia Crítica. Bogotá, Núm. 86 (2022)
Dossier
- Daniel J.R. Grey, Eliza Teixeira de Toledo
- Historias de violencia sexual en la América Latina de los siglos xix y xx: una introducción
- https://doi.org/10.7440/histcrit86.2022.01
- PDF (English) HTML (English)
- Laura Bunt-MacRury
- La colonialidad del derecho en el Perú: positivismo jurídico, violación y moralidad racializada en los tribunales de principios del siglo xx
- https://doi.org/10.7440/histcrit86.2022.04
- PDF (English) HTML (English)
Dossier
- Izaskun Álvarez Cuartero
- Violencia sexual en Yucatán, 1830-1875
- https://doi.org/10.7440/histcrit86.2022.02
- PDF HTML
- Pamela Loera
- El atentado al pudor y la violación de niños en México a través del periódico El Foro (1873-1899)
- https://doi.org/10.7440/histcrit86.2022.03
- PDF HTML
- Jorge Pavez Ojeda
- El violador es la verdad del grupo: sicopolítica de la violencia sexual en los centros de tortura (Chile, 1974-1976)
- https://doi.org/10.7440/histcrit86.2022.05
- PDF HTML
Publicado octubre 1, 2022
Conhecimento desde dentro: os afro-sul-americanos falam de seus povos e suas histórias | Sheila S. Walker
Sheila Walker, em um intenso movimento afrogênico, presenteia-nos com “Conhecimento desde dentro: Afro-Sul-Americanos falam de seus povos e suas histórias”. A obra foi lançada no I SEMILLAH – I Seminário Latino-Afro-Hispânico, nas dependências da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Campus Nova Iguaçu, em 2018. Tanto a primeira publicação em espanhol (2010) quanto sua tradução (2018) são frutos de ações coletivas. Leia Mais
Comprender y juzgar. Hacer Justicia en las ciencias sociales | Patricia Funes
Los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura conforman un elemento particular, dinámico y significativo en la historia política argentina contemporánea. Es comprensible que a partir de esa riqueza los juicios se hayan convertido en un objeto de interés para las ciencias sociales, despertando diversos interrogantes sobre la vida social que exceden ampliamente el lenguaje y los objetos del derecho. Inversamente, ha acontecido en los juicios contemporáneos, desde su reapertura a mediados de los dos mil, un fenómeno novedoso y particular: el conocimiento producido desde las ciencias sociales sobre aquel pasado abyecto ha despertado un creciente interés en las lógicas y praxis de los tribunales, recurriendo a las voces de los científicos sociales como herramientas de la acción judicial. Y en ese marco, como analizan Funes y Catoggio en su introducción al volumen aquí presentado, se han producido transformaciones en ambos campos, intersecciones y desencuentros, fruto de esa cooperación. Leia Mais
La Contraofensiva: el final de Montoneros | Hernán Confino
En la segunda mitad de 1979, el poeta y militante Juan Gelman escribió algunas de sus famosas Notas (Calella de la Costa/París/Roma), entre cuyos versos se encuentra el que da título a esta reseña. Pocos meses antes, junto a Rodolfo Galimberti y otros compañeros difundieron su alejamiento de Montoneros en el periódico francés Le Monde, cuestionando el rumbo emprendido por su Conducción. El trabajo de Hernán Confino, enfocado en la historia de la organización y de sus militantes entre la salida orgánica del país y la llamada Contraofensiva, me recordó a esa imagen de los pedacitos rotos que construyó la “Nota XII”. Por un lado, porque ese sueño revolucionario al que refería Gelman está presente en las páginas de La Contraofensiva: el final de Montoneros, junto a la historia de las decenas de compañeros caídos en el camino. Por otro, porque la investigación de Confino debió lidiar con la fragmentación de las memorias y la dispersión de documentos que un sueño como aquel dejó al romperse. Leia Mais
ESMA. Represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina | Marina Franco, Claudia Feld
ESMA. Represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina parte de un interrogante central: ¿por qué la ESMA? Por todas las preguntas abiertas más allá de, y gracias a, testimonios de sus sobrevivientes, procesos judiciales y numerosos trabajos previos sobre este centro clandestino que funcionó en la ciudad de Buenos Aires, durante toda la última dictadura argentina (1976-1983). Leia Mais
Imagining North-Eastern Europe. Baltic and Scandinavian states in the eyes of local, regional, and global observers/Diacronie. Studi di Storia Contemporanea/2022
The image of North-Eastern Europe appears composite and complex. While its geographical conglomeration is cut across by the Baltic Sea, it is not a coherent area at a cultural and political level. Yet, the numerous investments made by local and international actors in attempting to define this space call for a closer scrutiny of the processes of imagining and re-imagining spaces[1]. North-Eastern Europe is a repository of numerous perceptions and self-perceptions on a local, region, and global level. It is a crossroad for international routes and a point of contact for insular realities, near and distant at the same time.
In the last centuries, the history of the Baltic Sea has also been a history of how the small riparian states devised the most diverse and original strategies to coexist and emerge from the shadow of major continental players in their Eastern and Southern flanks. These strategies ranged from adapting their culture, politics, and identities in face of the most threatening existential dilemmas, in geopolitical contexts in which the transnational circulation of persons, ideas and goods made impossible the hermetic closure of state borders to foreign influences. Going international and searching for legitimation from foreign partners was the drive of ideas and practices of regional cooperation, of cultural and diplomatic initiatives with states and international organizations. The power of imagining one’s own “island” as a part of a broader entity was a resource for the states in the process of guaranteeing peace and stability in the region; for many societal groups, imagination has been (and is) an important resource for planning a better world in which to achieve freedom and emancipation. Yet, spreading utopia about unity, peace, and cooperation was also a means by which imperialist powers attempted to inscribe the small states within their areas of influence. Therefore, there are good arguments for treating analytically the act and the practices of imagining with the same methods by which processes of knowledge circulation are presently analyzed within the field of history of knowledge [2]. Like knowledge, imagination does not exist by itself: it has a historically-defined genealogy; it is produced by actors that diverge for education and social position; it is inscribed in genres and carried in media of the most different kind; it has different kinds of audiences; it may be comprehensible, endorsed, and even allowed only in determined places, and not in others. Leia Mais
Diacronie. Studi di Storia Contemporanea. Bologna, n. 52 | dicembre 2022
Imagining North-Eastern Europe. Baltic and Scandinavian states in the eyes of local, regional, and global observers
- Edited by Paolo Borioni, Deborah Paci, Francesco Zavatti
- N°52, 4 | 2022 | Diacronie. Studi di Storia Contemporanea
- 00/ Re-Imagining the Baltic Sea Region and Scandinavia as North-Eastern Europe
- by Paolo BORIONI, Deborah PACI, Francesco ZAVATTI – The image of North-Eastern Europe appears composite and complex. While its geographical conglomeration is cut across by the Baltic Sea, it is not a coherent area at a cultural and political level. Yet, the numerous investments made by local and international actors in attempting to define this space call for a closer scrutiny of the processes of imagining and re-imagining spaces… [more]
ARTICOLI
- 1/ The many notions of “Baltic” space. Historical and political imaginaries of North-Eastern Europe, 19th-21st centuries
- di Jörg HACKMANN – The understandings of Baltic space are numerous, partly overlapping, partly contradicting, and in addition changing over time. These spatial notions do not only depend on physical geography and thus do not create natural or indisputable units, but they are first of all based on often transnationally entangled… [more]
- 2/ Nation Branding: How Sweden Changed the Narrative
- di Milena NIKOLIĆ – This article aims to explore how Sweden managed to transform its tarnished international standing in the post-WWII international environment affected by the emergence of two superpowers. Using the concept of credibility and respectability of neutrality… [more]
- 3/ From here to Aistija: the Baltic State that never-was
- di James Montgomery BAXENFIELD – Ideas to unite the Latvian and Lithuanian nations within a single state are little-known episodes of the twentieth century. This idea is generally traced back to the closing decades of the nineteenth century. At the end of the First World War, it briefly achieved enthusiastic endorsement from prominent figures… [more]
- 4/ The National-Socialist-led German school in Stockholm 1941-1945: an institution of cultural propaganda
- di Susan LINDHOLM – On the 21st of October 1941, an National-Socialist-led German school opened its doors in Stockholm. At the opening ceremony, both Swedish and German officials alluded to long-standing historical connections between the two countries and described the school as a warrant for cultural exchange and Swedish-German… [more]
- 5/ Visual Representations as Environing Technologies: Anticipating the Øresund Fixed Link in Danish and Swedish Printed Media (1930-1999)
- di Francesco ZAVATTI – This article shows that visual representations are valuable sources for investigating the cultural and social history of the humankind-nature relationship. It does so by considering visual representations of future acts of environing as technologies that, connoting the making of the environment… [more]
ARTICOLI MISCELLANEI
- 6/ “Our Own British Race”: Distinctive Approaches to Racial Ideas in British Fascist Movements, 1922-1940
- di Hartley CHARLTON – Questo articolo intende identificare e analizzare il carattere distintivo delle idee razziali espresse dal fascismo britannico durante il periodo tra le due guerre mondiali. Sebbene queste fossero basate su premesse diverse dagli altri fascismi, vi fu comunque la volontà di indirizzare il dibattito … [more]pp. 114-135
- 7/ La contraddittoria parabola ideologica e organizzativa di Forza Italia. Dalla fondazione al congresso di Milano del 1998
- di Andrea MARINO – L’articolo propone una riflessione sulle origini e la trasformazione di Forza Italia dal 1994 al congresso di Milano del 1998. Sono esaminati innanzitutto i miti e le retoriche fondative, i percorsi ideologici e organizzativi iniziali, e successivamente le motivazioni alla base dei progressivi cambi… [more]
III. L’AMBIENTE DELLA STORIA
- 8/ Riequilibrare i rapporti globali Nord-Sud: Alexander Langer e la teorizzazione del debito ecologico
- di Clara BASSAN – Quest’articolo analizza l’azione transnazionale della «Campagna Nord-Sud, Biosfera, Sopravvivenza dei popoli, Debito» attiva dal 1988 al 1993. Tale iniziativa fu promossa in Italia da Alexander Langer e da figure provenienti dagli ambiti dell’attivismo ambientale, pacifista, femminista e dalla coope… [more]
- 9/ Dalla nascita della Federazione dei Verdi alla Convenzione internazionale “Verdeuropa” di Firenze (1988): verso una prospettiva ecologica europea dei Verdi italiani
- di Giorgio GRIMALDI – Dalla seconda metà degli anni Ottanta le liste verdi in Italia e il dibattito ecologista diedero vita a proposte e iniziative per affrontare il degrado ambientale e trasformare la politica agendo a differenti livelli, da quello locale a quello internazionale. Sull’onda di un più ampio movimento ecol… [more]
MOTORE, CIAK, STORIA!
- 10/ Passato e presente: analisi di un programma di storia in tv
- di Carlo UGOLOTTI – Il presente contributo si propone di analizzare una delle trasmissioni di divulgazione storica di maggior successo in onda dal 2017 sulle reti generaliste italiane, Passato e presente. Il saggio si concentra su come questo programma declini la narrazione storica e come costruisca, attraverso il ling… [more]
PICO
- 11/ Il confine meridionale e i nostri spauracchi nazionalisti
- di Miroslav MICHELA – Nel contesto delle questioni territoriali riguardanti i confini tra gli Stati, il problema delle minoranze e dell’uso pubblico della storia rappresenta un argomento estremamente attuale. Il presente saggio si propone di esaminare il caso delle relazioni slovacco-ungheresi, le questioni legate al rap… [more]
RECENSIONI
- 12/ RECENSIONE: Daniel HEDINGER, Die Achse. Berlin-Rom-Tokio 1919-1946, München, C.H. Beck, 2021, 543 pp.
- di Nicola BASSONI – L’Asse Berlino-Roma-Tokyo – secondo la denominazione adottata, soprattutto nel mondo anglosassone, per definire l’insieme di accordi che unirono Italia, Germania e Giappone dal Patto anticomintern al Tripartito – appare ancora oggi uno dei costrutti politico-internazionali più controversi dell’età contemporanea… [more]
- 13/ RECENSIONE: Fabio MILAZZO, Una guerra di nervi. Soldati e medici nel manicomio di Racconigi (1909-1919), Pisa, Pacini, 2020, 286 pp.
- di Ilaria LA FATA – Il lavoro di Fabio Milazzo – docente e ricercatore per l’Istituto storico della Resistenza di Cuneo, oltre che collaboratore di diverse riviste storiche e autore di svariate pubblicazioni sul tema della devianza ma non solo –, si inserisce come un ulteriore e prezioso tassello nel mosaico delle… [more]
- 14/ RECENSIONE: Gabriele RANZATO, La liberazione di Roma. Alleati e Resistenza, Roma-Bari, Laterza, 2019, 680 pp.
- di Pascal OSWALD – Nel 1997, all’ingresso del ponte dell’industria, che collega i quartieri Ostiense e Marconi, il comune di Roma fece erigere una lapide in bronzo con l’iscrizione: «In ricordo delle dieci donne uccise dai nazifascisti il 7 aprile 1944». Questa lapide commemora il cosiddetto eccidio del ponte dell’industria, che è stato menzionato per la prima volta in un saggio di Cesare De Simone nel 1994… [more]
- 15/ RECENSIONE: Renzo VILLA, Geel, la città dei matti. L’affidamento familiare dei malati mentali: sette secoli di storia, Roma, Carocci, 2020, 304 pp.
- di Fabio MILAZZO – Durante l’acceso dibattito che si svolse, alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento, in seno al Consiglio provinciale di Cuneo per valutare la possibile realizzazione di un manicomio provinciale, si segnalò tra le altre una voce, quella del consigliere Michelini… [more]
VII. RECENSIONI TEMATICHE. L’AMBIENTE DELLA STORIA
- 16/ REVIEW: Jonathan E. ROBINS, Oil Palm: A Global History, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2021, 432 pp.
- by Giovanni TONOLO – The two main fields of reference of Jonathon Robins’ new book, Oil palm: a global history, are immediately revealed in its title: the history of commodities and global history. This work fits within the historiographical genre famously inaugurated by Sydney W. Mintz in 1985… [more]
- 17/ RECENSIONE: Marco ARMIERO, L’era degli scarti, Torino, Einaudi, 2021, 136 pp.
- di Giulia ARRIGHETTI – In un’intervista rilasciata per la rivista «Geography Notebooks» nel 2020, Marco Armiero ha definito l’ecologia politica come «quel campo di ricerca indisciplinato dove si guarda alle relazioni socioecologiche senza nascondere il potere e le diseguaglianze»… [more]
- 10/ RECENSIONE: Chris GRATIEN, The Unsettled Plain: An Environmental History of the Late Ottoman Frontier, Stanford, Stanford University Press, 2022, 318 pp.
- di Luca ZUCCOLO – «Çukurova è inesauribile»: questa espressione dello scrittore Yaşar Kemal, riportata nei ringraziamenti da Chris Gratien è l’espressione più calzante per riassumere in una battuta l’ottimo saggio The Unsettled Plain. La frontiera del tardo periodo ottomano analizzata è la Cilicia… [more]
Memorias e industrias culturales. La mediatización del pasado en América Latina/ Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria/2022
El propósito de este dossier es contribuir a nuestro conocimiento de los procesos contemporáneos de mediación y mediatización de la memoria, tanto a partir del rol que juegan las industrias culturales en la distribución y circulación de artefactos memoriales, como en los procesos de mercantilización de los pasados traumáticos. Leia Mais
Estrutura e funcionamento da BNCC-Formação
Colegas, leiam o texto abaixo e o tomem como estímulo ao estudo sobre a as estrutura, as funções, as contradições, omissões e ambiguidades das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica – lei que institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores.
A orientação para a análise, problematização e posterior fichamento (resumo, mapa conceitual, citação direta etc.) é idêntica às aplicadas nas unidades I e II deste curso, ou seja, deve levar em conta habilidades mentais necessárias à interpretação da lei como um construto social (passível de diferentes interpretações).
Em geral, peço que privilegiem:
- Definição/finalidade
- Bases legais
- Estrutura
- Exemplos de competências gerais
- Exemplos de competências específicas
- As agências para a construção dos currículos de licenciatura
- A distribuição da carga horária em termos de conhecimentos, habilidades e valores
Antes de iniciar a leitura e o fichamento do dispositivo, leiam os dois textos abaixo e reflitam sobre o perfil docente demandado, partindo dos problemas anunciados pela jornalista. Em seguida (após a leitura da BNCC-Formação), tentem responder se o dispositivo em análise contribui para enfrentar as demandas apontadas pelo texto da jornalista e pelo texto dos pesquisadores do ensino.
Bom trabalho!
Texto 1 – Sem atrair jovens para profissão, Brasil pode ter apagão de 235 mil professores
Licenciaturas têm alta evasão e absorvem pessoas mais velhas que muitas vezes já estão na carreira docente, diz estudo
São Paulo, 29.set.2022 às 11h01 Atualizado: 29.set.2022 às 13h29 [Link da publicação original]
O Brasil não tem conseguido atrair os jovens para a profissão docente e, se mantido o ritmo atual de formados em cursos de licenciatura, a educação básica do país pode enfrentar um déficit de 235 mil professores até 2040.
A estimativa é de um estudo feito pelo Instituto Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior), com dados dos Censos do Ensino Superior e da Educação Básica coletados pelo MEC (Ministério da Educação).
O resultado foi apresentado na manhã desta quinta (29) no Fórum Nacional de Ensino Superior, com a presença do ministro da Educação, Victor Godoy, que disse que a responsabilidade pela valorização da educação brasileira e dos professores não é exclusiva do MEC.
“A educação brasileira é um grande sistema complexo. A responsabilidade não é exclusivamente do MEC ou das instituições de ensino ou das escolas públicas. É responsabilidade de toda a sociedade brasileira”, disse.

Professora dá aula na escola municipal Remo Rinaldi Naddeo, na capital paulista – Danilo Verpa – 7.fev.2022/Folhapress
O estudo, intitulado “Risco de apagão de professores no Brasil”, identificou que, apesar do aumento de ingressantes nos cursos de licenciatura nos últimos dez anos, o número de concluintes não segue o mesmo ritmo. O perfil das graduações mais procuradas na área e também dos alunos indica que o aumento de calouros é puxado por pessoas que já atuam em sala de aula.
De 2010 a 2020, o país registrou um aumento de 61,15% de ingressantes em cursos de licenciatura —o crescimento só ocorreu pela maior procura por graduações a distância, já que os da modalidade presencial perderam alunos. Em 2010, o país tinha 298.390 ingressantes em cursos presenciais de formação de professores. Em 2020, o número caiu para 186.156.
No mesmo período, o número de ingressantes em cursos a distância triplicou no país, passando de 154.137 para 509.631. A cada dez estudantes que entram em graduações para a formação de professores, sete vão para a modalidade a distância.
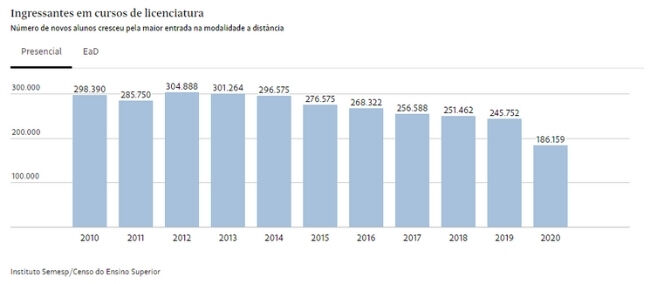
Instituto Semesp/Censo do Ensino Superior
O aumento nessa modalidade, em geral, não significa a futura ida de novos professores para a educação básica. Quem procura por esses cursos não são os jovens que acabaram de sair do ensino médio, mas sim pessoas mais velhas que estão em uma segunda graduação. Muitas vezes, professores que já trabalham em sala de aula.
Segundo o estudo, 58,3% dos concluintes de cursos de licenciatura responderam já atuar em sala de aula. “Ou seja, quem está indo para os cursos de formação de professores, não são novos professores. São aqueles mesmos que já estão na escola. O país não consegue atrair gente nova para a docência”, disse Lúcia Teixeira, presidente do Semesp.
Essa constatação fica mais evidente ao observar os cursos que tiveram maior crescimento de concluintes, que em geral são os que servem como uma complementação da formação inicial. Entre 2016 e 2020, a graduação em educação especial, por exemplo, registrou aumento de 1.583%, e o de formação pedagógica para professor da educação básica, de 63,6%.
As graduações que formam professores para dar aula de disciplinas específicas tiveram queda de formados nesse período. Por exemplo, licenciatura em biologia perdeu 21,3% de concluintes, química perdeu 12,8% e letras, 10,1%.
O estudo também destaca que a taxa geral de concluintes não seguiu o mesmo ritmo de ingressantes, o que indica grande evasão nos cursos de licenciatura. Apesar do aumento de calouros em dez anos ter sido de 61,15%, o número dos que se formaram cresceu apenas 4% de 2010 a 2020.
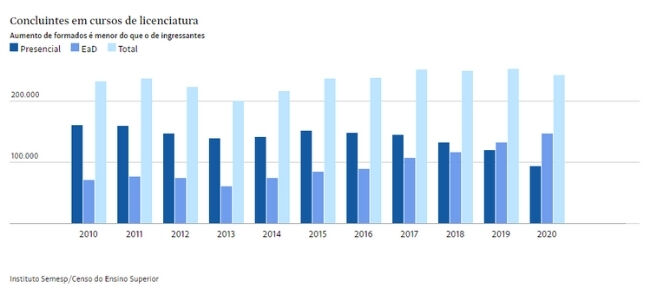
Instituto Semesp/Censo da Educação Básica
Os dados se refletem na estabilidade do total de professores que atuam nas escolas de educação básica do país. Em 2021, o Brasil tinha cerca de 2,1 milhões de docentes, patamar que se mantém estável desde 2014. Em média, o país tem um professor para cada 20,3 alunos de 3 a 17 anos.
Outro aspecto destacado pelo estudo é a queda de professores com menos de 29 anos atuando nas salas de aula do país. De 2016 a 2021, o número de docentes dessa faixa etária caiu 27,2% —passando de 341.660 profissionais para 248.745.
Já o de professores com mais de 55 anos cresceu 44% no período, subindo de 182.502 para 263.425.
Ainda que os dados analisados mostrem uma estabilidade no total de professores, diversas redes públicas de ensino do país têm enfrentado dificuldade para completar o quadro docente. A rede estadual de São Paulo, por exemplo, não conseguiu contratar professor em número suficiente para implementar o novo ensino médio.
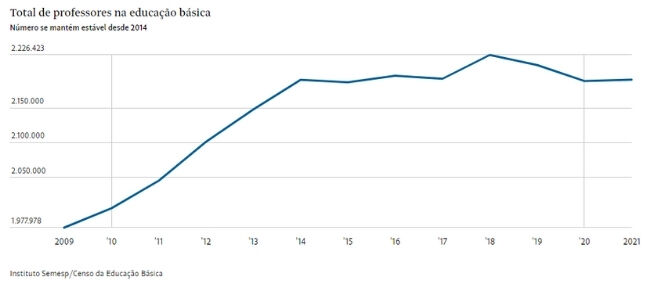
Instituto SemespCenso da Educação Básica
Observando as taxas de concluintes em licenciatura e as aposentadorias nos próximos anos, o estudo calcula que, em 2040, serão necessários 1,97 milhão de professores para continuar atendendo a demanda de alunos na mesma proporção de hoje —já considerando a queda de natalidade. Assim, se mantida a taxa de crescimento de formados atual, a estimativa é de que o país terá um déficit de 235 mil docentes.
“Consideramos que esse ainda é um cálculo conservador sobre a falta de professores que o país deve enfrentar nos próximos anos se nada for feito para valorizar a carreira. Hoje, o país tem políticas para a educação básica que vão aumentar ainda mais a demanda por esses profissionais”, disse Rodrigo Capelato, diretor executivo do Semesp.
O Brasil tem em andamento políticas como a ampliação de escolas em tempo integral e o novo ensino médio, que aumenta a carga horária de aulas dos alunos. Para que sejam implementadas, ambas políticas demandam mais professores.
A baixa atratividade da profissão é reflexo da desvalorização da carreira e da área de educação, percepção que é compartilhada inclusive pelos próprios estudantes. Um relatório da OCDE, entidade que reúne países ricos, de 2018 indicou que o Brasil era a nação com a menor proporção de jovens de 15 anos que pensavam em seguir a profissão: apenas 2,4%.

Menina de 5 anos, aluna de escola municipal de São Paulo, tenta escrever o próprio nome; pandemia causou queda na aprendizagem e elevou, de forma artificial, taxas de aprovação. Marlene BargamoFolhapress
Menina de 5 anos, aluna de escola municipal de São Paulo, tenta escrever o próprio nome; pandemia causou queda na aprendizagem e elevou, de forma artificial, taxas de aprovação. Marlene Bargamo/Folhapress
O estudo do Semesp, que representa instituições privadas de ensino superior, indica que os motivos da desvalorização vão desde os baixos salários até as más condições de trabalho. Segundo dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), em 2020, um professor de ensino médio no Brasil ganhava, em média, um salário de R$ 5,4 mil —quase 20% a menos do que a remuneração de outros profissionais com ensino superior completa.
Também destaca que, em 2021, 3,8% das escolas públicas brasileiras funcionavam sem ter banheiro e 2,6% sem nem sequer ter abastecimento de água.
Texto 2 – Base Nacional de Formação de Professores: diminuir retrocessos e construir futuros possíveis (Excerto)
Itamar Freitas (UFS) e Margarida Dias (UFRN) [Link para a publicação original]
Porta Grossa, 2022-03-03.
Quem não tem uma definição sobre o que seria um(a) bom(oa) professor(a)? É improvável que vivendo em sociedades que instituíram as escolas como formadoras das gerações futuras, cada um(a) de nós não tenha algo a dizer sobre isso.
Os governos expressam também suas opiniões em formas de leis, resoluções, prescrições, frutos por sua vez de camadas de diálogos e de disputas que reproduzem interesses de classes ou frações de classes sociais.
Consequentemente, também idealizamos a formação inicial de professores em nosso país. No início de novembro de 2019, foram exaradas as Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica. Desde a audiência pública a que foi submetido, ocorrida entre os meses de setembro e novembro de 2019,o documento recebeu uma nota -pedindo o arquivamento do Parecer – assinada por quase 40 entidades educacionais e de domínios científicos.
Entre nós, pesquisadores do ensino de história, faz dois anos que estamos discutindo o documento em eventos, reuniões, fóruns e em nossas entidades, revisitando novos e antigos desafios para a formação de professores de História. A consequência direta dessa nova Resolução é a revogação da resolução n. 02/2015 do mesmo Conselho Nacional de Educação, alterando composição das horas destinadas em um curso de Graduação a formação de professores.
Segundo essa nova composição, 800 horas seriam destinadas a componentes curriculares “de base comum de aprendizagem de conteúdos científicos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a educação”;1600 horas para os componentes curriculares “dedicadas a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas e componentes da BNCC e do domínio pedagógico desses conteúdos”; e 800 horas divididas igualmente entre situações de prática em situação real de trabalho (estágios, residências, monitorias etc.) e o restante em conteúdo do item anterior. O que salta aos olhos nessa proposta é a tentativa, antiga e usada em outros países, de produzir um curso geral de formação de professores com uma introdução geral às ciências da educação e o empenho em traduzir para o ensino na Educação Básica os princípios da Base Nacional Comum Curricular.
E isso é entendido pelos seus críticos mais contundentes como uma restrição da formação de professores a um treinamento para aplicação do que determina a BNCC. Em linguagem abstrata, significa adotar a Tekné em detrimento da Paideia.
O que nos provoca neste momento não é dizer se essa interpretação está correta ou não. A lista de questões de princípios deixados à revelia do tempo (do Estado e do Mercado) é longa. Vejam exemplos: quem deve dar a última palavra sobre currículos de formação de professor: o Estado, os docentes da educação superior, os docentes da educação básica, os especialistas em domínio científicos–em uma realidade onde a administração pública é o maior agente empregador? Quais os limites da autonomia universitária diante de Ministérios e Secretarias de Educação que gerenciam o sistema, financiando, inclusive, a formação de professores de História? Se os departamentos de História das Universidades podem construir os seus currículos, porque os departamentos pedagógicos das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação não podem demandar formação específica para os seus professores, que atuam sob demandas também específicas, muito distanciadas daquelas imaginadas e fornecidas pelos conselhos departamentais universitários? Se a maior parte dos docentes brasileiros são formados, inicialmente, no setor privado, porque mirar os currículos universitários como a chaga social da formação?
Pilquen. Buenos Aires, v.25, n.3, julio/septiembre, 2022.
Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales
ARTÍCULOS
- Sociohistoria de la asistencia en Argentina: desafíos de gestión, legitimidad gubernamental y modos de intervención estatal (1823-2019)
- Agustín Salerno
- Revisión bibliográfica sobre las temáticas en el estudio de las masculinidades y la salud sexual en adolescentes
- Lucas Urrutia
- Cimientos de la privatización educativa. Terrorismo de Estado, Responsabilidad Social Empresaria y Educación durante el gobierno de Mauricio Macri
- Nuria Giniger, Cinthia Wanschelbaum
- Catolicismo y peronismo en La Pampa: las memorias de un cura que estuvo preso
- Ana María T. Rodríguez, Mariana Funkner
- Entre la unidad y la fragmentación del mundo sindical en la Argentina neoliberal: la experiencia del Frente Estatal Rionegrino (1994-1996)
- Franco Emiliano Gutierrez
- Desafíos y orientaciones intelectuales de la sociología porteña en el período de entreguerras
- Esteban Ezequiel Vila
RESEÑAS
- Guy Mundlak. Organizing Matters. Two Logics of Trade Union Representation. ILERA Publication Series, International Labour Organization, 2020. 265 pp.
- Agustín Gotelli
Período julio/septiembre. Publicado 30/09/2022
PolHis. Buenos Aires, n.29, v.15, 2022.
Editorial
Artículos
- Iglesia, peronismo e interna partidaria en el acontecer de lo político (Río Cuarto, 3 de octubre de 1948)
- Rebeca Camaño Semprini
- html
- Reinventar la construcción política. Los peronistas de Mercedes (Buenos Aires), 1955-1966.
- Leandro Gervini
- html
- Paz y política. La comunidad católica neuquina frente al conflicto del Beagle y la guerra de Malvinas
- Andrea Belén Rodríguez, María Cecilia Azconegui
- html
- Solidaridad entre asalariados, informales y desocupados: cambios y continuidades en las fuentes de cohesión del peronismo (1990-2020).
- Marcos Novaro
- html
Comentarios sobre novedades bibliográficas
- Reseñas Breves
- Nayla Pis Diez, Luna Sofía Dobal, Aldo Avellaneda, Hernán Fernández, Noemí Goldman, Nicolás Motura, María Paula Rey, María Cristina Basconzuelo, Inés Quintero, Eugenia Molina, Juan Ignacio Quintián, Aníbal Jáuregui, Alejo Reclusa
- html PIS DIEZ
- html DOBAL
- html AVELLANEDA
- html FERNÁNDEZ
- html GOLDMAN
- html MOTURA
- html REY
- html BASCONZUELO
- html QUINTERO
- html MOLINA
- html QUINTIÁN
- html JÁUREGUI
- html RECLUSA
Publicado: 2022-09-29
Quirón. Medelin. Núm. Especial, 2022.
Memorias del XIX Encuentro de Estudiantes de Historia
Editorial
Memorias
- Un balón con comba violenta: el fútbol chileno durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1987)
- Pablo Alejandro Sierra Calderón
- El indio y la tierra. Civilización barbarie y conflicto agrario en el sur del Tolima, 1930-1944
- Daniel Felipe Sánchez López
- Empresas extranjeras y apropiación del territorio: inserción a la economía mundo, caso Colombia siglo XX
- Melissa Villegas Briceño, Carlos David Higuera Villalba, Andrés Leonardo Gómez Runcería
- El rechazo a la vagancia en el siglo XIX. Un acercamiento del fenómeno en Antioquia
- Leonardo Zapata Marín
- Se es como se come y se come como se es. Diferencias alimentarias en los sectores sociales de Bogotá, 1845-1885
- Karla Vanessa Téllez Garavito
- Ordenamiento territorial y políticas fiscales del Estado republicano: caso del cantón de Buga, capital de la provincia del Cauca, 1830-1853
- Paula Andrea Arteaga Rengifo
- Entre la policía y la barbarie. Traslado de los indios de Isimena en la provincia de los Llanos, 1782-1805
- Simón Flórez López
- El Santuario y el Oriente antioqueño a finales del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX
- Dina María Moreno Murillo
Publicado: 2022-09-29
Autoctonía. Santiago, v.6, n.2, julio/diciembre, 2022.
Editorial
In Memoriam
- María Victoria Castro Rojas (Santiago de Chile, 1944-2022)
- Javiera Carmona Jiménez
- EPUB
- Cristian Guerrero Yoacham (1936 – 2022)
- Patricio Ibarra Cifuentes
- EPUB
Dosier “Poblaciones indígenas e instituciones eclesiásticas, siglos XVI-XVIII”
- Poblaciones indígenas e instituciones eclesiásticas en los mundos ibéricos coloniales, siglos XVI-XVIII
- Nelson Castro Flores, Gerardo Lara Cisneros, Carolina Odone Correa
- EPUB
- “Y se guarde con ellos las leyes y ordenanzas para su buen tratamiento”: fray Tomás Ortiz, un caso ilustrativo del oficio de protector de indios en la gobernación de Santa Marta, 1529-1531
- Carlos Gustavo Hinestroza González
- EPUB
- María Sánchez y Fray Francisco Núñez de la Vega. Una India y su Obispo: Inquisición y Confesión
- Rosalba Piazza
- EPUB
- Una controversia en los Andes durante el siglo XVI: el pago de los diezmos por los indios
- Pedro Guibovich Pérez
- EPUB
- “En esta tierra todo es frialdad de espíritu”: Fray Miguel García Serrano, arzobispo de Manila, OSA (1620-1629)
- Alexandre Coello de la Rosa
- EPUB
- Los hombres del saber de indios y cristianos en los sermones de Francisco de Ávila (Lima, siglo XVII)
- Javiera Carmona Jiménez
- EPUB
- Idolatría y justicia regia en la Nueva España del siglo XVII
- Víctor Manuel Ávila Ávila, Cecilia López Ridaura
- EPUB
- Idolatrías en las frágiles fronteras nororientales del virreinato de la Nueva Granada, 1746-1764
- Natalia Silva Prada
- EPUB
- Los alféreces del cristianismo andino y su performance en los curatos andinos de Jujuy (siglos XVI-XVIII)
- Enrique Normando Cruz
- EPUB
- Advertir el parentesco espiritual. Compadrazgo, sociabilidad y redes de poder en Jesús de Machaca (corregimiento de Pacajes, Charcas, siglo XVII)
- Ariel Jorge Morrone
- EPUB
- Conflicto, negociación y religiosidad: relaciones entre curas y autoridades étnicas en la parroquia de Codpa, 1748
- Jorge Hidalgo Lehuedé, Camila Mardones Bravo
- 631-681
- EPUB
- La política de Manuel Rubio y Salinas hacia la población indígena del arzobispado de México: justicia, castellanización y cofradías (1749-1765)
- María Teresa Álvarez-Icaza Longoria
- EPUB
- Franciscanos en Valdivia, Chile (1769-1848). Prácticas de conversión y la civilización al interior de las misiones huilliches
- María Pía Poblete Segú
- EPUB
- Capillas familiares en estancias de pastoreo en la Puna de Atacama, Lípez y Tarapacá. Problemas y perspectivas para aportar a un estudio interdisciplinario de recintos religiosos
- Carolina Odone Correa, Carolina Rivet, Nelson Castro Flores, Francisca Urrutia
- EPUB
- Como pieles divinas: La convivencia de materiales, técnicas, imágenes religiosas y wak’as en trajes y máscaras festivas siglos XIX-XX
- Varinia Oros Rodríguez
- EPUB
Artículos
- Maternidades bajo sospecha: violencia y representaciones sobre abandono, infanticidio y aborto en la frontera, 1890-1935
- Yessica González Gómez
- EPUB
- Confrontación de ideas para una nueva sociedad: debates políticos y económicos en la izquierda argentina frente a la transición democrática (1986-1988)
- Ignacio Andrés Rossi
- EPUB
Reseñas
- Miguel Ángel del Arco Blanco y Claudio Hernández Burgos (eds.). Esta es la España de Franco. Los años cincuenta del franquismo (1951-1959), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020, 368 páginas.
- José Antonio Abreu Colombri
- EPUB
- Silke Jansen e Irene M. Weiss (Eds.), Fray Antonio Montesinos y su tiempo, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2017, 261 págs.
- Rita Poblete Caro
- EPUB
Publicado: 2022-09-27
Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana. v.16, n.1, enero/junio, 2022.
Portada e índice
Editorial
Comité Editorial
Artículos
- Estudios arqueológicos en el Museo Pueyrredón (San Isidro, Provincia de Buenos Aires). Excavaciones en la “Casa de Chacareros”
- Francisco Girelli, Alejandro Richard
- Un análisis a través de las redes sociales y noticias periodísticas sobre el detectorismo de metales en Argentina
- Micaela Grzegorczyk, Virginia Salerno
- Cultura material y narrativas históricas en la frontera chaqueña:El sitio “Fuerte de Cobos” (Campo Santo, Salta). Siglos XVII-XIX
- María Pilar García De Cecco, Carlos Ortega Insaurralde
Reseñas
- Reseña de “Mujeres del pasado y del presente. Una visión desde la arqueología peruana. Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos, 2021”
- Diana Catalina Acosta Parsons
PUBLICADO: 2022-09-26
O legado de Marte. olhares múltiplos sobre a Guerra do Paraguai | Marcello José Gomes Loureiro
Marcello José Gomes Loureiro | Imagem: Mondes Americains
Guerras são episódios traumáticos que marcam de maneira indelével países e populações. Por tratar-se do último grande conflito bélico platino e por sua extensão, dramaticidade e sanguinolência, a Guerra do Paraguai marcou a história das Américas. Dela quase todas as quatro nações envolvidas saíram prejudicadas, sobretudo o Paraguai, todas passaram por mudanças, tanto nas relações entre si, quanto nas suas vidas políticas e institucionais internas, e suas populações tiveram as vidas alteradas.
O Brasil não estava preparado para uma guerra de tamanha envergadura como a campanha contra o Paraguai, e teve que mobilizar às pressas a população para constituir um exército, transformando civis em combatentes. Além disto, o governo imperial teve que enfrentar uma série de desafios, militares, diplomáticos e de política interna. Os seis anos do conflito desviaram a atenção do governo das reformas internas; levou a enormes gastos com a luta, gerando um déficit público que persistiu até 1889; explicitou as contradições de uma sociedade que tinha a escravidão como principal instituição; colocou à prova elementos definidores das relações sociais e da cidadania e transformou o exército em importante agente político. Além disto, os historiadores são praticamente unânimes em considerar que a guerra marcou o princípio de erosão do sistema monárquico. Leia Mais
Utopias latino-americanas: política, sociedade, cultura | Maria Ligia Coelho Prado
Maria Ligia Coelho Prado | Imagem: Revista Pesquisa
O livro Utopias latino-americanas: política, sociedade, cultura, publicado pela editora Contexto em 2021, constitui-se não apenas em uma valiosa contribuição aos estudos acadêmicos especializados, mas também em uma obra acessível a um público leitor mais amplo, interessado pela história da nossa região. É organizado pela historiadora Maria Ligia Coelho Prado, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.2 Prado, que iniciou a docência em História da América em 1975, é também uma das responsáveis por estruturar a área no Brasil, por meio da orientação de gerações de historiadores – hoje professores em diferentes instituições pelo país – e de sua participação na fundação e organização da Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de História das Américas (ANPHLAC), a qual presidiu entre 1998 e 2000.3 Foi coordenadora do Projeto Temático/Fapesp Cultura e Política nas Américas: Circulação de Ideias e Configuração de Identidades (séculos XIX e XX), cujas atividades se estenderam entre 2007 e 2011, e primeira coordenadora do Laboratório de Estudos de História das Américas (LEHA) do Departamento de História da USP, entre 2009 e 2012.4 É autora e coautora de diversos trabalhos, que se tornaram referência dentro da produção historiográfica brasileira acerca das Américas, aos quais se soma esta nova contribuição, idealizada para comemorar seu aniversário de 80 anos.
Percorrendo o sumário do livro, dois aspectos nos surpreendem. Em primeiro lugar, o grande número de pesquisadores que Maria Ligia Prado conseguiu reunir, espalhados por universidades brasileiras e estrangeiras. Em segundo lugar, a variedade de “utopias latino-americanas” contempladas na obra, distribuídas em cinco diferentes seções e em 22 capítulos, que fazem jus ao título escrito no plural. A preocupação com os projetos utópicos que tiveram lugar na América Latina articula os capítulos do livro, dando-lhe um fio condutor que percorre as suas páginas. As múltiplas utopias exploradas nas cinco seções colocam em cena numerosos personagens, conectando espaços e temporalidades, desde o século XIX até o nosso tempo presente. O Brasil aparece em diversos capítulos, seja em perspectiva comparada com outros países, seja dentro das reflexões a respeito dos projetos de integração da região. Leia Mais
Repensando o Regime Vargas e seus desdobramentos | Antíteses | 2022
Detalhe de capa do número 19, da revista Anauê (1935-1937)
Os acontecimentos dos anos 1930, 1940 e 1950 geraram uma série de transformações políticas, econômicas, culturais e sociais na História do Brasil. A chamada Revolução de 1930 alijou parte da oligarquia que estava no poder há décadas, e uma elite dissidente o assumiu. Em 1932, uma guerra civil colocou frente a frente grupos que lutavam pela direção do país. Nos anos que se seguiram, o Brasil acentuou a industrialização, e o Estado iniciou um projeto político que objetivava a inserção do crescente operariado em sua órbita.
Nesse contexto, surgiram a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, com projetos distintos para formatar a nação. Getúlio Vargas procurou manter-se no poder e enfrentou antigos adversários políticos de 1930 e 1932, que retornaram ao país em 1934, vindos do exílio e querendo a desforra. Na Câmara dos Deputados, conforme a Constituição de 34, os trabalhadores tinham seus representantes, que denunciaram seguidamente a estratégia de controle utilizada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a repressão que o governo fazia contra a imprensa e o movimento operário independente. Leia Mais
Antíteses. Londrina, v.15, n.29, 2022.
Repensando o Regime Vargas e seus desdobramentos
Neste número encontramos, além dos artigos de fluxo contínuo, um dossiê organizado pelo grupo de pesquisa “Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos”, sediado na UERJ.
Expediente
Editorial
Artigos
- Leituras dramatizadas e diálogos sobre ensino de história antiga na Amazônia rondoniense em interface com a pesquisa-ação
- Adriane Pesovento, Cynthia Cristina de Morais Mota
- Trabalhadores professores em fotografias 3x4Perfis dos solicitantes de carteira profissional em Porto Alegre, 1933-1944
- Aristeu Elisandro Machado Lopes, Fernando Ripe, Mauro Dillmann
- O monopólio da violência no fascismo italiano.As Forças Armadas, a Milícia Fascista e as relações entre partido e Estado na Itália de Mussolini.
- João Fabio Bertonha
- Homo CorruptusPor uma história política de Libri Tres Adversus Simoniacos (c. 1058)
- Leandro Duarte Rust
- O lugar da aprendizagem histórica nos percursos de formação inicial do professor de história no Brasil
- Erinaldo Vicente Cavalcanti
- Exercendo Protagonismo RegionalA Política Externa Brasileira salvaguardando a independência e a consolidação do Estado surinamês (1975-1985)
- Iuri Cavlak
- Vivendo em um ‘pueblo de indios’Jesuítas e missões nas fronteiras do império
- Maria Cristina Bohn Martins
- Sociedades cientificas
- Apresentação: Repensando o Regime Vargas e seus desdobramentos
- André Barbosa Fraga, Mayra Coan Lago, Thiago Cavaliere Mourelle
- Interpretações sobre a Revolução de 1930História e historiografia
- André Barbosa Fraga, Mayra Coan Lago, Thiago Cavaliere Mourelle
- As tropas do governo provisório na guerra civil de 1932Formação, estrutura e historiografia
- Raimundo Helio Lopes
- Percursos da(s) anistia(s) no Regime Vargas (1930-1935)Da reabilitação política ao aproveitamento administrativo
- Raphael Peixoto de Paula Marques, Rafael Lamera Giesta Cabral
- Um jurista entre os extremosUma análise crítica da recepção de Brazil under Vargas (1942), de Karl Loewenstein
- Luis Rosenfield
- A Lei Agamenon e as eleições de 1945Um retrato político-partidário e eleitoral com o fim do Estado Novo
- Douglas Souza Angeli, Rafael Navarro Costa
Primeiros Passos
- “É por isso que mulher não deveria fazer engenharia”Um estudo de caso sobre formação e deslocamentos profissionais de engenheiras
- Andréa Cantarelli Morales, Eliana Rela, Gabriel Varreira Gasperin
- “Uma instituição a serviço do Brasil”O projeto intelectual do Instituto Nacional de Ciência Política (1940-1945)
- Veronica Vieira Martinelli
Resenhas
- PRADO, Maria Ligia Coelho (Org.). Utopias latino-americanas: política, sociedade, cultura. São Paulo: Contexto, 2021, 416p.
- Rafael Dias Scarelli
- Uma guerra, muitas histórias.
- Silvia Cristina Martins de Souza
Publicado: 23-09-2022
Fugitive Pedagogy: Carter G. Woodson and the Art of Black Teaching | Jarvis R. Givens
Jarvis R. Givens | Imagens: The Black Teacher Archive
Born in 1865 during the last years of the American Civil War, Carter H. Barnett was a teacher and the principal of Frederick Douglass School in Huntington, West Virginia, where he edited the West Virginia Spokesman and contributed to the state’s Black teacher association. Positioned on the edge of a tattered 1896 photograph, he stands to the right of fifty-some school children assembled in motley garb on the school steps, Garnett’s own studious dress and the hat held in his hand testament to his status as Principal of this six-room school.
In 1900 Garnett was fired after he alienated local white leaders by proposing a series of Black candidates for political office who were independent from the local Republican Party. His replacement, the beneficiary of the persistent vulnerability of Black educators and—likely unbeknownst to the white school board—his cousin, was Carter G. Woodson, now well-known and indeed lionized as the ‘Father of Black History Month.’ Barnett’s story is a particularly resonant instance of the many under-examined stories unearthed in Jarvis Givens’s Fugitive Pedagogy: Carter G. Woodson and the Art of Black Teaching. Utilising Woodson as a centripetal focus, Givens unveils the full tapestry of Black education life, juxtaposing the fortunes and misfortunes of a realm “always in crisis; always teetering between strife and hope and prayer” (p. 22).
Givens, an assistant professor at the Harvard Graduate School of Education, maps this liminal position by excavating a pedagogical heritage of ‘fugitivity’, following the insights of theorists including Édouard Glissant, Saidiya Hartman, and Nathaniel Mackey. Invoking Mackey’s conception of the “fugitive spirit” of Black social life more broadly (p. vii), Fugitive Pedagogy describes the everyday acts of subversion Black teachers employed to teach students about Black history and heritage amid “persistent discursive and physical assaults.” (p 34). As Givens takes pains to emphasise, these acts were not isolated episodes but instead “the occasion, the main event”, representing the visible aspects of an “overarching set of political commitments” that dated to the period of enslavement and continued to be anchored in celebrations of the folk heroism of the fugitive slave (p. 16). The fugitive slave’s example symbolised a space of existence outside of prescribed racial orders, where African Americans could collectively assert their capacity to be educated, rational, and human. In the words of Master Hugh from The Narrative of the Life of Frederick Douglass, a slave who knew how to write was “running away with himself” (p. 12).
A great strength of this analytic, as opposed to resistance or freedom, is to emphasise that Black educational efforts were always fated to struggle against centuries of legislation and beliefs that denied Black educability. Incorporating Achille Mbembe’s Critique of Black Reason, Givens suggests that this “chattel principle” that rendered African-descended peoples fungible property to be exchanged by slaveholders denied their potential rationality, catalysing subsequent antiliteracy laws (p. 10). Slaves were to have “only hands, not heads”, hence the declaration of legislation following 1739’s Stono Rebellion that “the having of slaves taught to write, or suffering them to be employed in writing, may be attended with great inconveniences” (p. 11). Locating Black educators in the ‘Afterlives of Slavery’, Givens thus suggests that to be Black and educated has always represented “an insistence on Black living, even amid the perpetual threat of Black social death” (p. 10).
Fugitivity also voices the affective and embodied natures of teaching, where classrooms underwent “aesthetic transformation… to defy the normative protocols of the American School” (p. 204). For Givens, education is corporeal, embodied, and freighted with emotional resonance, its putative impossibility under dominant racial scripts “etched into Black flesh” (p. 20). Conversely, miseducation and antiblack curricular violence are situated as symbiotic with physical violence, hence the frequent quotation of Woodson’s assertion “there would be no lynching if it did not start in the schoolroom.” (pp. 95-96). Thematically, Givens thus emphasises Black education as a learning experience, something recovered by trawling a “patchwork of sources” from a diverse archive to privilege the often understudied experiences of Black students themselves and uncovering that common contradiction between “what they said or wrote” (p. 20).
Givens’s “collage of fugitive pedagogy” (p. 24) is constellated around the “particular, emblematic narrative” (p. 4) of Carter G. Woodson (1875-1950), the author, historian, and founder of the Association for the Study of African American Life and History (ASALH). As opposed to echoing Jacqueline Goggin and Pero Galgo Dagbovie’s accomplished biographies of Woodson, Fugitive Pedagogy analyses Woodson in constant relation to the ASALH’s broader network of scholars to demonstrate how Woodson “inherited a tradition and then played a crucial role in expanding it” (p. 16). (1) By effectively dethroning Woodson, this networked approach paints a more expansive portrait than the patrilineal tendency to centre the individual achievements of this ‘father’ of Black Studies.
For example, Givens’s first chapter provides a fresh perspective on the already well-examined subject of Woodson’s life from 1875-1912 by emphasising his socialization into a vibrant pre-existing “black educational world” (p. 26). This deliberately privileges Woodson the teacher over Woodson the later scholar, highlighting how reading newspapers to the Civil War veterans he worked alongside in West Virginia’s coal mines and witnessing his teachers, frequently themselves formerly enslaved men, allowed Woodson to develop “a studied perspective on the distinct vocational demands of being a black teacher” (p. 26). Taking Woodson as emblematic of the first post-emancipation school generation thus stresses the continuities in Black education’s striving against a pre and post-emancipation antiblack social order, revealing how teaching the formerly enslaved consequently remained “an act of unmaking the terms of their relation to the word and world” (p. 35).
Chapter Two highlights how Woodson’s desire to denaturalize prevailing forms of scientific judgement found an “institutional embodiment” in the ASALH, one instance of Woodson’s wider designs to form a Black “counterpublic” (p. 71). Whilst this is also well-trodden ground, the fugitive pedagogy motif nonetheless helps to explain the Association’s shift from the interracial historical alliance conceptualized in 1915 to its more polemic form in the 1930s. This was, Givens argues, a direct response to the epistemological violence of racist films such as Birth of the Nation and the physical violence of contemporary race riots such as 1919’s ‘Red Summer.’ In a position of eternal vigilance, the Association was thus portrayed “standing like the watchman on the wall, ever mindful of what calamities we have suffered from misinterpretation in the past and looking out with a scrutinizing eye for everything indicative of a similar attack” (p. 62).
Chapter Three moves to embed Woodson in a distinct tradition of Black educational thought, a literature of educational criticism that sought to counter the disfiguring of Black knowledge within American public life. As opposed to emphasising the barriers preventing access into American schools and universities, Givens instead underscores the “epistemological underpinnings of education provided to those who made it past these barriers” (p. 97). Thus, Woodson’s Mis-Education of the Negro (1933) critiqued the “imitation resulting in the enslavement of his mind”, particularly from institutions like Harvard which rendered its students “blind to the Negro” and unable to “serve the race efficiently” (pp. 98-99). In the most theoretically expansive section of Fugitive Pedagogy, Givens articulates this Woodsonian critique of pedagogical ‘mimicry’ to the adjacent conceptions of several extra-American Black thinkers regarding the disfiguring of Black knowledge: Aimé Césaire’s ‘thingification’, Sylvia Wynter’s ‘narrative condemnation’, and Ngũgĩ wa Thiong'o’s ‘cultural bomb.’
Chapter Four too ballasts fugitive pedagogy in the remembrance of the Black fugitive as an “an archetype who symbolized Black people’s political relationship to the modern world and its technologies of schooling” (p. 128). This archetype indicates the wider use of Black historical achievements as models for present political action within textbooks that sought to vindicate Black intellectual and political life by recalling the full history of resistance within the Black diaspora. In this sense, Givens concludes, the Black textbook was “itself a literary genre inaugurated by runaway slaves” (p. 158). This tradition rendered curricular violence visible, distilling the possibility of resistance by evoking a Black aesthetic that situated subversion and defiance as long-standing threads of Black existence.
Chapter Five looks to connect Woodson to a cadre of Black schoolteachers. Adapting the term “abroad marriages”, originally applied to those enslaved who married those living on different plantations, Givens shows how Woodson the ‘abroad mentor’ utilised the Black press, the ASALH, and particularly Negro History Week to translate his ideas to school teachers, pausing along the way to examine the inequity in school provision and the restrictions on teaching they faced, particularly in the South. One notable example was the Negro Manual and Training High School in Muskogee, Oklahoma. In 1925 its Principal Thomas W. Grissom was forced to resign after officials found Woodson’s The Negro in Our History being taught, with the school board decreeing that nothing could be “instilled in the schools that is either klan or antiklan” (p. 168).
Finally, Chapter Six looks to centre students as “partners in [the] performance of fugitive pedagogy” by analysing biographical materials recounting the school days of prominent civil rights activists, politicians, and scholars including Angela Davis, John Lewis, and John Bracey (p. 199). Whilst subsequent activists are likely to be far from representative, Givens effectively emphasises the aesthetic ecology of the classroom and how the value systems undergirding school routines, rules, and projects including Negro History Week “inducted [students] as neophytes in a continuum of consciousness” (p. 222). This collection of visual narratives, Givens argues, formed an ‘oppositional gaze’, a disposition to question social technologies that perpetuated antiblack violence. The example of Congressman John Lewis is particularly resonant, as Givens shows Lewis prefiguring his later contribution to the sit-in movement by asking a public library in Troy, Alabama for library cards for him, his siblings, and his cousins despite their full awareness of the futility of this request.
If Fugitive Pedagogy has one weakness, it is the underplaying of intraracial differences inevitable within Givens’s artifice. Whilst Givens stresses that fugitivity is a variable practice, he asserts that “surely there are deviations, but they are not the concern here” (p. 16). Correspondingly, Fugitive Pedagogy makes no attempt to comprehensively trace variations in region, class, and gender. In a book of just over 300 pages, this is a pragmatic decision which avoids diluting the argumentative thrust. Yet consequential statements of intraracial equality are on occasion made rather too briefly. For example, Givens looks to identify the ASALH as “an intellectual project with Black Americans across age, class, and gender in mind,” defining his inclusion of gender here as a “careful assertion” (p. 84). Granted, Givens effectively illustrates that Black women consistently made up more than three-quarters of the profession and rose to prominent positions, with Mary McLeod Bethune becoming the ASALH’s President from 1936 to 1951. Yet this is not to say that Black women’s contributions were adequately recognised or recompensed, particularly given Patrice Morton’s suggestion that the ASALH failed to challenge many myths of Black womanhood prior to the late 20th century.(2)
Second, further research is needed to layer fugitive pedagogy into the full scope of Black institutional life, investigating how fugitive pedagogy translated to ancillary sites of education, including clubs, sporting societies, libraries, and churches. Givens consciously distances his argument from quantitative assessments of the inequality of educational provision yet this risks obscuring regional variations in resources and the vital ties between low wages, economic precarity, and professional vulnerability. Fugitive Pedagogy largely develops ‘upwards’ from individual acts of fugitivity, occasionally de-emphasising the institutional context. This means that readers hear little about mundane but vital factors including roofs, heating, lighting, desks, school grounds, teacher-pupil ratios, or the disproportionate private ownership of Black schools. With the firings of both Grissom and Barnett, Givens correspondingly emphasises the outcome rather than the process, occluding the logics and justifications of school boards and the pressures placed upon them by local (white) communities. Should an adequate archive exist, an ecological study focused on fugitive pedagogy within a single school would particularly flesh out Givens’s framework.
Third, given the roots of fugitive pedagogy in the discrete experience and memories of slavery, could other insurgent pedagogies employ fugitive practices? If not, there is a risk that the fugitive model shifts a further emotive and educative burden to Black teachers, compounding the long-standing tendency already recognised by Givens for Black teachers to double tax themselves to achieve liberatory ends. Givens suggests so, situating Black fugitive pedagogy as one discrete tradition within a broader genre of educational criticism that critiqued orthodox models of schooling, a purposive attempt to “leave room to consider… bodies of educational criticism by Native American educators and thinkers, Marxist educators, and feminist teachers and thinkers, among others who understand their political motivations for teaching to be in direct tension with the protocols and dominant ideology of the American school” (p. 251, cf.76). Further, recounting recorded acts of fugitivity necessarily underplays the longer slog of merely existing and making a living within white institutions, with all the undoubtedly uneasy cross-racial cooperation and interest convergence this entailed. When reckoning with this subject matter, any historian is condemned to see only the tip of the iceberg, only those acts visible in the archive through exorbitant chance and, more than often than not, only when refracted through the institutional memory of surveillance institutions. Whilst Givens has collected a vast archive of Black voices, there remains the risk of privileging more palpable disobedience over the dissemblances and circumlocutions which could allow Black teachers “wearing the mask” to articulate an activist ethos within the confines of objectivity.
These three areas for further investigation notwithstanding, Fugitive Pedagogy ultimately offers an engrossing reminder of the importance of collective education that is particularly resonant in the world of individualised algorithmic learning that followed the COVID-19 pandemic. Ambitious and theoretically virtuosic in exposition, magnetic and energizing in execution, the clarity of its theoretical interventions suggests that its broad brushstrokes will be imminently nuanced by other scholars empowered by the fugitive framework and its relevance to current pedagogical debates.
As the February 2022 victory of a diverse coalition against Indiana’s House Bill 1134 signals a growing resistance to anti-CRT legislation, Givens is particularly commendable for his insistence on Black education’s prescriptive moral force. A more diluted ‘anti-racist’ pedagogy within contemporary education that often tends towards the personal and psychological, towards diversity and inclusion, is cut short shrift compared to a progressive pedagogy that acknowledges the structural determinants of white supremacy. For Givens, education provides an alternative prospectus for living. If this may appear somewhat utopian, Fugitive Pedagogy at least provides a powerful argument for cross-professional solidarity between academia and schoolteachers. This will undoubtedly be furthered by Givens’s creation (alongside Princeton’s Imani Perry) of the Black Teacher Archives. As Givens notes, this disposition represents “an international refusal of contemporary trends where teachers are deprofessionalized in general and where black teachers in particular have been systemically alienated, often being positioned as unintellectual and nonpedagogical knowers” (p. 239).
Excavating Black education’s persistent fugitive ethos also emphasises that the ‘political’ education challenged by recent anti-CRT laws has only been rendered visible and legislatively-eradicable in proportion to white discomfort. Historicizing this ethos thus provides a warning against retreating to political ‘neutrality’ as such an option has never existed. Ultimately, Fugitive Pedagogy suggests that any pedagogy seeking to advance Black achievement is necessarily ‘political’, if only because the mere social fact of Black literacy confounds the founding principles of the American Republic.
To be sure, teachers in the present United States face their own dilemmas. Contemporary educators face not only an onslaught of anti-CRT legislation but also the dilemmas of retaining any activist impulse behind Black education within a racial liberalism that stresses the integration of Black history into multi-racial educational programmes disarticulated from the Black counterpublic sphere. As Givens recently recognised in The Los Angeles Review of Books: “We must also recognize… that [the] siloed inclusion of Black knowledge into mainstream institutions- often in defanged fashion- can only do so much to disrupt the self-corrective nature of said systems.” (3)
Jarvis Givens’s Fugitive Pedagogy places educational strivings at the heart of the Black freedom struggle, providing historians of the United States a digestible testament to the methodological interventions and activist orientations of recent historians of Black education. Suitable for both advanced undergraduates and the public, Givens’s work deserves a central role in syllabuses on the Black freedom struggle, the sociology of knowledge, and broader histories of resistance to educational domination. As the global education sector rebuilds following COVID-19, Fugitive Pedagogy cogently conveys this literature’s overwhelming emphasis on the virtues of disciplinary self-introspection and recovering shared professional heritages. If much of the fugitive tradition with its attendant varieties remains to be fully pieced out, Givens nonetheless articulates a grammar for struggle that can provide refortification to our own generation’s embattled teachers who choose to think otherwise. Teetering once more between “strife and hope and prayer”, Fugitive Pedagogy articulates a language that provides historical ballast for the present and argumentative weapons for the future.
Thomas Cryer (he/him) is a first-year AHRC-funded PhD student at University College London’s Institute of the Americas, where he studies memory, race, and, nationhood in the late-20th-century United States through the lens of the life, scholarship, and activism of the historian John Hope Franklin. [Twitter: @ThomasOCryer]
Notes
1 Pero Gaglo Dagbovie, The Early Black History Movement, (Urbana: University of Illinois Press, 2007) & Jacqueline Anne Goggin, Carter G. Woodson: A Life in Black History, (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1993).Back to (1)
2 Patricia Morton, Disfigured Images: The Historical Assault on Afro-American Women, (New York: Greenwood Press, 1991).Back to (2)
3 Jarvis Givens, ‘Fugitive Pedagogy: The Longer Roots of Antiracist Teaching,’ The LA Review of Books, August 18th, 2021.Back to (3)
Resenhista
Thomas Cryer - University College London.
Referências desta Resenha
GIVENS, Jarvis R. Fugitive Pedagogy: Carter G. Woodson and the Art of Black Teaching. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021. Resenha de: CRYER, Thomas. Reviews in History. Londres, n. 2465, sep. 2022. Acessar publicação original [DR]
As cores da masculinidade: Experiências interseccionais e práticas de poder na Nossa América | Mara Viveros Vigoya
Mara Viveros Vigoya | Imagem: America Latina Globa
Os estudos de gênero, em sua maioria, estiveram centrados nas mulheres. Desde os anos 1970, porém, os Estudos das Masculinidades vêm se consolidando como um novo campo de pesquisa. Em Cores da Masculinidade: Experiências interseccionais e práticas de poder na Nossa América, Mara Viveros Vigoya, ao investigar as masculinidades de um ponto de vista interseccional, traz novas e importantes contribuições para os estudos de gênero, em particular para as(os) estudiosas(os) que buscam enfatizar a dimensão relacional do conceito, a fim de investigar as dinâmicas de poder.
Ao centrarem nas condições das mulheres, as pesquisas feministas, em geral, deixam de lado as análises sobre o grupo social dominante. Para Mara Viveros, isso se dá pela denúncia do viés androcêntrico do conhecimento produzido sobre as mulheres, bem como por uma certa desconfiança em relação aos motivos do envolvimento dos homens nas lutas pelos direitos das mulheres. Feministas que pesquisam os homens, por sua vez, desafiam o senso comum segundo o qual gênero equivaleria às mulheres. Enfatizam, assim, que os homens são, também, constituídos pelo gênero, reconhecendo desse modo a dimensão relacional do conceito. Leia Mais
Cadernos Pagu. Campinas, n.65, 2022.
- Bastidores da produção do conhecimento feminista,a nova seção da cadernos pagu* Editorial
- Padovani, Natália Corazza; Simões, Julian; Feltrin, Rebeca
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Acendendo os prazeres da revisão por pares e da revolução a partir da putaria: Uma reflexão sobre “Andando entre cabarés: conhecendo os saberes da putaria” Bastidores Da Produção Do Conhecimento Feminista
- Murray, Laura Rebecca
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Andando entre cabarés: conhecendo os saberes da putaria* Artigo
- Clarindo, Adriely; Zamboni, Jésio; Martins, Rafaela Werneck Arenari
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Fabulação auto etnográfica – experiência e posição numa pesquisa sobre “prostituição de luxo* Artigo
- Lopes, Natânia
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Gerda Wegener y Lili Elbe: dos chicas danesas Artigo
- Morales, Ana Isabel Guzmán
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- A mulher do garimpo: o romance autobiográfico de Nenê Macaggi em Roraima* Artigo
- Mello, Januária
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Os acontecimentos de Ruth Guimarães (1920-2014): alcances e limites para uma intelectual negra em São Paulo Artigo
- Silva, Mário Augusto Medeiros da
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- O ardil feminino do pseudônimo: a “Colombina” de Yde Schloenbach Blumenschein Artigo
- Farra, Maria Lúcia Dal
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Da centralidade do sofrimento na militância feminista: entre disputas e estratégias Artigo
- Longhini, Geni Daniela Núñez
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Corpos duplamente dissidentes: a condição da migrante brasileira no Japão Artigo
- Matsue, Regina Yoshie
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- As Cores da Masculinidade: Experiências interseccionais e práticas de poder na Nossa América, de Mara Viveros Vigoya Resenha
- Ribeiro, Letícia
- Texto: PT
- PDF: PT
O que é preciso reter sobre a estrutura da BNCC
Expectativas em profusão | IF/IA/Midourney (2023)
Colegas, segue um rápido esquema do que é preciso reter sobre a estrutura da Base Nacional Curricular Comum para efeito de exposição rápida.
Definição/finalidade
É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. (p.7)
Bases legais
Homologada nos anos 2017 (EN) e 2018 (EM), a BNCC cumpre prescrições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-1996), do Plano Nacional da Educação (PNE-2014) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCN-2013).
Estrutura
A BNCC é estruturada em fins (apontados acima), competências gerais, competências de área e, dentro de cada área, objetivos de aprendizagem para componentes curriculares dos anos iniciais, finais e do ensino médio, direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil, campos de experiência para a educação infantil e objetivos de aprendizagem para a educação infantil.
Esses elementos estruturantes (competências, áreas, campos e objetivos) estão dispostos em progressão, desde o mais abstrato para o mais concreto. Os primeiros generalizam e os segundos especializam. Assim, por exemplo, os direito de aprendizagem (mais gerais) são aplicados segundo campos que, por sua vez, são traduzidos (aplicados) mediante enunciados cada vez mais concretos e especificados (com informação dos sujeitos/alvo, dos tempos e espaços a serem aplicados e das qualidades com as quais as aprendizagens devem ser desenvolvidas.
Exemplo de competência geral
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.(p.9)
Exemplo de competência de área (Língua Portuguesa)
Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. (p.85)
Exemplo de objetivo de aprendizagem de componente curricular (Língua Portuguesa)
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. (p.93)
Exemplo de direito de aprendizagem para a educação infantil
Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. (p.36)
Exemplo de campo de experiência para a educação infantil
O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando- se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos
Exemplo de objetivo de aprendizagem para campo de experiência
(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. (p.43)
Cada enunciado de objetivo de aprendizagem é anunciado por um código que indica sua proveniência e aplicabilidade.
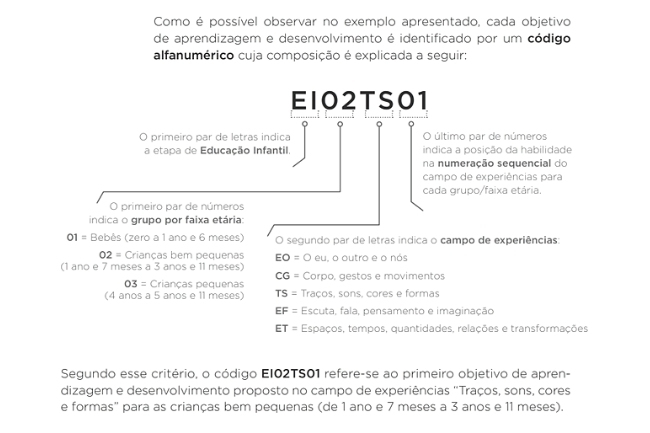
Conclusão
Espero ter deixado claro que o conhecimento mínimo sobre a BNCC envolve a retenção da sua função social, dos seus fundamentos legais e da sua constituição em competências geral e de área e em expectativas de aprendizagem (ou objetivos de aprendizagem) de área e de componente curricular. Sem o domínio desses elementos, dificilmente você avança no sentido de compreender a BNCC, identificar as suas insuficiências, aplicá-la e desenvolvê-la em situações didáticas não demandadas pelo legislador.
Para citar este texto
FREITAS, Itamar. O que é preciso reter sobre a estrutura da BNCC. Resenha Crítica. Aracaju/Crato, 19 set. 2022. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/estrutura-da-bncc/>.
Los feminismos ante el islam: el velo y los cuerpos de las mujeres | Ángeles Ramírez Fernández e Laura Mijares Molina
Detalhe de capa de Los feminismos ante el islam: el velo y los cuerpos de las mujeres
La reflexión sobre el velo y las mujeres musulmanas para los feminismos españoles, y europeos en general, viene siendo desde los últimos años uno de los dilemas morales y políticos más recurrentes, tanto en el ámbito de los movimientos sociales, como en el de la academia, así como en otros espacios híbridos en los que uno y otro se relacionan con mayor o menor éxito. Por ello, plantear una reseña sobre Los feminismos ante el islam: el velo y los cuerpos de las mujeres (Ángeles RAMÍREZ FERNÁNDEZ; Laura MIJARES MOLINA, 2021) es también acercarse a este dilema si se parte desde una ambigua posición que bascula entre la de hombre blanco, occidental y académico, y otra determinada por el respeto a la diversidad y la “asunción” de muchos de los fines perseguidos por algunos movimientos de la galaxia feminista, antirracista, anticapitalista, autónoma y libertaria.
Partiendo de ello, y siguiendo la proclama epistémica y activista de las autoras de hablar “más de racismo y de islamofobia, y menos de hiyab” (RAMÍREZ FERNÁNDEZ; MIJARES MOLINA, 2021, p. 15), el pañuelo – esa prenda de vestir que interesadamente ha dado tanto de qué hablar – ha sido la mejor evasiva para ocultar y reproducir el racismo y a su vástago islamófobo. En este orden, la violencia ejercida hacia las mujeres racializadas o culturalmente racializadas es violencia estructural pues viene reforzada y legitimada tanto por el sistema racista como por el sistema patriarcal. Es violencia racista con marca de género, pero también es violencia machista con marca racista. Incluso cuando la ejercen mujeres blancas, pues lo hacen legitimadas y alentadas por “los mecanismos de las desigualdades racistas” (Brigitte VASALLO, 2016a). La instrumentalización de las mujeres musulmanas a través del fetichizado pañuelo relaciona esta cuestión con el racismo y la islamofobia, lo que permite hablar, por tanto, de “racismo antiárabe” (Houria BOUTELDJA, 2017; Daniel GIL-FLORES, 2019), y más específicamente para el caso español, de su correlato del “racismo antimoro” o “antimagrebí”, que vincula esta forma de racismo con “la historia colonial española, la construcción del sujeto racializado moro, sus mutaciones a lo largo de la historia, el papel que juega dicha construcción y mutaciones en la formación de la identidad nacional española” (Salma AMZIAN, 2016)1. Es decir, existe una relación entre la “morofobia” de la España moderna y la islamofobia de la España contemporánea (Alberto LÓPEZ BARGADOS, 2016). Por otro lado, aseverar que el mayor problema de las mujeres musulmanas es la opresión machista y cultural a las que se ven sometidas, no sólo oculta la explicación racista, sino que las rebaja a objetos de estudio y análisis a los que se les extrae su condición humana convertidas en sujetos de interés mediático, de forma que se utiliza la violencia que sufren para ejercer violencia sobre la población musulmana en general, lo que contribuye a reforzar un imaginario que construye al musulmán como machista, violento, misógino (Sirin ADLBI, 2016). En este sentido, las mujeres musulmanas y las leídas como tales son percibidas como sumisas, víctimas de sus respectivos “patriarcados indígenas” de los cuales hay que liberarlas, por lo que la violencia que recae sobre la mujer musulmana, también lo hace sobre el hombre musulmán, y viceversa, pues son vistos como un conjunto, nunca como individuos autónomos (AMZIAN, 2016). Se trata, en definitiva, de un heterogéneo corpus de discusiones acerca de cómo son y deben ser las mujeres musulmanas que han acompañado a los debates feministas en diversos contextos, en los cuales el pañuelo ha aparecido recurrentemente. En palabras de sus autoras, este libro pretende “analizar cómo han bregado los feminismos con la cuestión del pañuelo y con las mujeres musulmanas en diferentes contextos” (RAMÍREZ FERNÁNDEZ; MIJARES MOLINA, 2021, p. 16). Leia Mais
Gênero & Interdisciplinaridade | Luciana Rosar Fornazari Kanovicz
Luciana Rosar Fornazari Kanovicz | Imagem: Unicentro
A coletânea Gênero & Interdisciplinaridade organizada por Luciana R. F. Klanovicz (2020) inaugura a coleção “Desenvolvimento Comunitário e Interdisciplinaridade”. O livro reúne investigações e experiências de diversas/os pesquisadoras e pesquisadores brasileiras/os de variadas áreas do conhecimento que adotam perspectivas interdisciplinares a partir das quais a categoria gênero é discutida.
O volume está dividido em 16 capítulos, além de sua introdução, que assumem premissas teórico-metodológicas distintas e, ao mesmo tempo, imbricam-se, dialogando entre si e problematizando as relações de gênero em diversos campos ou segmentos da sociedade brasileira – no meio rural, nos espaços institucionalizados das universidades, em museus, no sistema prisional, no sistema de saúde e na mídia. Leia Mais
Kurdish Women’s Stories | Houzan Mahmoud
Embora pouco conhecido no Brasil, o povo curdo é um dos maiores povos sem Estado do mundo. Formado por aproximadamente 40 milhões de indivíduos, essa comunidade étnica encontra-se dividida entre os Estados da Síria, da Turquia, do Irã e do Iraque; além das mais de cinco milhões de pessoas dispersas na diáspora – sobretudo nos Estados Unidos e em países da Europa central, como a França, Alemanha, Bélgica e Holanda.
Apesar dos diversos levantes nacionalistas e da autonomia relativa conquistada nos territórios no Iraque, o Curdistão jamais conseguiu se unificar e se tornar independente. Diante disso, as populações curdas, autóctones dessa região, foram sendo violentamente assimiladas e sistematicamente negadas pelos processos de formação dos Estados-nação que ocupam o seu território. Leia Mais
Etnografía de los mercados reproductivos: actores, instituciones y legislaciones | Ana María Rivas Rivas
Ana María Rivas Rivas | Imagem: ReasAragón
Se as tecnologias reprodutivas foram criadas originalmente (em 1978) para tratar da infertilidade de casais heterossexuais cis, hoje as técnicas são acessíveis a diferentes grupos de pessoas (lésbicas, gays, pessoas sem parceiro), que desejam constituir um projeto materno/paterno de filiação em solitário ou em casal homossexual, independente, portanto, de uma condição de saúde. A estes se aplica o termo infecundidade estrutural, por não fazerem uso do método convencional de reprodução (relação sexual) e não possuírem problemas de fertilidade (Fernando LORES MASIP; Ana María RIVAS; María Isabel JOCILES, 2020, p. 213).
Esta expansão das tecnologias pode ser compreendida a partir dos avanços na própria reprodução humana assistida, no reconhecimento do direito a maternidade/paternidade de outros grupos sociais e de mudanças na demografia contemporânea e na estrutura familiar (Melinda MILLS; Ronald RINDFUSS; Peter MCDONALD; Egbert VELDE, 2011). Leia Mais

































