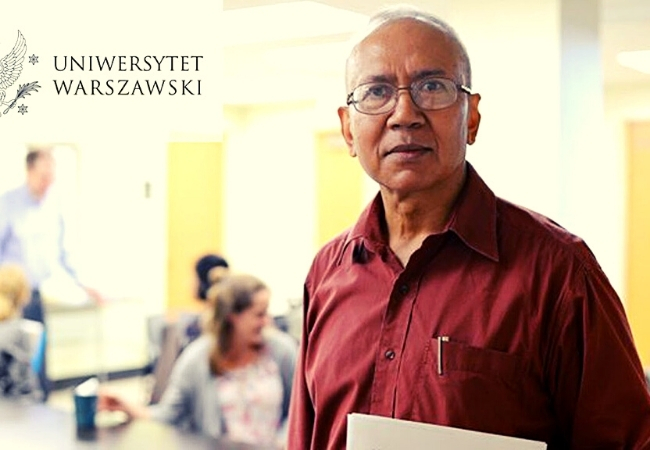Movilidad social y sociedades indígenas de Nueva España: las elites/ siglos XVI-XVIII | Solange Alberro
La magistral pluma de Solange Alberro nos deleita nuevamente con un texto de controversia, inteligente, informado y de una gran actualidad. En él nos muestra a los indios coloniales, en especial a los grupos dirigentes, como sujetos a una gran movilidad y no como entes pasivos y sufrientes. El libro es una muestra de la dificultad de utilizar el término indio como una categoría de análisis. Aunque en la época dicha palabra era comúnmente usada por las autoridades españolas, Solange Alberro postula la necesidad de enmarcar el problema del indio dentro de las clasificaciones sociales de la época: estamento, nación, corporación. Desde fechas muy tempranas, los indígenas se insertaron en el esquema jurídico y social español, dentro del sistema que dividía a la sociedad en clérigos, nobles y plebeyos; por otro lado, las personas se distinguían a partir del término nación, bajo el cual diferentes grupos humanos se definían básicamente por la lengua (zapotecas, vascos, otomíes, gallegos), aunque estaban jurídicamente sujetos a entidades políticas mayores (reinos e imperios); por último, se consideraba a los individuos insertos en esquemas corporativos por medio de los cuales ejercían sus derechos (como el sufragio para elegir a sus representantes) y cumplían con sus obligaciones bajo la normatividad de estatutos y constituciones. Las comunidades indígenas no sólo se organizaban como corporaciones cuyos cabildos las representaban, sus miembros también pertenecían a diversas cofradías y hermandades, formando cuerpos sociales diversos. Sin negar la situación de miseria y marginación de la mayor parte de los macehuales, el sistema español homologó a todas las poblaciones campesinas indígenas bajo el esquema de los comuneros europeos. Sin embargo, no todos los denominados “indios” eran campesinos. Leia Mais
Colonial cataclysms: climate/landscape/and memory in Mexico’s Little Ice Age | Bradley Skopyk
Difícilmente podríamos decir que el clima es una novedad para las ciencias históricas, en especial cuando los estudios abarcan el mundo agrario. En el caso de la literatura sobre el espacio que hoy conforma el territorio mexicano, desde fines del siglo pasado podemos encontrar historiadores y arqueólogos realizando análisis que involucran eventos de sequías, heladas, sedimentación e inundaciones. Aunque estos antecedentes no han desembocado en una historia del clima con la misma expresión que tienen otros tipos de abordajes y narrativas, lo cierto es que en los últimos años aquellos especialistas atentos a las variables y variabilidades climáticas han logrado identificar y/o replantear problemáticas que antes eran vistas desde un mareante antropocentrismo. Asimismo, sus estudios producen cada vez más metodologías nuevas para sacar e interpretar datos climáticos (proxy data) presentes en los archivos o producidos por otras ciencias. Es justo en este presente historiográfico, y en diálogo con él, que vino a luz el libro Colonial Cataclysms: climate, landscape, and memory in Mexico’s Little Ice Age, escrito por el historiador Bradley Skopyk.
Colonial Cataclysms es un estudio con la mirada puesta sobre México central durante el dominio ibérico y constituye una aportación mayúscula a la historia de la región analizada y un acercamiento novedoso a los procesos ocurridos en el marco de la Pequeña Era del Hielo (PEH en adelante). Con base en una serie de variaciones climáticas elaborada por el autor mediante la correlación entre las dinámicas del clima, los conocimientos morfodinámicos, estudios dendrocronológicos y el archivo, este trabajo se desarrolla a partir del argumento de que entre principios del siglo XVI y fines del siglo XVIII, México central vivió una etapa de flujo ambiental, social y político directamente vinculada a la existencia de dos cataclismos. Según el autor, estos cambios abruptos tuvieron orígenes diferentes y sus rasgos quedaron incrustados en el paisaje físico y documentado. Mientras el primero, de carácter más climático, se conformó a partir de una fase de la PEH que se prolongó hasta fines del siglo XVII y se caracterizó por picos de humedad y bajas temperaturas, el segundo tuvo una manifestación más geomórfica, distinguiéndose por una rápida transformación del campo, donde los paisajes palustres fueron sucedidos por otros de laderas áridas y valles sedimentados y disecados. Leia Mais
Êxitos e fracassos: a circulação de pessoas, práticas e conhecimentos nos mundos ibéricos, séculos XVI-XVIII | Tempo | 2022
Rendição de Granada (1492). Cena retratada na obra de Francisco Pradilla y Ortiz, 1882. | Imagem: Pinterest
Nas últimas décadas, os estudos sobre a circulação de pessoas, conhecimentos, modelos jurídicos, políticos e valores econômicos têm sido um dos principais eixos da transformação da história moderna e colonial, incluindo os americanismos e hispanismos europeus e anglófonos. As contribuições fundamentais centraram-se em questões sobre a circulação de pessoas no contexto da expulsão de grupos marcados pela sua confissão e raça, a migração de escravos e cativos (Vincent, 2004, 2008, 2010; Kagan e Morgan, 2009; Martínez Montiel, 2004, 2012; Seijas, 2014; Valenzuela, 2015; Ruiz Ibáñez e Vincent, 2018; Oropeza, 2020, Schaub e Sebastiani, 2021), a lógica financeira e social das diásporas (Smallwood, 2007; Kagan e Morgan, 2009; Vincent, 2015; Trivellato, 2019; Sousa, 2019), a mobilidade do pessoal administrativo das monarquias europeias e os seus efeitos sociais e econômicos (Dedieu, 2005; Schaub, 2014; Esteban Estríngana, 2012; Pardo Molero e Lomas Cortés, 2012), as delegações territoriais nas cortes régias (La Monarquía…, 1998; Mazín, 2007, 2017; Álvarez-Ossorio, 2016; Herrero Sánchez, 2019; Mauro, 2021; Gaudin, 2017b), a itinerância como fundamento da nova nobreza (Muto, 2015; Yun Casalilla, 2009). De forma quase simultânea, multiplicaram-se os estudos sobre informação e comunicação política (Brendecke, 2016; Fragoso e Monteiro, 2017), circulação da lei e da justiça (Barriera, 2017, 2019; Cunill, 2015), formação de modelos culturais transregionais ou transoceânicos (Heywood e Thornton, 2007; Brook, 2009; Gerritsen e Riello, 2021), assim como a reinterpretação de missões e missionários como conectores de mundos distantes (Palomo, 2016; Romano, 2016; Sachsenmaier, 2018; para citar alguns dos exemplos mais interessantes). Leia Mais
Los ingenios del pincel. Geografía de la pintura y la cultura visual en la América colonial | Jaime Humberto Borja Gómez
Jaime Humberto Borja Gómez | Imagem: Banrepecultural
Los siglos XVI, XVII y XVIII se presentaron como una bisagra entre dos mundos. Uno, ensamblado sobre una cultura oral que daba prelación a la retórica; otro, el del fortalecimiento de una cultura escrita ligada al surgimiento de la imprenta. El texto de Jaime Humberto Borja, Los ingenios del pincel. Geografía de la pintura y la cultura visual en la América colonial, entronca directamente con este contexto, no solo por la temática que aborda a lo largo de sus 577 páginas, sino también gracias a que su obra, tal como les ocurrió a muchos pensadores de los siglos XVII y XVIII, descansa sobre una transformación cultural: el tránsito de la cultura escrita a la cultura digital.
La asociación planteada por el autor entre el desarrollo de las nuevas tecnologías y la investigación histórica, reposa aquí sobre dos pilares: uno, el uso de una fuente visual digital, y otro, el de la configuración de un e-book que, al romper con la linealidad de lo escrito, conecta las nuevas tecnologías con la investigación académica. El resultado plantea de entrada una posible salida al uso de lo digital en el marco de las humanidades, problema que ya ha supuesto para las ciencias sociales un álgido debate en lo tocante tanto a la catalogación de los nuevos contenidos web, como a la definición del concepto mismo de fuente histórica, resignificado tras la explosión digital. La complejidad del debate, registrada por el autor en su texto (85-86), ha determinado una lenta vinculación de las metodologías propias del quehacer historiográfico con lo digital. Conceptos como big data, comunicación multimedial y multimodal, o coleccionismo digital aparecen registrados como parte de esta renovación de las humanidades, reconfiguradas ahora bajo el signo de lo que se ha denominado humanidades digitales y, particularmente, historia digital (86). Leia Mais
Morir de amor. Violencia conyugal en la Nueva Granada. Siglos XVI al XIX | Mabel Paola López Jerez
Mabel Paola López Jerez | Imagem: Unal
Morir de amor. Violencia conyugal en la Nueva Granada. Siglos XVI al XIX es un libro de historia destinado al público general, en el cual la autora se interesa por mostrar las formas consuetudinarias de violencia conyugal y las transformaciones que comenzaron a darse en el siglo XVIII en el territorio de la Nueva Granada. La intención explícita de difundir esta obra en un amplio público tiene que ver con hacer más visibles las secuelas y las consecuencias que aún perduran en el trato conyugal, particularmente en las agresiones a las mujeres.
La hipótesis central del texto es que las nuevas ideas del discurso ilustrado sobre las capacidades de “individuación” y raciocinio de la mujer, así como en torno a la armonía que debía primar en el hogar, obraron cambios en las actitudes y las acciones contra la violencia conyugal. Estos nuevos modos de pensar sostuvieron un contrapunteo con la tradición imperante sobre el matrimonio, la autoridad del marido, la naturalización del castigo y el ideal de perfección de la mujer. Para la investigación resulta primordial la propuesta de que los cambios no se dieron de igual manera en todos los estamentos sociales y que estuvieron en relación directa con el conocimiento y la adscripción de los sujetos en torno a los nuevos preceptos racionalistas. No es el primer estudio en el que la autora incursiona en la violencia conyugal, pues viene antecedido por otros que se preocupan por el maltrato físico, el castigo, el matrimonio y el miedo a la mujer1 Leia Mais
Mulheres no Reino e do Império: aproximações e singularidades (séculos XVI ao XVIII) | M. M. Lobo de Araújo, E. C. D. Fleck
É inegável o espaço consolidado pelas categorias género e mulheres na teoria e conceptualização da história. O estudo das mulheres na longa duração estabeleceu uma metodologia baseada na indagação e crítica de fontes de diversas proveniências, tipologias e suportes, maioritariamente produzidas por pessoas do género masculino no contexto de sociedades patriarcais. O questionamento colocado à história é político e tem a invisibilidade como ponto de partida: qual o papel do género feminino no desenvolvimento das sociedades humanas? A pergunta mantém-se pertinente. O conteúdo das respostas tem acompanhado a evolução do movimento feminista e a consolidação da universalidade do direito à instrução que, nas democracias liberais, diversificou os públicos das universidades. Leia Mais
Poblaciones indígenas e instituciones eclesiásticas en los mundos ibéricos coloniales, siglos XVI-XVIII/ Autoctonía. Revista de Ciencias Sociales e Historia/2022
Entre los siglos XVI y XVIII, las instituciones eclesiásticas impactaron en las dinámicas socio-culturales de las poblaciones indígenas en los mundos ibéricos coloniales. ¿Por qué instituciones eclesiásticas y no Iglesia colonial? El énfasis que se coloca en las instituciones eclesiásticas retoma los cuestionamientos planteados a la concepción de la Iglesia como entidad jurídica-política diferenciada en las sociedades del Antiguo Régimen. De acuerdo con Di Stefano, en estas: Leia Mais
Political Thought in Portugal and Its Empire/ c. 1500-1800 | Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro
Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro | Imagens: Goodreads Goodreads
1A publicação deste livro é, sem dúvida, um acontecimento editorial que merece ser assinalado. Trata-se de uma seleção criteriosa de textos fundadores do pensamento político em Portugal na era moderna (c. 1500-1800), precedida de uma cuidada e esclarecedora introdução de enquadramento interpretativo que também serve para justificar a razão e a oportunidade da sua tradução e publicação em língua inglesa. A introdução e organização editorial do livro são de autoria de Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro que, deste modo, acrescentam às suas importantes contribuições de análise histórica do período em apreço um relevante serviço de divulgação de fontes primárias que apenas têm estado acessíveis, na sua quase generalidade, a leitores de língua portuguesa. A tradução e edição crítica de tais textos fundadores possibilita, a um público internacional alargado, o conhecimento de alguns dos principais protagonistas do debate político em Portugal nos séculos XVI a XVIII, da sua articulação ou diálogo (implícito ou explícito) com autores de referência no quadro europeu e da especificidade dos problemas de ordem institucional, social e política que emergem no contexto da monarquia portuguesa e do seu espaço imperial.
Leia Mais
Public Opinion in Early Modern Scotland/ c.1560–1707 | Karin Bowie
This is Karin Bowie’s second book about the history of public opinion in Scotland. Her first, in 2007, examined the period 1699-1707 in depth, covering the debate leading up to the Union of Parliaments.(1) The present book deals with a longer period, and has no single focus like the Union. Instead it discusses a larger range of political debates – and some religious debates, at least to the extent that these affected politics. Nevertheless, the questions driving the new book are similar. What was ‘public opinion‘, and how was it expressed? Or, what were people’s opinions, and how did they express them? The ‘public’ is never a singular thing that has a single opinion. Bowie’s book is thus about debate, and about processes of debate.
When historians discuss public opinion, what often interests us is the balance of opinion on debated topics. Was a given topic ‘popular’ or ‘unpopular’? Would a majority of the population have voted for or against (say) the Reformation at the time when it was being proposed? Historians of the early modern period cannot conduct opinion polls, but we recognise that the opinions that such polls would have measured did exist in some way. When we write of the ‘popularity’ of the Reformation, or indeed of its ‘unpopularity’, we are making statements that are to some extent psephological. Leia Mais
“Para que estén a punto con sus armas para lo que se ofreciere”: indios en la defensa del suroriente cubano/ siglos XVI-XVIII | Lilyam Padrón Reyes
La historiadora Lilyam Padrón Reyes es doctora en Historia por la Universidad de Cádiz y profesora de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte en la misma institución. Sus temas de interés están centrados en la historia marítima e historia social, enfocándose en la representación del espacio cultural marítimo como parte de las dinámicas globales que tendrían inicios durante la época moderna especialmente entre Andalucía y América. En su texto Para que estén a punto con sus armas… la autora hace evidente su interés por esas líneas temáticas ubicando geográficamente al lector en la isla de Cuba, un sitio constantemente disputado en el Caribe por su valor geoestratégico para la corona española durante el siglo XVIII. Leia Mais
Imprimir en Lima durante la colonia. Historia y documentos, 1584-1750 | Pedro Guibovich Pérez
Pedro Guibovich Pérez | Foto: En los bordes del Archivo
 Bajo la rúbrica de Pedro Guibovich Pérez, reconocido historiador del libro en el ambiente limeño, ha aparecido esta obra, la cual, en pocas palabras, describe el funcionamiento de la imprenta en Lima y valora su impacto, en medio de las políticas reales y eclesiásticas, en dos rasgos: la localización del saber y el control por las autoridades virreinales.
Bajo la rúbrica de Pedro Guibovich Pérez, reconocido historiador del libro en el ambiente limeño, ha aparecido esta obra, la cual, en pocas palabras, describe el funcionamiento de la imprenta en Lima y valora su impacto, en medio de las políticas reales y eclesiásticas, en dos rasgos: la localización del saber y el control por las autoridades virreinales.
Dos secciones componen esta publicación: “Estudio preliminar” y “Apéndice documental”. En la primera se nos presenta lo que se sabe y lo que falta por estudiarse de la historia de la imprenta —como fenómeno social y cultural— que funcionó en la capital del virreinato del Perú, desde las gestiones previas a su instauración hasta mediados del siglo xviii. Para ello, Guibovich hace uso de fuentes notariales, específicamente de contratos convenidos entre diferentes actores editoriales (corpus principalmente transcrito en la segunda parte), de los paratextos disponibles en impresos limeños y del desarrollo del estudio del libro en España. Luego de breves reflexiones en torno al corto y lejano eco que ha tenido la disciplina de la historia del libro en el Perú, narra el arribo y asentamiento en Lima de Antonio Ricardo, italiano radicado en Nueva España, destinado a ser el primer impresor en tierras sudamericanas. Su llegada se dio en 1581, antes del alza de la veda de impresión de textos en el virreinato andino. Una de las urgencias por dar la bienvenida a Ricardo era la adecuación de la evangelización a los rasgos culturales de las poblaciones indígenas, interminable empresa que vio en la prensa una aliada indispensable. Los misioneros —sobre todo los jesuitas, que tuvieron un rol clave en los primeros concilios limenses— debían disponer de material básico en lenguas nativas que no tuviese errores de composición. En ello resonaban las enseñanzas del Concilio de Trento, las cuales marcaron un cambio en la preparación y labor de los sacerdotes por medio de una formación estandarizada que, para el Perú, adquirió características locales gracias a la imprenta. Aquí sale a flote uno de los aportes de la imprenta: contribuyó a materializar y uniformizar un saber necesario para la instauración de planes prioritarios de los sectores dominantes del virreinato. Leia Mais
Formulário médico. Manuscrito atribuído aos jesuítas e encontrado em uma arca da igreja de São Francisco de Curitiba | Heolisa Meireles Gesteira, João Eurípedes Franklin Leal e Maria Claudia Santiago
A interpretação e a materialidade de manuscritos da Época Moderna, conforme a preposição “da” atrás empregada, procura ressaltar que os manuscritos a serem analisados são provenientes do período situado, grosso modo, entre os séculos XVI e XVIII. Não raro esses textos chegam ao presente experimentando autorias diversas, além de intervenções de copistas, proprietários, restauradores e leitores. Portanto, os manuscritos não deveriam ser percebidos hoje como se estivessem simplesmente “na” Época Moderna – eis aí a sutil diferença. A perspectiva vincula-se ao tema da materialidade social, uma apropriação do trabalho de Donald McKenzie sobre a bibliografia entendida como sociologia dos textos (MCKENZIE, 2018). Os textos, enquanto tecidos com textura (conforme a origem latina das palavras), sejam manuscritos ou impressos, possuem uma materialidade a ser estudada. Mas sua matéria é também social e histórica, a ser considerada na análise de um artefato proveniente de outro tempo, que passa por metamorfoses até chegar ao momento atual. Decorre daí a importância de se abordar nas pesquisas o percurso dos documentos – manuscritos ou impressos – em meio a arquivos particulares ou públicos. É fundamental também lidar com as diferentes leituras, por vezes expressas no próprio corpus documental, do objeto, mediante comentários, anotações nas margens etc., ou quando os manuscritos são transcritos, editados e impressos em forma parcial ou integral e passam a ser comentados por leitores vários, assumindo divulgação mais ampla por meio de publicações. Leia Mais
La solución del enigma botánico de las quinas. ¿Incompetencia o fraude? | Joaquín Fernández (R)
Cinchona calisaya. Ilustração do botânico alemão Hermann Adolf Köhler (séc XIX) e sua casca (à dir.) | Foto: QNI – SBQ |
 En historia de la ciencia, es difícil hacer aportes originales sobre temas muy analizados. Es el caso de la historia de las quinas, Cinchona spp., plantas medicinales sobre las cuales se han escrito miles de documentos. Si se hace una búsqueda en Google Scholar usando los términos “historia + Cinchona”, aparecen cerca de cinco mil documentos. En inglés son más de treinta mil, y, en francés, más de dos mil referencias.
En historia de la ciencia, es difícil hacer aportes originales sobre temas muy analizados. Es el caso de la historia de las quinas, Cinchona spp., plantas medicinales sobre las cuales se han escrito miles de documentos. Si se hace una búsqueda en Google Scholar usando los términos “historia + Cinchona”, aparecen cerca de cinco mil documentos. En inglés son más de treinta mil, y, en francés, más de dos mil referencias.
Una consecuencia de tal profusión de trabajos ha sido una enorme cantidad de confusiones, malas interpretaciones, rectificaciones, entre otros. Por eso, puede ser difícil hilar la historia de las exploraciones, de las prácticas médicas, de actores, de cuestiones comerciales, y otros temas de la historia de esas plantas. Cuando nos aventuramos en el tema, tras leer algunos artículos y libros, creemos estar en conocimiento de los asuntos más importantes, pero pronto encontramos nuevas fuentes, primarias y secundarias, que refutan las interpretaciones y explicaciones previas. Un clásico en esa línea es el trabajo de Haggis (1941), que contribuyó con análisis decisivos para cuestionar definitivamente el mito de la Condesa de Chinchón, asociado con la planta. De ese modo, la historia de las quinas puede suscitar desesperados sentimientos de extravío entre los historiadores, casi tantos como los que enfrentan los taxónomos por el alto grado de hibridación de esas plantas. Leia Mais
The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution | Julius S. Scott (R)
Julius Sherrard Scott / Foto: Scholars and Publics /
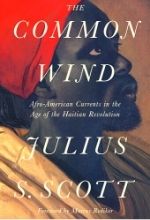 Professor emérito do Departamento de Estudos Afro-Americanos e Africanos da University of Michigan, nos Estados Unidos, Julius Sherrard Scott III doutorou- -se em 1986 na Duke University, em Ann Arbor, com a tese intitulada The Common Wind: Currents of Afro-American Communication in the Era of the Haitian Revolution. Com uma ligeira mudança no subtítulo, a tese ganhou o formato de livro em 2018: The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Os mesmos cinco capítulos da tese compõem o livro, acrescido de um prefácio escrito por Marcus Rediker, [1] professor da University of Pittsburgh, já bem conhecido do leitor brasileiro, com quem o diálogo e a perspectiva teórica da história vista de baixo são evidentes.
Professor emérito do Departamento de Estudos Afro-Americanos e Africanos da University of Michigan, nos Estados Unidos, Julius Sherrard Scott III doutorou- -se em 1986 na Duke University, em Ann Arbor, com a tese intitulada The Common Wind: Currents of Afro-American Communication in the Era of the Haitian Revolution. Com uma ligeira mudança no subtítulo, a tese ganhou o formato de livro em 2018: The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Os mesmos cinco capítulos da tese compõem o livro, acrescido de um prefácio escrito por Marcus Rediker, [1] professor da University of Pittsburgh, já bem conhecido do leitor brasileiro, com quem o diálogo e a perspectiva teórica da história vista de baixo são evidentes.
É difícil entender o intervalo de mais de trinta anos entre a defesa da tese e a impressão do livro, sobretudo porque o conteúdo manteve-se praticamente inalterado, porque o assunto é relevante e a narrativa é bem construída. Desinteresse editorial, desejo do autor em rever sua obra ou espera por um momento oportuno para reavivar a lembrança coletiva de que o Haiti ainda existe, como o terremoto de 2010, talvez possam ser elencados como hipóteses possíveis para essa longa espera. A bibliografia sobre o Haiti e, de forma mais ampla, o Grande Caribe, como Scott aborda no livro, não é extensa em inglês e é praticamente inexistente em português. [2] Por isso, talvez o primeiro ponto a ser destacado nesta resenha seja a necessária iniciativa de traduzir esse livro no Brasil, sem esperar a passagem de outras três décadas para que os leitores possam acessar uma experiência tão próxima à história colonial e imperial do país e tão inspiradora para os estudos históricos sobre a formação cultural brasileira e a história marítima ainda pouco praticada por aqui.
Chama a atenção a profusão e diversidade de materiais de que Scott se valeu para a escrita de sua história da circulação de ideias revolucionárias no Caribe setecentista: manuscritos oficiais de agentes da Coroa em arquivos espanhóis e cubanos, o mesmo tipo de fontes para a administração britânica em Londres e nas Índias Ocidentais, documentos de fundos privados em coleções estadunidenses, baladas cantadas por marinheiros negros e brancos em circulação por aquelas águas, narrativas de viajantes, propaganda abolicionista e jornais editados na América do Norte, nas Antilhas, no Reino Unido e na França. Exceto por periódicos que circularam em Portau-Prince e Cap Français, as fontes haitianas são praticamente ausentes do estudo, sinal de seu desaparecimento ou inacessibilidade ao longo da conturbada história humana e natural do país desde o século XVIII. “Pandora’s Box: The Masterless Caribbean at The End of the 18th Century”, o capítulo inicial, anuncia o contexto da ação revolucionária no Caribe. A perspectiva não é exatamente comparativa, mas leva em conta a diversidade de experiências coloniais e a grande expansão econômica baseada no boom da produção de açúcar na região. Aqui são consideradas também as formas de dominação oriundas de diferentes autoridades europeias a partir da vitória contra os piratas, bucaneiros e renegados que ocupavam aquelas ilhas e se organizavam por meio de regras próprias. Foi ao longo do século XVIII que a presença de escravizados africanos passou a se dar no Caribe de forma massiva – o que, se veio a transformar substantivamente a região, ao mesmo tempo manteve a imagem daquelas ilhas como lugares atrativos para desertores, escravos fugidos e toda a multidão de gente espoliada que pretendia viver sem obedecer às ordens de senhores.
O capítulo 2, “Negroes in Foreign Bottoms’: Sailors, Slaves, and Communication”, remete à visão de mundo de escravizados e seus senhores. Ambos reconheciam o potencial transformador do conhecimento das técnicas e formas de navegação. Tratava-se de algo perigoso e que criava homens insolentes, na visão senhorial, e que tendia para a construção de uma igualdade, no entendimento dos escravos. Olaudah Equiano, escravo marinheiro em meados do século XVIII e autor de uma celebrada autobiografia que parece guiar o capítulo, percebeu claramente que a mobilidade advinda dessa ocupação permitia certa igualdade com seus senhores, e não hesitou em “dizê-lo para sua mente”. Desgraçadamente para os senhores, muitos escravos com dificuldades de aceitar a disciplina que se lhes queria impor se engajaram no mundo do trabalho marítimo, inclusive porque seus senhores queriam se ver livres deles justamente por serem indisciplinados.
O terceiro capítulo, “The Suspense Is Dangerous in a Thousand Shapes’: News, Rumor, and Politics on the Eve of the Haitian Revolution”, pretende dar um aporte maior ao entendimento da revolucionária década de 1790 considerando seus antecedentes. O foco está dirigido à mobilidade de escravos, homens livres de cor e desertores militares e da marinha mercante que circulavam entre uma propriedade e outra, entre o campo e as cidades e entre as diversas ilhas, colocando em questão o controle social e a autoridade imperial. Ao fazer isso, alimentaram uma tradição de “resistência móvel” construída ao longo do Setecentos e que se radicalizaria nas décadas finais daquele século e no início do Oitocentos. As reações e tentativas de controle social mais severo por parte de autoridades metropolitanas e coloniais inglesas, espanholas e francesas são apresentadas nesse capítulo.
O capítulo 4, “Ideas of Liberty Have Sunk So Deep’: Communication and Revolution, 1789-93”, lança novas luzes sobre a repercussão da Revolução no Haiti nas demais ilhas. Ideias revolucionárias circularam não apenas em busca de adeptos, mas também como estratégia das autoridades imperiais em interação repressiva. Além de informações, oficiais baseados em uma ilha trocavam, com seus homólogos de outras Coroas, ajuda de todo tipo, militar inclusive. Os da Martinica pediram tropas ao governador de Cuba em 1790, diante das desordens que enfrentavam naquela colônia e da confusão revolucionária em que a própria metrópole francesa mergulhara em 1789, inviabilizando o envio de qualquer apoio. A causa da manutenção do controle social ultrapassava fronteiras linguísticas, imperiais e senhoriais. Mas os acontecimentos de 1789 e 1790 no Caribe, como afirma Scott, também ativaram as redes de comunicação afro-americanas. Se autoridades e proprietários ingleses, espanhóis e franceses construíram diálogos e articularam ações para se autopreservarem no Caribe ao longo do tempo, os escravos e homens livres de cor fizeram o mesmo.
O quinto capítulo, “Knows Your Interests’: Saint-Domingue and the Americas, 1793-1800”, concentra-se no impacto pós- -revolucionário nos impérios coloniais remanescentes e nos Estados Unidos. Porém, a amplitude geográfica do capítulo é menor do que o título promete. Houve mobilização militar nas colônias, num esforço para manter a ordem. Os escravos, por sua vez, mobilizaram- se e articularam ações que não foram apenas respostas ao aumento da severidade e da vigilância, mas que diziam respeito às suas próprias tradições organizativas. Esse processo foi intenso em Cuba [3], na porção oriental de Hispaniola, na Venezuela, em Curaçao e na Luisiana, apenas para mencionar algumas colônias em que a escravidão era a base da exploração dos trabalhadores. Desafortunadamente, a América portuguesa, maior colônia escravista do continente, ficou fora do quadro comparativo, decerto pela falta de domínio da língua portuguesa por parte do autor e pela reduzida bibliografia sobre a repercussão da Revolução Haitiana produzida no Brasil e em Portugal.
A circulação ou mobilidade espacial é o grande tema do livro. Negros africanos ou nascidos no Caribe e mestiços iam de uma colônia às outras, navegando distâncias que, embora relativamente curtas, lhes davam acesso a comunidades estrangeiras, com diferentes línguas e experiências de escravização e resistência. As oportunidades de disseminar conhecimentos e ideias e trocar informações objetivas não foram perdidas por aqueles escravos que se ganharam o mar e o mundo além do horizonte. O movimento dos navios e dos marinheiros oferecia não só oportunidades de desenvolver habilidades ou viabilizar fugas, mas criava formas de comunicação de longa distância e permitia que os afro-americanos transportassem, física e simbolicamente, seus modos de enfrentar as adversidades do cativeiro a outras partes, construindo resistências e concepções de liberdade globais.
A cultura marítima no Caribe era multirracial e multinacional. Escravos africanos ou nascidos nas colônias americanas eram partes importantes do contingente de trabalhadores do mar, mas o “submundo dos marinheiros” na região ao fim do século XVIII era formado também por milhares de britânicos e franceses. Tratava-se de uma população instável e que, por vezes, em razão de questões de mercado de trabalho ou de saúde, se estabelecia em alguma ilha à espera de melhores condições, enraizando- -se na cultura local de transitoriedade e de exposição às informações que circulavam rapidamente para os padrões daqueles tempos. No Caribe sabia-se dos acontecimentos das ilhas vizinhas, da Europa e da América do Norte: ali era a encruzilhada do mundo Ocidental, mais especificamente do hemisfério Norte, graças às correntes de comunicação estimuladas pela relativa proximidade, pelas facilidades da navegação e pelo aumento da atividade agroexportadora caribenha ao longo do século XVIII.
O axioma segundo o qual marinheiros eram desordeiros em terra encontrava plena comprovação no Caribe. Milhares de homens em trânsito representavam um problema para as autoridades locais responsáveis pela manutenção da ordem. Inúmeras leis foram postas em vigor para discipliná-los, do mesmo modo como se fazia para tentar regular a conduta dos escravos. Em tempos mais explicitamente conflituosos, como na Guerra dos Dez Anos (1780-1790), chegou-se a proibir que marujos britânicos nas Índias Ocidentais servissem a príncipes ou Estados estrangeiros. A proibição mostrou-se ineficaz.
A comparação entre escravos e marinheiros não é aleatória no trabalho de Scott. Ele nos deixa ver como ambos tiveram experiências em comum e causas pelas quais militavam juntos: o engajamento compulsório independentemente da condição, a submissão a punições arbitrárias, a pressão para embarcarem em navios mercantes contra sua vontade e a visão sobre ambos como perturbadores da ordem pública. Bom exemplo foi um ato policial de 1789, em Granada, prevendo penalizar escravos, mestiços livres e marinheiros que atentassem contra a própria saúde e a moral, porque seus comportamentos, vistos como dissolutos, eventualmente seduziam pessoas de outras condições.
Escravos e marinheiros conviviam a bordo, como tripulantes dos mesmos navios, mas a experiência também replicava em terra. Marinheiros eram os consumidores naturais das roças escravas caribenhas e, apesar do empenho policial, era difícil impedir que escravos lavradores ou em fuga fizessem comércio com marinheiros famintos e fragilizados depois de uma longa viagem, ávidos sobretudo por frutas e outros alimentos frescos. O contato e o convívio entre marinheiros e negros naquelas ilhas não tiveram apenas consequências econômicas, mas também forjaram elementos da cultura: muitas canções de trabalho populares no mar, disseminadas por marujos britânicos pelo mundo afora no século XIX, têm extraordinária semelhança com as canções escravas do Caribe. Scott afirma haver evidências consideráveis de que muitas canções podem ter se originado da interação de marinheiros e negros nas docas das Índias Ocidentais e que a teoria da origem e desenvolvimento das línguas crioulas no Caribe enfatiza o contato entre marinheiros europeus e escravos africanos e africano-americanos.
O ponto de intersecção de toda essa gente trabalhando em trânsito era Saint-Domingue, lugar de extraordinária diversidade de grupos de marinheiros europeus, a julgar pelos relatos do próprio ministério da Marinha francês na década de 1790. Mesmo com os monopólios coloniais e suas diferentes nomenclaturas (a flota espanhola, o exclusif francês, o British Navigation Act inglês), o contrabando grassava por ali, pondo em contato colonos europeus, marinheiros de diferentes metrópoles e escravos caribenhos e de variadas origens africanas. A razão dessa diversidade também entre os escravos, para além do tráfico direto com a África, era a sede por mão de obra em Saint-Domingue, o que fazia daquela colônia francesa um repositório de escravos fugidos a partir de 1770, vindos de Jamaica, Curaçao e, a julgar pela língua de alguns deles, também do Brasil. Muitos desses escravos em fuga se engajaram ativamente em rebeliões antes mesmo de 1789 e desempenharam papéis relevantes nos anos revolucionários – por exemplo Henry Christophe, segundo presidente do Haiti independente, nascido em St. Kitts, nas Índias Ocidentais britânicas.
O comércio e a circulação de marinheiros por aquelas bandas não só traziam notícias de fora como transmitiam ao resto do mundo o que se passava em Saint-Domingue. Scott reconhece que as revoltas de negros no Caribe em fins do século XVIII inspiraram os escravos nos Estados Unidos e em muitas das Antilhas. Em termos materiais, a afirmação encontra base no volume comercial entre Estados Unidos e Saint-Domingue em 1790: o montante das trocas, nessa altura, excedia aquelas feitas com todo o restante do continente americano, e era superado apenas pelo comércio com a Grã-Bretanha.
Scott foi um dos primeiros historiadores a identificar na mobilidade espacial advinda da navegação um importante indicador de autonomia e, eventualmente, liberdade para os cativos que conseguissem trilhar esse caminho. Os navios carregados de açúcar e rum circulando pelo Caribe possibilitavam escapar do rigoroso controle social existente nas sociedades escravistas e principalmente os navios menores eram vistos como instrumentos de fuga. Problemas diplomáticos e policiais decorriam dessa mobilidade não autorizada, mas o foco do autor se firma nos marinheiros e escravos desertores que elegeram as ilhas caribenhas como seus locais preferidos.
No Atlântico, mais do que em outros oceanos, e no Caribe, de forma concentrada, o comércio marítimo de longa distância e de cabotagem envolvia homens escravos e livres de cor. No caso dos escravos, envolvia também perspectivas de autonomia e liberdade dadas não só pela mobilidade como também pelas chances de se diluir em meio à multidão reunida nos portos, formada por indivíduos que, ao serem observados, não podiam ser definidos como livres ou cativos apenas pela cor de suas peles. Os mesmos jornais jamaicanos que publicavam anúncios de senhores vendendo negros especializados em trabalhos marítimos também publicavam anúncios de fuga de gente que certamente usara o mar como rota para desaparecer das vistas de seus senhores. Scott interpreta a “mística do mar” nas sociedades escravistas insulares do Caribe, ao salientar a vida a bordo de um pequeno navio de cabotagem ou do comércio intercolonial como uma alternativa atrativa à vida marcada pela hierarquia severa nas lavouras açucareiras. Mesmo escravos sem experiência marítima podiam conhecer alguns termos náuticos graças aos versos das canções populares e fingirem serem marinheiros livres. Ávidos por força de trabalho, os capitães dos navios quase nunca inquiriam cuidadosamente cada marinheiro engajado. Durante a década de 1790, antes e depois da Revolução de Saint-Domingue, sujeitos envolvidos no mundo do trabalho marítimo – marinheiros da navegação de longa distância, de pequenos navios de cabotagem no comércio intercolonial, escravos fugidos, marujos desertores brancos e negros – assumiram o centro do palco. No mar ou em terra, homens e mulheres sem senhores desempenharam um papel vital, espalhando rumores, reportando notícias e atuando como correia de transmissão de movimentos antiescravistas e, finalmente, da revolução republicana em curso na Europa.
A Revolução do Haiti tornou-se lendária não só porque foi a primeira experiência de liberdade coletiva e de construção de uma nação por ex-escravizados que retiraram à força seus senhores de cena, mas também pelo que representou como possibilidade na imaginação de escravos e senhores espalhados pelo mundo ocidental onde a escravidão era a base da acumulação de riquezas. A crença na determinação histórica, fruto da autocondescendência pela suposta descoberta de modelos explicativos eficazes, encontra nesta encruzilhada do Ocidente um incômodo para os historiadores mais seguros de suas opções teóricas. O passado torna-se sempre mais complexo quando é considerado da perspectiva de seus agentes.
Referências
ANDRADE, Everaldo de Oliveira. Haiti, dois séculos de história. São Paulo: Alameda, 2019.
FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana e a Revolução Haitiana. Almanack, n. 3, p.37-53, jun. 2012.
FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana na época da Revolução Haitiana. In: CUNHA, Olívia Maria Gomes da.
Outras ilhas: espaços, temporalidades e transformações em Cuba. Rio de Janeiro: Aeropolano/FAPERJ, 2010. p. 37-64.
GRONDIN, Marcelo. Haiti. Col. Tudo é História. São Paulo: Brasiliense, 1985.
JAMES, Cyril Lionel Robert [1938]. Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos. São Paulo: Boitempo, 2000.
REDIKER, Marcus. O navio negreiro: uma história humana. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
REDIKER, Marcus; LINEBAUGH, Peter. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
SCOTT, Julius S. The Common Wind: Afro- American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Londres; Nova York: Verso, 2018.
Notas
- Autor de A hidra de muitas cabeças: marinheiros, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário (em parceria com Peter Linebaugh) (2008) e O navio negreiro: uma história humana (2011).
- Exceções são os livros de Grondin (1985); de Andrade (2019) e, é claro, a tradução muito tardia de James (2000), editada pela primeira vez em 1938.
- O impacto da Revolução do Haiti em Cuba pode ser conhecido pelo leitor brasileiro com mais detalhes pelos trabalhos já traduzidos de Ada Ferrer (2010 e 2012).
Jaime Rodrigues – Professor da Universidade Federal de São Paulo / Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas / Departamento de História, Guarulhos/SP – Brasil. E-mail: rodriguesjaime@gmail.com.
SCOTT, Julius S. The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Londres; Nova York: Verso, 2018. 246p. Resenha de: RODRIGUES, Jaime. Uma encruzilhada do Ocidente: o Caribe setecentista como espaço histórico Topoi. Rio de Janeiro, v.22, n.46, jan./abr. 2021. Acessar publicação original [IF].
History and collective memory in South Asia, 1200-2000 | Sumit Guha
Sumit Guha | Foto: UW |
 Historians always work in evolving political contexts that influence their knowl- edge and narratives. This cultural reality provides a framework for Sumit Guha’s imaginative analysis of how the collective memories that shape human societies are contingent and fragile because they are embedded within the changing insti- tutional systems of social and political life. In History and Collective Memory in South Asia, 1200–2000, Guha analyzes the processes of remembering and forget- ting in South Asian cultures, but similar sociocultural patterns have also appeared in almost every other human society. Historical knowledge serves numerous public needs, including the need for governments and social elites to justify their power and the need for cultural communities to sustain shared collective identi- ties. Historians therefore have an essential public role for which they have often been supported in schools, religious orders, government libraries, and universi- ties, which Guha describes as the “cloistered” institutions that produce and teach historical knowledge (4). This link to institutions, however, makes historical knowledge vulnerable to changing political regimes and to popular upheavals in the social world that always surrounds the cloisters in which experts construct their historical narratives.
Historians always work in evolving political contexts that influence their knowl- edge and narratives. This cultural reality provides a framework for Sumit Guha’s imaginative analysis of how the collective memories that shape human societies are contingent and fragile because they are embedded within the changing insti- tutional systems of social and political life. In History and Collective Memory in South Asia, 1200–2000, Guha analyzes the processes of remembering and forget- ting in South Asian cultures, but similar sociocultural patterns have also appeared in almost every other human society. Historical knowledge serves numerous public needs, including the need for governments and social elites to justify their power and the need for cultural communities to sustain shared collective identi- ties. Historians therefore have an essential public role for which they have often been supported in schools, religious orders, government libraries, and universi- ties, which Guha describes as the “cloistered” institutions that produce and teach historical knowledge (4). This link to institutions, however, makes historical knowledge vulnerable to changing political regimes and to popular upheavals in the social world that always surrounds the cloisters in which experts construct their historical narratives.
I. CONTEMPORARY CHALLENGES TO SCHOLARLY HISTORICAL KNOWLEDGE
Although modern professional historians continue a long tradition of working in privileged cloisters, Guha argues that such experts have created only one of the cultural streams that carry historical knowledge across the generations of social life. The expertise of historical specialists has long been challenged or displaced by oral and popular histories that circulate informally in the public and private spheres of all human communities, creating alternative stories that have wide cultural influences and also affect the ideas of those who write history within even the best-supported institutional cloisters. Historical knowledge is thus inex- tricably connected to public life because it grows out of the collective identities and cultural memories that historical narratives both reflect and help to shape. The public interactions with cloistered historical knowledge, as Guha emphasizes with specific references to both India and the United States, have grown all the more visible in recent decades as diverse social groups have claimed their own historical knowledge and publicly derided the experts for writing false history. Professional historians are thus increasingly marginalized by the “knowledge” that emerges in the popular media or flows among the contemporary religious and political activists who wage transnational culture wars on websites and social media apps. Militant crowds in South Asia, Europe, and the US have been destroying monuments that represent discredited historical figures, but activists with radically diverging ideologies are also constructing new historical narra- tives that assert collective identities and political goals. These politically charged narratives have become part of wider cultural struggles to control historical memories, and they often challenge evidence-based historical accounts that were written in scholarly institutions. Guha wrote his book from a position within one of the cloistered institutions (the University of Texas) where professional experts have traditionally developed and evaluated valid historical knowledge. He therefore notes the context for his own historical project by explaining that recent public claims for the validity of nonexpert historical narratives “made me more keenly aware of how the academy exists only as part of a society” and how “public knowledge of the past” has long “been enfolded in political and economic systems” (x). Guha launches his narrative of South Asian historical knowledge with an explicit recognition that neither the political leaders nor social protest movements in our “post-truth” era are inclined to respect the carefully compiled, evidence- based research of professional historians (ix). Late twentieth-century academic historians such as Peter Novick described a declining faith in historical objectivity among scholars who worked in academic history departments, but the debates of that time were viewed mainly as internal philosophical arguments about the opposing epistemological perspectives of relativism and positivism.[1]
The cultural stakes of these arguments have now become part of a much broader political cul- ture because the cultural-political context has changed. Scientific experts have lost public influence as people outside of the traditional, knowledge-producing clois- ters have gained access to new media and communication networks. Professional historians, like other experts in both the natural sciences and the social sciences, now have to defend the value of evidence-based knowledge in a public sphere that often disdains the whole enterprise of careful documentary research. Guha’s account of collective memories and historical narratives in South Asia over the last eight centuries thus suggests that our (noncloistered) public culture may be returning to conceptions of historical knowledge that long shaped the use and abuse of history in earlier social eras. As Guha explains with persuasive examples, historical knowledge in premodern South Asia and Europe was viewed mainly as a tool to support the political claims of governing elites or to defend the sociocultural status of social groups whose identities were affirmed through semimythical narratives about past struggles and heroism. Human beings have always defined themselves, in part, by describing their historical antecedents, so historians inside and outside of institutional cloisters have provided the requisite collective memories in their written texts and oral histories. Yet Guha repeatedly notes the fragility of collective memories, which can quickly dissipate when social, political, and cultural regimes change or collapse. Most of the once-known information about past people and events has completely disappeared because the cloisters that produced or protected this knowledge were destroyed (for example, the religious communities that protected historical memories in ancient Egypt and Mesopotamia), or because later governing powers had no use for historical nar- ratives that had justified the power of previous rulers, or simply because nobody believed that the activities of common people needed to be recorded in historical narratives.
Guha thus provides humbling reminders that historical knowledge is for- ever changing or vanishing amid the constant public upheavals that transform and demolish the work of historians as well as the past achievements of every other sociocultural community. Guha’s reflections on the contingencies of now- vanished historical knowledge may remind readers of the melancholy themes in Percy Bysshe Shelley’s poem “Ozymandias” (1818), which famously described a traveler’s encounter with the ruins of an ancient king’s shattered statue on a lonely sandscape: “My name is OZYMANDIAS, King of Kings; Look on my works, ye Mighty, and despair!” No thing beside remains. Round the deca Of that Colossal Wreck, boundless and bare, The lone and level sands stretch far away.[2]
One of Guha’s themes in this book conveys a similar story about the fragility of historical knowledge and memories, which means that “the preservation of a frac- tion of the immense world of human experience in the historical record depends on choices and resources, or else it perishes irretrievably” (116). Every genera- tion, in short, must reconstruct historical memories to prevent their otherwise inevitable decay and disappearance in later human cultures.
II. EUROPE ON THE PROVINCIAL FRONTIER OF GLOBAL INTELLECTUAL HISTORY
The fragility of historical knowledge is one example of how Guha views the entanglement of collective memory, political power, and public struggles for social status. History and Collective Memory in South Asia focuses mainly on the development and loss of historical memory in India, but there are also descriptions of similar memory-producing practices in premodern Europe. These comparative perspectives contribute to a historical decentering of European cultural and political institutions that draws on Dipesh Chakrabarty’s influential proposals for “provincializing Europe.” 3 Guha challenges Western narratives that portray a unique European historiographical pathway from the classical Greek works of Herodotus and Thucydides to the nineteenth-century, evidence-based archival methods of Leopold von Ranke. The uniqueness of early European historical writing mostly disappears in Guha’s comparative framework as he shows how medieval European memories and identities were constructed through genealogical research and chronological summaries that South Asian historians also developed during these same centuries. In both of these premodern cultural spheres, most historical narratives focused on local events or people; and the useful knowledge came from genealogists and court heralds who confirmed the esteemed lineage of people who held privileged social status and political power (or wanted to claim new power for themselves). Religious writers in both Europe and South Asia also offered popular narra- tives to explain why particular churches and religious shrines should be visited and why they should be supported with generous gifts. European historical writ- ing thus evolved as an unexceptional local example of the historical research that was also developing widely across Persia and India during this same era. Placed within this wider framework, European genealogists were (like their Indian coun- terparts) “bearers of socially vital histories . . . who kept records and sent out pursuivants across their jurisdictions to record and verify” (35).
Guha thus provides carefully researched examples of how historians can “pro- vincialize Europe” when they move beyond traditional Western assumptions abou European exceptionalism. At the same time, however, he adds to the expanding work in “global intellectual history” by using two important methods for analyzing the history of ideas in different cultures and for tracing transnational intellectual exchanges.[4]
Guha first describes cross-cultural similarities in the labor of heralds and genealogists who served sociopolitical elites in England, France, and Spain, but he also shows how historical workers provided the same services for social elites in India. The social contexts differed, but historians served similar premodern public needs in both cultures. The genealogical arguments for social status, political power, and property ownership were developed with an assiduous attention to past generations and with often-needed adjustments to complex social histories; this careful work everywhere provided essential historical justifications for noble and royal claims to power. After summarizing similar cultural practices that developed independently within Europe and South Asia, Guha uses a second methodology of global intel- lectual history to analyze how ideas about historical knowledge later moved across cultural boundaries and influenced people on both sides of the colonizer/ colonized social hierarchy. The themes in Guha’s narrative thus shift from a description of cultural similarities to a description of cross-cultural exchanges and the mediation of cultural differences. During the nineteenth century, British colonial officials and educators arrived in India with new ideas about how his- torical knowledge should be based on documentary evidence, so the institutions they developed for cross-cultural instruction (including schools and universities) became sites for new cultural translations of materials they encountered in India. British educators developed a tripartite narrative that portrayed Indian history as an evolution from eras of Hindu and Muslim rule into the era of Britain’s Christian Imperial rule, which British officials portrayed as superior to the earlier Mughal Empire. Equally important, a new English-educated, South Asian intelli- gentsia gradually adopted some of the new European methods and ideas for their own anticolonial purposes. Ideas and research methods traveled across cultural boundaries, but they also changed as Indian historians used them to pursue goals that differed from the purposes and expectations of British officials. The Indian scholar Vishwanath Kashinath Rajwade (1864–1926), for example, worked in this hybrid sphere of cross-cultural exchanges during the colonial era, when he joined with other intellectuals in western India to develop a Marathi perspective on British imperialism. Rajwade believed that the “latest methods of source criticism would enable India to recapture its own history” (142), so his work made creative use of some European cultural practices that helped to advance the goals of an emerging Indian nationalism. According to Guha’s account of this hybrid cultural process, “Leopold von Ranke’s doctrines may have reached him [Rajwade] by indirect routes, but he was certain that their application would vindicate both Maratha and Indian nationalism. This was the atmosphere in which the early venture for a public and documented history was launched in the Marathi-speaking world” (143). These two methodological European exceptionalism. At the same time, however, he adds to the expanding work in “global intellectual history” by using two important methods for analyzing the history of ideas in different cultures and for tracing transnational intellectual exchanges.[5]
Guha first describes cross-cultural similarities in the labor of heralds and genealogists who served sociopolitical elites in England, France, and Spain, but he also shows how historical workers provided the same services for social elites in India. The social contexts differed, but historians served similar premodern public needs in both cultures. The genealogical arguments for social status, political power, and property ownership were developed with an assiduous attention to past generations and with often-needed adjustments to complex social histories; this careful work everywhere provided essential historical justifications for noble and royal claims to power. After summarizing similar cultural practices that developed independently within Europe and South Asia, Guha uses a second methodology of global intel- lectual history to analyze how ideas about historical knowledge later moved across cultural boundaries and influenced people on both sides of the colonizer/ colonized social hierarchy. The themes in Guha’s narrative thus shift from a description of cultural similarities to a description of cross-cultural exchanges and the mediation of cultural differences. During the nineteenth century, British colonial officials and educators arrived in India with new ideas about how his- torical knowledge should be based on documentary evidence, so the institutions they developed for cross-cultural instruction (including schools and universities) became sites for new cultural translations of materials they encountered in India. British educators developed a tripartite narrative that portrayed Indian history as an evolution from eras of Hindu and Muslim rule into the era of Britain’s Christian Imperial rule, which British officials portrayed as superior to the earlier Mughal Empire. Equally important, a new English-educated, South Asian intelli- gentsia gradually adopted some of the new European methods and ideas for their own anticolonial purposes. Ideas and research methods traveled across cultural boundaries, but they also changed as Indian historians used them to pursue goals that differed from the purposes and expectations of British officials. The Indian scholar Vishwanath Kashinath Rajwade (1864–1926), for example, worked in this hybrid sphere of cross-cultural exchanges during the colonial era, when he joined with other intellectuals in western India to develop a Marathi perspective on British imperialism. Rajwade believed that the “latest methods of source criticism would enable India to recapture its own history” (142), so his work made creative use of some European cultural practices that helped to advance the goals of an emerging Indian nationalism. According to Guha’s account of this hybrid cultural process, “Leopold von Ranke’s doctrines may have reached him [Rajwade] by indirect routes, but he was certain that their application would vindicate both Maratha and Indian nationalism. This was the atmosphere in which the early venture for a public and documented history was launched in the Marathi-speaking world” (143). These two methodological realms. Oral traditions shaped the identities of local communities, asserted the significance of local religious shrines, or justified the social positions of local elites who continued to challenge the centralizing power of imperial states. All of these narratives could coexist with the historical narratives of large empires because “outside the early temple-cities and imperial capitals, . . . local and folk traditions propagated mutually contradictory but noncompetitive narratives of the past” (27). There was never just one historical narrative, and the local folk nar- ratives sometimes became more powerful and widely accepted than the official narratives that historical experts produced in the cloistered institutions of imperial capitals. In every historical period, diverging narratives claimed to provide the best accounts of recent or remote historical events.
Guha introduces early Indian historical writing by focusing on Muslim histo- rians whose Persian monotheism asserted the existence of a “universal history” that transcended the fragmented local histories of earlier South Asian states (45). Muslim historians believed that a single God oversaw every human activity because all actions took place in a “universal time” (51). This temporal perspec- tive suggested that every great or small event contributed to an overarching historical process, yet the conflicts over political power inevitably occurred in specific places and local settings that required historical attention. Genealogists and court historians thus wrote historical accounts to show the ancient lineage of newly arrived Persian rulers in the era of the Delhi Sultanate (which spanned the thirteenth through the sixteenth centuries), and Persian-language narratives told official stories about heroic past achievements to justify the recent, regional expansion of Muslim power. Politicized historical narratives continued to appear during the later Mughal Empire, whose famous Emperor Akbar (r. 1556–1605) bolstered his centralizing aspirations by supporting new historical narratives (in Persian) and building new monuments that stressed the importance of imperial unity. Other strands of social memory nevertheless flourished outside of the official court-centered narratives that Mughal emperors promoted. Both before and during Akbar’s reign, Guha notes, “many forms of collective memory coex- isted, with the new Persian political and military histories as simply an additional branch of memory” (61). Local memories were often associated with local reli- gious shrines, and long after the Mughal conquests extended into eastern India there were still Bengali legends, lineage stories, and Hindu religious centers that defied or ignored the court-supported Mughal histories. These unofficial narra- tives sustained Bengali cultural memories, though local Buddhist memories were often lost in the competing Muslim and Hindu histories of the era.
As Mughal power declined in the late seventeenth century, the rising Marathi state in western India became a new center of historical knowledge and collective memory. Guha explains that the “Marathi-speaking gentry had long written or dictated narrative histories” for the region, but their expanding political aspirations soon generated new “macronarratives” that helped to justify the political claims and collective identity of the ambitious Marathi (Hindu) regime (107). Historical writing therefore celebrated the achievements of a Marathi elite that governed a mostly Hindu population and eventually displaced the Mughal empire in north- central India, but the Marathi historians ignored the historical achievements of their Hindu predecessors in southern India (the Vijayanagara Empire). The eighteenth-century Marathi elite thus used a narrowly defined collective memory to create an “enmeshing of history and identity [that] was unique in South Asia at the time” (109). Other social groups continued to shape collective historical memories, however, through narratives that circulated outside the Marathi literati. Workers and servants, for example, spoke in court cases that Guha cites to show how nonelite people could provide important historical information about family events and property holdings. Challenging Gayatri Spivak’s famous claim that the voices of subaltern people could never be heard or recovered, Guha refers to late seventeenth-century court testimonies in Maharashtra to argue that lower class women and men in western India “could speak and were sometimes unique sourc- es of evidence” (99).[6]
Craftsmen, barbers, and even gardeners offered their per- spectives on past events or conflicts. Most were illiterate, yet “ordinary villagers . . . passed on key elements of local history from generation to generation” (100). Both the elite Marathi writers and subaltern speakers narrated local history in texts and court testimonies that Guha describes as more factual than the histori- cal narratives that appeared in other parts of India. The west Indian Hindu literati nevertheless resembled historians throughout South Asia in supporting their own government’s political interests and in mostly ignoring the history of previous rulers. Like other elite writers, they also faced the challenge of unofficial historical narratives that conveyed the perspectives of other social groups, including the obscure subalterns who testified (historically) in legal proceedings and family disputes. The struggle to consolidate political power was always linked to cul- tural struggles over the control of stories about the past.
III. HISTORICAL KNOWLEDGE IN THE ERA OF IMPERIALISM AND POSTCOLONIAL TRANSITIONS
Historical writing in both the Marathi-speaking west and the Bengali-speaking east gradually changed after British colonial institutions became new centers of education and historical memory during the nineteenth century. Extending the cultural practices of their political predecessors, British imperialists introduced new historical narratives to increase their own prestige and stature. Guha shows that the power-enhancing uses of historical knowledge remained as prominent in the British colonial era as in the earlier periods of Indian history, but the British brought new European methods for source citations and historical writing. Their sources and narratives conveyed unexamined cultural assumptions about the superiority of Christian traditions, and they often portrayed British rule as a more enlightened imperial successor to the earlier Mughal Empire.
Although Guha explains how the British ascendancy decisively altered the political and cultural context for historical writing, he also argues that the Indian literati always found new ways to narrate their own history—in part by drawing on unofficial, popular histories that still circulated outside of British institutions.Indian writers increasingly accepted new standards of historical evidence, how- ever, which “tended to converge on demanding authentic contemporary sources” (118). The prestige of document-based historical narratives forced Indian histo- rians to recognize that “the power of Western narrative could not be denied, but chinks in it could be sought so as to turn it against the colonizer” (119). Counter- narratives thus challenged the official historical voice, which now spread a European, Christian message within and beyond the cloisters of British schools and universities. Guha gives particular attention to the hybrid historical work of western Indian writers such as the previously noted Vishwanath Kashinath Rajwade and the documentary specialist Ganesh Hari Khare (1901–1985), both of whom wrote texts that differed from the colonial historical narratives and used more factual evidence than could be found in the genealogical stories and “historical romance” of Bengali historians such as Bankim Chandra Chatterjee (1838–1894) (134). Despite Guha’s recognition of the cultural value in all kinds of historical narratives—popular oral histories, genealogies, religious stories, and even fictional works—he repeatedly affirms the superiority of historical research that uses verifiable documentary sources. Adhering to the modern research meth- ods of cloistered professional historians, Guha argues that the most reliable his- torical truths appeared in evidence-based narratives that explained what actually happened rather than what later generations wanted to believe could or should have happened.
The historical resistance to British colonialism did not end when South Asians established independent nations after 1947. As Guha notes in his discussion of postcolonial cultural transitions, historians in both Pakistan and India set to work on nation-building tasks that required coherent national histories and emphasized the kind of long-term continuities that nationalists typically find or invent in their own national cultures. The enduring influence of certain colonial-era British nar- ratives helped to shape new “ethno-nationalist” accounts of Hindu history that condemned Mughal rule and the oppressive power of Muslim outsiders (132). Colonial legacies also influenced some later postcolonial historians who sup- ported an “indigenist” rejection of the evidence-based historical knowledge that British historians had advocated in English-language universities (160). To be sure, British educators had often violated their academic standards for evidence- based historical writing as they promoted their own faith-based assertions about Christian miracles, the superiority of European cultures, and the flaws of Indian religious traditions. Guha notes with dismay, however, that the postcolonial rejection of imperial institutions and ideas evolved into a growing nationalist suspicion or rejection of carefully compiled, evidence-based historical narratives. Historians who searched for indigenous alternatives to British culture drifted away from rigorous research and celebrated ancient Vedic learning in mythic narratives that no longer cited historical evidence or documentary sources.
Guha’s concluding critique of postcolonial changes in South Asian cultures therefore returns to his introductory arguments as he condemns the dangers in “post-truth” societies that reject the foundational research of reliable historical knowledge. The cloisters of professional historical work, where evidence-based research methods established the criteria for accurate (though culturally inflected) knowledge, have been threatened or displaced by the political-cultural influence of a surging Hindu nationalism that resembles similar nationalist critiques of “fake history” and “false” academic work in the US. Political groups and their affiliated media systems in India and America have launched a similar “external assault on the community of professional historians” (x), thereby forcing historical experts to defend the truth of their knowledge in a transformed public sphere. Guha sees familiar historical patterns in these recent challenges to historical knowledge because carefully constructed historical narratives were often overwhelmed and rejected in the sociopolitical upheavals of past transitional eras. Each historical era is different, of course, but Guha suggests that cloistered historians may not recognize how the scapegoating of inconvenient or unpopular knowledge never disappears. “History departments in the few but comparatively well-funded Indian universities controlled by the central government,” Guha writes in a discussion of South Asian historians who lost influence after the 1970s, “were confident, indeed complacent, in their authority. . . . The narrow circle of specialists could still, in principle, resolve disputes by reference to sources and documents, as in the standard model. This gave its members an undue sense of their own grip on the past” (173).
This cultural moment has now passed, however, and the once-cloistered historians find themselves under attack from radical Hindu nationalists, Bollywood historical movies, and so-called identity histories that dismiss or misrepresent the complexities of historical evidence. This situation is by no means unprecedented, as Guha demonstrates in his careful analysis of how collective memories changed under the influence of different governing systems over the last eight centuries. Yet the recurring political struggle for control of historical knowledge seems to be gaining renewed force in a twenty-first-century context of far-reaching social media, website communications, and highly politicized group identities.
IV. HISTORICAL KNOWLEDGE AND THE PUBLIC SPHERE IN A “POST-TRUTH” WORLD
Guha’s careful examination of South Asian historical knowledge contributes valuable perspectives for wider discussions of how collective memories help to shape political cultures and the public sphere. He explains the significance of historical narratives and monuments that sustain collective identities, but he also stresses that popular memories and oral histories have always expanded or challenged the historical perspectives of cloistered experts and state-supported narratives. Guha therefore provides a broad overview to help his readers understand how contemporary critiques of evidence-based academic scholarship may resemble disruptions that have occurred whenever political regimes have been overthrown or new social-cultural-religious groups have come to power. Historical knowledge, as Guha demonstrates throughout his book, has always been fragile and vulnerable to public upheavals.
There are nevertheless limitations in Guha’s work that raise questions for further critical analysis. His insistence on the value of evidence-based research is relevant for historical studies in every society, even though the specific modern arguments for such research emerged in European universities and then gained global influence through other institutions that governments, imperial regimes, and private groups established in other places around the world. Guha notes this complex process of cross-cultural exchange, yet he does not discuss how technological transitions are creating new challenges for document-based historical research and also transforming how historians might study cross- cultural interactions. The new technological challenges began to emerge with the computer revolution of the 1990s, and they became even more pervasive as mobile telephones replaced printed texts and older computers for many twenty- first-century communications. Documents stored on obsolete floppy disks may already be almost as inaccessible as illegible stone tablets in an ancient cave. What happens to evidence-based historical memory when most communications take place in easily deleted telephone text messages or on social media apps that are constantly evolving with the technological innovations of companies that sell mobile telephones?
Guha concludes his book with a commendable insistence on the value of carefully researched historical work and a plea “that we continue to strive for an evidence-based mode of writing it” (178). The instant communications of social media meanwhile pose a double challenge to evidence-based historical writing because sources are disappearing almost instantly, and highly motivated political or religious groups are quickly spreading false historical narratives via internet technologies that previous cloistered historical experts never had to confront. Addressing the implications of these cultural changes would take History and Collective Memory beyond its chronological limits, but historians need to address such issues as they confront the growing public influence of false history, which Guha rightly condemns in his preface, introduction, and conclusion.
Contemporary technological challenges could be explored in future studies of new social media, but a different historical problem appears in Guha’s complaint that cloistered historians have helped to undermine their own evidence-based expertise by embracing postmodern critiques of objectivity. Ironically, as Guha points out in his preface, the influential Foucauldian argument that power cre- ates knowledge seems to have been embraced by powerful governing elites who generally reject the ideas and writing styles of postmodern theorists. One of the American architects of the Iraq invasion in 2003, for example, assured a journalist that American policymakers were powerful enough to define and thereby create political realities in a distant Middle Eastern society. “Postmodern thought,” Guha notes, “had thus been captured by its inveterate critics in the power elite” (ix). This concern about public actors who now adapt theoretical critiques of empirical knowledge to justify their own claims for reality-shaping narratives leads to one of Guha’s specific warnings about the current threats to historical knowledge. Although he provincializes European claims for unique historiographical traditions and methods, he also defends the Rankean belief in the documentary foundation of fact-based historical knowledge. Guha thus views the commitment to evidence-based knowledge as an essential cultural value that should never be dismissed as simply a Eurocentric ideology. Documentary evi- dence, as he correctly insists, provides valid criteria for historical truth in South Asia and in every other society that seeks to establish reliable knowledge about its own past. This commitment to evidence-based historical knowledge, however, leads Guha to an unexpected critique of historians who draw radical relativist implications from the argument that narrative choices shape the construction of all historical knowledge.
Guha’s work carefully examines the words and narrative structures that shape human uses of the past, yet he seems to pull back from his own analytical themes at the end of his book. “We have entered a post-truth world through many paths,” he notes: “One of those brought us here by arguing that all narratives were constructed, and consequently all are equally valid” (176). This is a puz- zling statement because Guha’s book actually shows why the second clause in this sentence is not correct. It is certainly true that all narratives are constructed, but Guha skillfully shows (and almost all historians would agree) that some nar- ratives are far more truthful than others because the best historical accounts are based on documentary evidence and other verifiable sources. Guha’s analysis of South Asian historians thus uses evidence-based criteria to explain why some constructed narratives are more valid than others. His concluding lament about a misguided academic acceptance of the postmodern emphasis on the shaping power of narratives seems to be refuted by the critical assessments of different textual constructions in his own impressive book.
My questions about the impact of changing technologies and the ongoing evaluation of truth claims in historical narratives suggest some of the key issues that Guha’s book encourages readers to continue exploring in our “post-truth” historical era. Although he develops an insightful account of the ways in which historical knowledge evolved in specific South Asian cultures, Guha also shows how this long-developing cultural history challenges traditional narratives about European exceptionalism, confirms the influence of cross-cultural exchanges, demonstrates the complex hybridity of colonial and postcolonial ideologies, and exemplifies the continual intersection of historical knowledge and public conflicts. Guha’s emphasis on the contingency of historical knowledge and the vulnerability of experts also reminds professional historians that sociopolitical forces affect the narratives they write as well as the economic resources that support their privileged positions. Historians thus remain vulnerable to the revo- lutionary upheavals they like to study from the safety of their cloistered positions.
Perhaps the current vulnerability of professional historians results partly from a gradual twentieth-century scholarly withdrawal from intellectual engagements with public life and public history. Given the pressing need for historical narra- tives in public life and in the cultural defense of collective identities, there will always be (nonexpert) groups who want to fill the public historical vacuum that exists when historians argue only among themselves. The historians’ long-term retreat to university cloisters has become increasingly problematic amid the recent populist upheavals around the world, but these unsettling events may now be forcing historians to become more aware of their connections to the public sphere. This awareness could grow in all national cultures as university-based historians struggle to maintain student enrollments and financial resources—and as activist groups constantly develop self-supporting historical narratives in the popular media that flourish outside academic cloisters.
Sumit Guha’s well-argued, well-researched account of collective memory in the longue durée of South Asian history thus helps historians understand the enduring connections between historical knowledge and the struggle for power in public cultures. Cloistered historical experts who find themselves increasingly besieged by twenty-first-century culture wars and polarizing political conflicts might turn to Guha’s narrative for transcultural perspectives on their current chal- lenges. They may also draw on his perceptive analysis of South Asian historical narratives to understand more clearly why they must engage with public cultures beyond their cloisters and defend the evidence-based historical knowledge that others will denounce, distort, or ignore.
Notes
- Guha refers to key themes in Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988).
- Percy Bysshe Shelley, “Ozymandias,” in The Complete Poetry of Percy Bysshe Shelley, vol. 3, ed. Donald H. Reiman, Neil Fraistat, and Nora Crook (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012), 326. This reference reflects my own response to Guha’s themes; he does not mention Shelley or this poem in his book.
- Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton: Princeton University Press, 2000). Guha draws on Chakrabarty for his useful distinctions between “cloistered” and “public” history as well as his broader interest in displacing Europe from its “central, normative role in world history” (Guha 5).
- For a summary of notable research methods in this field, see Samuel Moyn and Andrew Sartori, “Approaches to Global Intellectual History,” in Global Intellectual History, ed. Samuel Moyn and Andrew Sartori (New York: Columbia University Press, 2014), 3-30.
- The key work for Guha is Maurice Halbwachs, On Collective Memory, ed. and transl. Lewis Coser (Chicago: University of Chicago Press, 1992).
- Guha challenges the influential argument that appears, among other places, in Gayatri C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?” in Marxism and the Interpretation of Culture, ed. Cary Nelson and Lawrence Grossberg (Urbana: University of Illinois Press, 1998), 271-314.
Lloyd Kramer – University of North Carolina, Chapel Hill.
GUHA, Sumit. History and collective memory in South Asia, 1200-2000. Seattle: University of Washington Press, 2019. Pp. xiii, 240. Resenha de: KRAMER, Lloyd.The enduring public struggle to constructo, control, and challenge historical memories. History and Theory, v.60, n.1 p.150-162, mar. 2021. Acessar publicação original [IF].
Inky Fingers: The Making of Books in Early Modern Europe – Antony Grafton
Anthony Grafton / Foto: Princeton University /
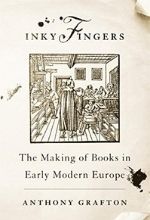 If it is hard to write a book review, then it is much harder to make a book. Anthony Grafton’s latest monograph, Inky Fingers, puts the difficulties of labour at the centre of this engaging study of book production in early modern Europe and North America (the latter included despite the expected limitations of the subtitle). He directs our attention to a cast of players more usually relegated to the wings of humanistic scholarship: printers, copyeditors, translators, compilers and other ‘native-born son[s] of the new city of books that printing created’ (p. 38).(1) In so doing, he reminds us that the life of scholarship ‘could cramp the hands and buckle the back’ (p. 4), to say nothing of the strain of texts and handwriting on the eyes. Building on the work of scholars including Anne Goldgar and William Sherman, and on Grafton’s own extensive contributions to the intellectual and textual history of humanistic scholarship, Inky Fingers provides a stimulating account of the back-and-forth of making books, and how this process shapes texts’ meanings and reception. Leia Mais
If it is hard to write a book review, then it is much harder to make a book. Anthony Grafton’s latest monograph, Inky Fingers, puts the difficulties of labour at the centre of this engaging study of book production in early modern Europe and North America (the latter included despite the expected limitations of the subtitle). He directs our attention to a cast of players more usually relegated to the wings of humanistic scholarship: printers, copyeditors, translators, compilers and other ‘native-born son[s] of the new city of books that printing created’ (p. 38).(1) In so doing, he reminds us that the life of scholarship ‘could cramp the hands and buckle the back’ (p. 4), to say nothing of the strain of texts and handwriting on the eyes. Building on the work of scholars including Anne Goldgar and William Sherman, and on Grafton’s own extensive contributions to the intellectual and textual history of humanistic scholarship, Inky Fingers provides a stimulating account of the back-and-forth of making books, and how this process shapes texts’ meanings and reception. Leia Mais
Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico 1450-1850 | Marcello Carmagnani
As conexões mundiais e o Atlântico: título sugestivo para um livro que se propõe a tratar de tema tão amplo. Como fazê-lo, contudo, é questão proeminente. O percurso escolhido nos é explicitado na introdução:
Será necessária uma profunda revisão dos instrumentos analíticos, elaborando os dados históricos até então utilizados apenas descritivamente, para traçar os modelos, os esquemas e as constantes do processo histórico. Fernand Braudel dizia que a história é a representante de todas as ciências sociais no passado: a ampliação da visão de história atlântica aqui proposta depende também da capacidade de elaborar conceitos analíticos que considerem os processos históricos em âmbito econômico, sociológico, político e cultural, sem os quais a história não pode ser nada além de uma mera coleção de conhecimentos [3].
Portanto, como ambicionado, a abordagem das esferas de existência histórica do mundo atlântico depende de uma elaboração conceitual e de uma revisão dos instrumentos analíticos que dê conta das constantes de seu processo formativo. O que, dentro da produção italiana sobre o tema, é de grande significado. Como em países europeus e americanos, os estudos atlânticos ganharam relevo nos últimos anos dentro dos cursos de graduação e pós-graduação. A publicação deste livro, por exemplo, vem cinco anos depois do ótimo Il Mondo Atlantico: una storia senza confini (secoli XV-XIX), de Federica Morelli. Porém, em muitos casos, o Atlântico acaba sendo fortemente concebido como um prolongamento temporal da ordem geopolítica norte-atlântica pós-1945, sendo representado pelos países membros da OTAN (deixando pouco ou nenhum espaço para o Leste Europeu e a Península Ibérica), e excluindo em grande medida o Atlântico Sul, concebendo o ocidente a partir de um interesse que projeta uma interpretação de escopo reduzido.
Portanto, a tarefa assumida requer não apenas amplo conhecimento bibliográfico e documental, como também uma perspectiva metodológica que seja totalizante, por adição ou por relação. Neste campo historiográfico, Bernard Bailyn afirmara que fazer uma história atlântica implica a agregação do conhecimento de histórias locais e suas extensões ultramarinas, bem como as relações desse agregado, operando no campo da descrição de suas dinâmicas e elementos fundamentais e processuais [4]. Apresentando estes aspectos, o presente livro, além de vir em boa hora, é também fruto de uma carreira construída a partir de pesquisas de fôlego sobre a Europa e as Américas. Nos últimos anos, os estudos de Marcello Carmagnani vão da relação intrínseca entre o consumo de produtos extra-europeus e as transformações materiais e imateriais em suas sociedades [5] à formação e plena inserção da América Latina nas sendas do mundo ocidental [6]. E neste livro, como bem descrito, o enquadramento atlântico dos processos históricos e suas relações são delineados plenamente.
Dividindo a obra em cinco capítulos, Carmagnani inicia explorando seus pontos de partida. Pontos que não necessariamente levaram desde o princípio à sua formação, mas que foram determinantes para a estruturação de suas dinâmicas. Neste quesito, as técnicas de navegação e o delineamento das primeiras ocupações atlânticas merecem destaque. Encontramo-nos diante de um processo definido pela experiência e apresentado do seguinte modo: a adoção de técnicas originárias de contatos anteriores, em especial com a Ásia, são, junto com as técnicas locais, adaptadas para a uma realidade que posteriormente se transforma a partir da experiência prática adquirida. No que se refere à busca e ocupação de pontos intermédios no oceano Atlântico, verdadeiras pontes oceânicas, seus papéis são salientados pelas potencialidades como locais de troca e abastecimento/restauração de embarcações, e como primeira experiência de povoamento no além-mar. Com a instalação de estruturas produtivas baseadas no uso do trabalho escravo africano que engendrariam posteriormente o comércio e produção das colônias europeias na América, é ressaltado o desenvolvimento de uma rede mercantil europeia em torno do comércio açucareiro. Juntando estes dois fatores ressaltados, o desafio representado pelo Atlântico vê um número reduzido de agentes envolvidos e possui como seus mecanismos de propulsão a busca de ouro africano e o início do tráfico negreiro em direção às ilhas produtoras de açúcar, que acenavam à conexão entre comércio, técnica e experiência que simbolizam um círculo vicioso.
No segundo capítulo, os efeitos da conquista e o processo de territorialização de espaços americanos são centrais. A catástrofe demográfica americana, o consequente repovoamento e a transposição integral do tráfico negreiro ao mundo atlântico são ressaltadas por duas razões. A primeira diz respeito ao nascimento da articulação entre a costa, o interior e a fronteira aberta, ligando o comércio, as estruturas produtivas e político-jurídicas instaladas na América, tendo a prata e o açúcar como eixos indissociáveis. A segunda é a formação de sociedades específicas, que apesar das divergências locais, eram marcadas por conflitos e violências que visavam a dominação e subordinação da mão de obra. Deste modo, o repovoamento e a instalação produtiva nas Américas representa o nascimento de conflitualidades que levam os poderes coloniais a criarem mecanismos de limitação de contestações e perda de controle sobre o tecido social e produtivos cujas estruturas ainda reverberam.
O terceiro e quarto capítulos devem ser abordados em conjunto, pois enquanto dedica o primeiro à consolidação deste mundo, no outro descreve minuciosamente as plantações, a “originalidade atlântica”. Taxativamente, Carmagnani nos diz que o período entre 1650-1850 é o da afirmação atlântica como principal ator das conexões mundiais. O que era delineado anteriormente passa à concretude: não mais momentos fundamentais e de processos socioeconômicos formativos, mas de ação e projeção dos agentes históricos dentro e a partir deste mundo. Assim ocorre a mudança nos padrões de consumo dentro da Europa, com a oferta maciça de produtos extra-europeus, como café, tabaco, cacau e açúcar. Igualmente, a renda e acumulação de capital dos países europeus norte-atlânticos neste período atingiu índices de crescimento inimagináveis, levando-o, em referência à Eric Williams, a afirmar que o fluxo de capitais ingleses derivantes do comércio mundial, gerado no mundo atlântico e posteriormente na Ásia, permitiu em boa medida os investimentos à Revolução Industrial. Na África, o vínculo entre os mercadores locais e a ampla rede atlântica impulsiona a monetização das regiões costeiras. No Daomé, o equilíbrio entre sociedade, mercados locais e a administração monárquica nos ajuda a compreender por que o comércio atlântico em determinadas localidades africanas podia coexistir com as vicissitudes locais sem criar um mercado único, mas sim uma forte vinculação. No caso da Senegâmbia, o poder local foi ainda mais fortalecido por meio do comércio negreiro.
Tema que merece maior atenção, pois Carmagnani afirma que a expansão do trato transatlântico de escravos é conectada com as mudanças ocorridas não apenas na Europa, mas também na África, e com as estruturas produtivas americanas. Com isso, em um período de queda na oferta europeia de mão de obra, concomitante com a expansão produtiva nas Américas, o comércio de escravos, responsável por uma catástrofe demográfica na África, adquire amplas proporções e desencadeia um fenômeno de grandes dimensões. Diversas redes de comércio se aderiam aos portos de trato que leva ao incremento na demanda africana de tecidos, tabaco, e cachaça, ligando as economias ao ponto de, em determinados períodos do século XVIII, 40% dos produtos ingleses desembarcados na África serem usado para este comércio, enquanto no mundo português foi a sua quase totalidade, inclusive mudando profundamente seu circuito atlântico responsável por 41,8% do escravos desembarcados na América, quando o controle passa de mercadores não mais estabelecidos na Europa, mas sim no Rio de Janeiro e Bahia. Concomitante a essas redes de comércio, o incremento da produção de açúcar após a entrada em cena dos impérios do noroeste europeu aumenta a concorrência produtiva, levando áreas até então açucareiras a diversificarem suas produções.
Por fim, no que se refere ao trabalho e à produção, à parte as importantes considerações sobre as técnicas que favorecem o incremento produtivo, como o sistema de irrigação adotado em meados do século XVIII em Saint-Domingue e investimentos em vias de comunicação e meios de produção que permitiram o aumento da produtividade na Baía de Chesapeake, há um aspecto contraditório originado por uma questão semântica. Em uma passagem, o autor nos diz que escravos africanos, uma vez nas plantações, tinham um duro período de adaptação ao trabalho e de ambientação, aliado às parcas condições materiais, em sociedades que se formavam a partir de pressupostos raciais, dando vida a um sistema produtivo dividido entre um horizonte hierárquico e outro orientado ao lucro. Essa organização do trabalho apresentava tensões latentes, devido ao ritmo e ao controle produtivo. A formação de quilombos e comunidades maroons são exemplos de que esta adaptação não ocorria de fato. A busca de regulamentações e de controle por parte das sociedades coloniais nos leva a pontuar um fator que, em um leitor desatento, pode induzir a um erro de compreensão.
No último capítulo, dedicado às revoluções, a abordagem se baseia principalmente na recente produção historiográfica, dividindo-a em fases ascendente e descendente: a primeira compreende o período entre 1763 e 1815, e a segunda, até 1848. Analisemos as linhas gerais. Sobre a Revolução Americana, Carmagnani reitera que, diferentemente do que afirmam outros autores no cotejo dos eventos revolucionários nos Estados Unidos e na França, sugerindo certo disciplinamento e moderação na história norte-americana, ocorreram sim conflitos civis de monta e também se intensificou o massacre indígena. Ao mesmo tempo, parte significativa dos escravos participou diretamente no conflito, fato que influenciou aspirações de liberdade alhures, formando parte do processo que desembocou na grande rebelião escrava de 1791 na colônia francesa de Saint-Domingue (atual Haiti).
Na Revolução Francesa, se ressaltam suas idas e vindas bem como a leitura da situação política norte-americana. As relações com Saint-Domingue e o papel dos representantes caribenhos na abolição da escravidão em 1794 são cruciais pois sua inserção dentro da política revolucionária demonstra que, diferentemente da Jamaica, a contestação alcançou outra dimensão: não houve apenas uma influência advinda do processo francês, mas esta foi uma experiência que contribuiu ativamente na liberdade dos escravos e na superação, com a declaração de independência de 1804, do restabelecimento escravista decidido pelo governo imperial.
O êxito haitiano, contudo, é em parte responsável pelo caráter mais contido de diversas revoluções liberais posteriores. A moderação se deveu aos temores da classe proprietária e às revoltas eclodidas nas áreas escravistas atlânticas, sem abrir mão, contudo, dos ideais de cidadania e de governo representativo, como se vê na América ibérica, onde as classes dirigentes eram favoráveis à ampliação das reformas que ampliassem a participação política da elite colonial. Como exemplo, a independência brasileira deu luz à uma constituição liberal que centrou mais na organização do Estado que nos direitos dos cidadãos, reiterando o máximo possível a dinâmica da organização social advinda da ordem colonial. Portanto, Carmagnani é cético em afirmar que dessas revoluções nasce a democracia moderna: a representação não dependia da vontade direta da maioria dos cidadãos, e o peso dos interesses das elites foi preservado.
À guisa de conclusão, a obra faz um apanhado bibliográfico geral suficiente e amplo, apresentando os leitores a produção dos últimos 40 anos e instigando um campo de pesquisa promissor em âmbito italiano – os minúsculos erros de digitação na bibliografia não impedem a compreensão da citação, como A Costruçao do Orden. Em Connessioni Mondiali, Marcello Carmagnani, estudioso de projeção internacional, dá um passo importante em direção à “atlantização” da historiografia europeia em geral e italiana em particular.
Notas
1. Università degli studi di Torino. Turim – Itália.
2. Mestrando em Scienze Storiche na Università degli studi di Torino, Torino (TO), Italia. E-mail para contato: joao.covolansilva@edu.unito.it.
3. CARMAGNANI, Marcello. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018, p.5.
4. BAILYN, Bernard. Atlantic History: concepts and contours. Cambridge: Harvard University Press, 2005, pp.60-61.
5. CARMAGNANI, Marcello. Le Isole del Lusso: prodotti esotici, nuovi consumi e cultura economica europea, 1650-1800. Torino: Utet, 2010.
6. CARMAGNANI, Marcello. L’Altro Occidente: l’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio. Torino: Einaudi, 2003.
Referências
BAILYN, Bernard. Atlantic History: concepts and contours. Cambridge: Harvard University Press, 2005.
CARMAGNANI, Marcello. L’Altro Occidente: l’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio. Torino: Einaudi, 2003.
_____. Le Isole del Lusso: prodotti esotici, nuovi consumi e cultura economica europea, 1650-1800. Torino: Utet, 2010.
_____. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018.
MORELLI, Federica. Il Mondo Atlantico: una storia senza confini (secoli XV- -XIX). Roma: Carocci, 2013.
João Gabriel Covolan Silva1;2 – Università degli studi di Torino. Turim – Itália. Mestrando em Scienze Storiche na Università degli studi di Torino, Torino (TO), Italia. E-mail para contato: joao.covolansilva@edu.unito.it
CARMAGNANI, Marcello. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018. Resenha de: SILVA, João Gabriel Covolan. A afirmação do Atlântico na historiografia italiana. Almanack, Guarulhos, n.26, 2020. Acessar publicação original [DR]
El mundo en movimiento. El concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico norte (siglos xvii-xx) | Fabio Wasserman
Fabio Wasserman | Foto: Ana López |
 En las ultimas dos decadas el examen de los conceptos politicos fundamentales ha sido un campo de estudio que sigue produciendo interesantes resultados.
En las ultimas dos decadas el examen de los conceptos politicos fundamentales ha sido un campo de estudio que sigue produciendo interesantes resultados.
A partir de la red Iberconceptos y la elaboracion del Diccionario político y social del mundo iberoamericano —que ya posee dos tomos—,1 se ha logrado examinar la importancia de una veintena de conceptos claves para comprender el devenir de los procesos sociopoliticos de diversos paises entre 1750 y 1870. Precisamente este libro, bajo la compilacion de Fabio Wasserman, amplia y enriquece esta linea investigativa centrando su mirada especificamente en el concepto “revolucion”.
Ademas, incorpora otros procesos de transformacion politica y social que antecedieron o sucedieron paralelamente a los desarrollados en Iberoamerica, tales como los ocurridos en Inglaterra, Francia, America del Norte y las Antillas Francesas. Leia Mais
Poderes politicos y resistencias en la monarquia hispanica (siglos XVI-XVIII)/Estudios de Historia de España/2021
Algunas décadas han pasado desde que la historia política se ha alejado de la visión tradicional -ciertamente estrecha y constrictiva- de pensar la articulación del poder político a través de las estructuras institucionales centralizadas en permanente avance y expansión que acabarán constituyendo las intricadas tramas institucionales de gobierno y administración de las monarquías Ibéricas en su tránsito a la modernidad. Leia Mais
Capitali senza re nella Monarchia spagnola. Identità, relazioni/ immagini (secc. XVI-XVIII) / Rossella Cancila
En el contexto de los estudios sobre la monarquía hispánica en la primera Edad Moderna y sobre su naturaleza policéntrica, en los últimos años se ha prestado especial atención a la cuestión del papel de las ciudades como elementos neurálgicos de un sistema de poderes complejo y articulado en constante relación con la corte de Madrid, y sobre las dinámicas de representación simbólica de la figura del rey, sobre todo en los territorios no europeos. El libro Capitali senza re nella Monarchia spagnola es parte de este floreciente debate historiográfico desarrollado a partir de las ciudades, brindando importantes avances sobre algunas realidades urbanas de particular interés tanto por sus características intrínsecas como por el papel desempeñado fuera del reino e internacionalmente. Tal y como explica en la introducción Rossella Cancila —profesora titular de Historia Moderna en la Universidad de Palermo y editora del libro—, el conjunto de trabajos se propone indagar aspectos vinculados a la conformación, en ausencia del rey, de las ciudades como capitales de los distintos virreinatos, a la dialéctica entre centros y periferias y al despliegue de formas y representaciones del poder en el espacio público, con particular atención a los momentos festivos.
Capitali senza re nella Monarchia spagnola. Identità/ relazioni/ immagini (secc. XVI-XVIII) (T)
La obra presenta los resultados de la decimocuarta reunión anual de la Red Columnaria (XIV Jornadas de Historia de las Monarquías Ibéricas), encuentro que tuvo lugar del 27 al 29 de septiembre de 2018 en la Universidad de Palermo, y que formaba parte además de las iniciativas de celebración de la ciudad siciliana como Capital italiana de la Cultura durante ese año. Nacida en 2005, Columnaria es una de las más destacadas y prolíficas redes de investigación de la Edad Moderna, que reúne investigadores europeos y americanos con diferentes enfoques disciplinarios en torno a los espacios policéntricos de las monarquías, basadas en la presencia e interrelación de soberanías múltiples, cada una de ella expresión de los distintos poderes locales en relación con el central. Su estructura se articula a partir de 19 macroáreas de investigación, entre ellas el Nodo Italia Sur, que incluye algunos de los historiadores involucrados en las jornadas palermitanas y en el producto editorial que aquí se presenta.
Se trata de un total de veintitrés trabajos, divididos en dos volúmenes que corresponden a dos grandes vertientes temáticas, siendo la primera la identidad política y social de las ciudades, mientras la segunda corresponde a las estrategias de representación del poder (y poderes) que toman forma en los campos culturales (literario, ceremonial y arquitectónico). Aunque el italiano es el principal idioma adoptado, debido tal vez al origen de dos tercios de los autores y a la propia sede del encuentro, no faltan contribuciones en español, portugués e inglés. Las ciudades de interés pertenecen a diferentes contextos territoriales, y no se refieren solo a los dominios españoles: Palermo, Messina, Nápoles, Cagliari, Milán, Granada, Zaragoza y los otros centros del Reino de Aragón, sino también Lisboa, Goa, Lima, Santiago de Guatemala y Palma. En efecto, no se hace referencia solo a las ciudades con función de capital en aquellos territorios que conformaban los virreinatos, tal y como parece evocar el título, sino también incluye urbes que, pese a no ser capitales, tuvieron un papel destacado en relación con otras poblaciones de un mismo territorio y con centros de poder externos. Por otro lado, llama la atención la escasez de casos específicos del contexto colonial hispanoamericano, a pesar de que fueron contemplados en algunas ponencias presentadas en las jornadas, y a las cuales deseamos que encuentren su pronta publicación. En cualquier caso, está claro que el propósito del libro ha sido, más que pretender abordar la totalidad de las ciudades capitales, enseñar los resultados de las investigaciones sobre algunas de ellas.
El primer bloque comienza con un trabajo de Juan Francisco Pardo Molero sobre los principales centros de la Corona de Aragón, donde pone a Zaragoza en relación con Barcelona, Valencia, Cagliari y Mallorca y analiza el uso y función de los edificios designados como sede de gobierno virreinal. La ciudad de Granada y el papel del linaje de los Mendoza en el control de la Capitanía General es el tema del texto firmado por Antonio Jiménez Estrella, centrado en la fase posterior a la batalla de Alpujarras y en un momento de inflexión de la ciudad granadina frente al desarrollo de otros centros como Málaga. Elisa Novi, Giulio Sodano y Giuseppe Mrozek dedican su atención al Reino de Nápoles, respectivamente al proceso de edificación de los Quartieri spagnoli, al papel de las autoridades locales (Eletti della città y Seggi) en el gobierno del virreino, y a la actividad del Parlamento hasta 1642. Durante el reinado de Felipe IV, Palermo y Messina se enfrentaron en distintas ocasiones para ejercer su control sobre la isla siciliana, tal y como detalla Rossella Cancila en su contribución, asunto que se relaciona con el siguiente tema de Stefano Piazza sobre la conformación urbana de la ciudad de Palermo.
A continuación, tres trabajos se dedican a poner el acento en las peculiaridades económico-financieras de dos ciudades estrictamente relacionadas con la monarquía.
Matteo Di Tullio, Davide Maffi y Mario Rizzo presentan un pormenorizado análisis de la fiscalidad de Milán en relación con otros centros del ducado. Como demuestra Giovanna Tonelli, Milán era una destacada capital del comercio local e internacional; sin embargo, por su favorable posición geográfica, fue sin duda la ciudad lisboeta el principal puesto de comunicación hacia el Atlántico y en el Mediterráneo, así como explica Benedetta Crivelli. Las últimas dos contribuciones del primer volumen presentan dos significativos casos de declive y ascenso de dos capitales fuera del contexto europeo, Goa y Santiago de Guatemala. Ángela Barreto y Kevin Carreira se ocupan de la primera, aportando una nueva lectura del proceso de cesación de su rol como ciudad global, pero sin perder al menos su importancia regional. Por el contrario, la capital guatemalteca se convirtió durante el siglo xvi en sede de la Audiencia y de la Caja de Hacienda Real, según muestra Martha Atzin.
Las mismas ciudades examinadas en la primera parte de la obra, retornan como objeto de reflexión en el segundo bloque, pero ahora desde la perspectiva de la Historia Cultural y de las estrategias simbólicas vinculadas a las esferas del poder.
Manfredi Merluzzi pone en contexto la Historia de la fundación de Lima del jesuita Barnabé Cobo, obra publicada en 1639, y tan central en la configuración de la ciudad como capital del virreinato de Perú. La presencia/ausencia del rey en Lisboa durante las últimas décadas del siglo xvi y hasta la revuelta, es el tema elegido por Ana Paula Megiani mientras realiza una sugerente lectura de la vista de la ciudad fechada 1613 que se conserva en el castillo alemán de Weilburg. Al despliegue simbólico de la ciudad de Granada, sede del Panteón de los Reyes Católicos y de la Real Cancillería, se dedica el siguiente trabajo de Francisco Sánchez-Montes González, mientras que Maurizio Vesco propone una análoga lectura para los edificios públicos de Palermo y Mesina. La ciudad de Cagliari, pese a no ser considerada en la primera parte, recobra aquí la atención que merece, con cuatro ensayos elaborados respectivamente por Nicoletta Bazzano, Carlos Mora Casado, Fabrizio Tola y Alessandra Pasolini, en los que analizan diferentes fuentes literarias, artísticas y ceremoniales relativas a la historia de la capital de Cerdeña a lo largo del siglo xvii.
En cuanto a Nápoles, el trabajo de Valeria Cocozza se centra en el papel del Cappellano Maggiore, figura hasta ahora poco estudiada, y sin embargo fundamental en las dinámicas políticas de la corte virreinal. El tema de las redes diplomáticas entre las ciudades de la monarquía constituye el eje trabajado por Ida Mauro, quien aborda la cuestión a partir de varios episodios que relacionan ciudades italianas y españolas. Finalmente, Eduardo Pascual Ramos analiza el papel del Ayuntamiento de Palma en las Cortes durante la etapa borbónica.
Por lo que respecta a la edición, la obra constituye la trigésimo sexta contribución de la colección Quaderni de la Associazione no profit “Mediterránea”, realidad editorial palermitana que desde su fundación en 2004 está haciendo una encomiable labor en la publicación (impresa y en formato electrónico Open Access) de investigaciones sobre el contexto histórico del área mediterránea desde la Edad Media hasta la actualidad. Instituida por un grupo de académicos de la Universidad de Palermo y con sede en el Dipartimento Culture e Società, se ocupa también de la edición de una revista trimestral llamada Mediterranea – Ricerche Storiche, que en los últimos años se ha convertido en una publicación puntera a nivel italiano e internacional.
Milena Viceconte – Università degli Studi di Napoli “Federico II”. milena.viceconte@gmail.com.
CANCILA, Rossella (a cura di). Capitali senza re nella Monarchia spagnola. Identità, relazioni, immagini (secc. XVI-XVIII). Palermo, Associazione no profit “Mediterranea”. 2020, 2 vols., 542 págs. (Colección Quaderni, 36). Resenha de: VICECONTE, Milena. Memorias – Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe. Barranquilla, n.43, p.171-174, ene./abr., 2021. Acessar publicação original [IF].
Regalismo no Brasil colonial: a Coroa portuguesa e a Ordem do Carmo – Rio de Janeiro 1750-1808 | Leandro F. L. Silva
Superando a tradicional concentração de estudos nas atividades da Companhia de Jesus, as historiografias portuguesa e brasileira produziram nas últimas décadas uma quantidade significativa de trabalhos sobre a atuação de outras ordens religiosas na Época Moderna.[3] Apesar disso, no que tange ao impacto das medidas adotadas na segunda metade do século XVIII para reforçar a autoridade da Coroa face às corporações regulares, o caso paradigmático da expulsão dos jesuítas dos territórios lusitanos em 1759 continua a ser visto como evento quase exclusivo da prática regalista naquela esfera. Nesse quadro, o trabalho de Leandro Ferreira Lima da Silva oferece novas luzes para a compreensão mais ampla das medidas de controle da Coroa portuguesa sobre as ordens religiosas daquele período. Defendida originalmente em 2013 como Dissertação de Mestrado no Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo, a obra foi contemplada em 2016 com o prêmio História Social do referido Programa.
Duas características se destacam na investigação do autor: a abrangência da análise e o caráter minucioso da reconstituição de diferentes contextos que atravessam o período em exame. A consequência é o ambicioso plano da obra, desdobrando-se em quinze capítulos divididos em cinco partes, num total de 556 páginas. A matéria-prima para a análise proveio de diferentes acervos documentais. Devido à perda de grande parte da documentação da antiga Província Carmelitana Fluminense, o autor montou um repertório documental procurando recompor um quebra-cabeça cujas fontes estavam dispersas em arquivos tão distintos e distantes como o Arquivo Central da Província Carmelitana de Santo Elias, em Belo Horizonte; o Arquivo Nacional, o Arquivo Geral da Cidade e o Arquivo da Cúria Metropolitana, no Rio de Janeiro; e diferentes fundos documentais digitalizados do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. A impressão que fica é que o autor praticamente esgotou as fontes disponíveis no Brasil, restando por analisar apenas os arquivos europeus.
A historiografia também recebeu cobertura extensiva no livro. Dialogando com as obras de Evergton Sales Souza e José Pedro Paiva, para mencionar apenas alguns, Leandro Silva se mostra atualizado com relação à produção luso-brasileira sobre as questões da Igreja católica, da Ilustração, da Coroa e da colonização portuguesas no século XVIII. Com base na historiografia, Leandro Silva define o regalismo praticado nos domínios portugueses na segunda metade do século XVIII segundo uma dupla dimensão: a subordinação da Igreja e do clero aos poderes temporais da Coroa, “erradicando privilégios e imunidades”; e a manutenção do catolicismo como religião oficial do Estado, livrando-se, não obstante, das pressões da Santa Sé (p. 27). O tema da reforma regalista na Província do Carmo do Rio de Janeiro não é novo na historiografia. Inaugurado por Francisco Benedetti Filho, foi continuado por Sandra Rita Molina, cuja leitura o rigoroso escrutínio do autor deixou escapar.[4] As questões da administração dos bens da Província, da limitação do quantitativo de religiosos e do relaxamento moral dos carmelitas atravessam as três investigações sobre o tema. Mais recentemente, outro trabalho de Sandra Molina estendeu a análise dos referidos pontos até o final do período imperial, mostrando a continuidade da política regalista do Império do Brasil em relação às medidas adotadas anteriormente pela Coroa portuguesa.[5]
O diálogo com a historiografia internacional é relativamente pequeno na obra de Leandro Silva. Em que pese a lembrança do importante livro coletivo organizado por Ulrich Lehner e Michael Print, como também do já clássico estudo de Samuel Miller, o trabalho carece de referências mais amplas sobre o impacto de medidas de teor regalista que, adotadas por diferentes monarquias europeias na segunda metade do Setecentos, tiveram consequências diretas sobre as atividades das ordens religiosas em seus territórios.[6] Por fim, não existe a tentativa de efetuar um balanço historiográfico das mudanças estimuladas pelas reformas bourbônicas no campo da administração eclesiástica dos domínios hispano-americanos, cujo exame comparativo poderia constituir uma frutífera via de análise para o autor.Mesmo assim, o trabalho possui abrangência e profundidade incomuns para um projeto desenvolvido no âmbito do Mestrado. É o momento de se retomar essa dupla característica, aproximando-se agora do objeto. Trata-se de uma pesquisa que tem como objetivo assinalar os efeitos de diferentes medidas regalistas tomadas pela Coroa portuguesa com relação à Província do Carmo do Rio de Janeiro. Fundada em 1720, a Província do Carmo do Rio de Janeiro constituía desde 1595 uma vice-província que se encontrava até então dependente da Província de Portugal. A fundação fluminense abrangia os conventos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Angra dos Reis, de Santos, de São Paulo e de Mogi das Cruzes, bem como o hospício de Itu. Em informação remetida à Corte em 1763, o bispo do Rio de Janeiro denunciava que a própria fundação da Província ocorrera “com o dinheiro angariado através de negociações nas Minas e em outras regiões do Brasil”, com cujos recursos fr. Francisco da Purificação, o primeiro provincial, “soube merecer o agrado dos religiosos de Roma, onde tudo se compra” (p. 146, grifos do autor).
O recorte necessariamente monográfico da pesquisa não impede comparações com outros contextos. O autor traz à análise a recepção de medidas de teor análogo ocorridas nas províncias do Carmo da Bahia e na reformada de Pernambuco. Paralelamente, no que tange à capitania do Rio de Janeiro, o autor discute seu tema à luz de outros quadros, como as medidas de reforma empreendidas pela Coroa junto aos frades capuchos da Província Franciscana da Imaculada Conceição e o papel de carmelitas e franciscanos no mencionado território após o afastamento dos missionários jesuítas. A primeira parte da obra, abrangendo um único capítulo intitulado “A mentalidade regalista setecentista e o clero regular no Império Português”, anuncia o caráter amplo da abordagem do autor. Nessa parte, busca em textos basilares da Ilustração portuguesa, como o Testamento político de D. Luís da Cunha, um conjunto de argumentos que depois seriam postos em prática, ao longo dos reinados de D. José I e de D. Maria I, para o controle das corporações regulares. No discurso dos estrangeirados, a ênfase recai sobre o acúmulo de bens efetuado pelas ordens religiosas, quase sempre pela via de legados testamentários; o ingresso muito numeroso de noviços nas fundações conventuais; a ociosidade dos religiosos; as isenções relativas aos poderes seculares; e a falta de observância das regras. No processo da reforma dos frades carmelitas do Rio de Janeiro, tais pontos reapareceram com força nas ações das autoridades da Província.
A fina reconstituição dos contextos representa o que há de mais valioso no trabalho de Leandro Silva. A segunda parte, a maior da obra e que abrange seis capítulos, intitula-se “A Província de Nossa Senhora do Carmo do Rio de Janeiro e o ‘tímido’ regalismo pombalino (1750-1778)”. Na verdade, o material tratado no capítulo é mais amplo do que o indicado no recorte cronológico. O autor examina inicialmente a sublevação ocorrida no Convento do Carmo do Rio de Janeiro em 1743, quando lutas de facções davam o tom da administração da Província, dividindo ocupantes dos cargos em dois grupos opostos: os “filhos do Rio”, que abrangiam os religiosos naturais da referida capitania, e os “filhos de fora”, que, em sua maior parte, agrupavam os religiosos nascidos em Portugal e nas demais capitanias da Colônia (p. 106). Ao longo da segunda parte, o autor desenvolve um argumento muito convincente. Apesar da existência de sérios conflitos na Ordem, e da edição de numerosas medidas que, idealizadas por Sebastião José de Carvalho e Melo na década de 1760, destinavam-se a limitar a entrada de noviços e a diminuir o volume dos bens que ingressavam nas corporações regulares, ao longo do reinado de D. José I as diferentes autoridades coloniais não tomaram medidas rígidas de controle sobre os frades carmelitas do Rio de Janeiro. No contexto em pauta, os poderes coloniais sediados na capitania encontravam-se inteiramente envolvidos nas disputas de limites com a Espanha na região sul da Colônia, que foram apenas solucionados com o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777.
A terceira parte da obra abrange dois capítulos. Conforme o seu argumento principal, “se o consulado pombalino deu embasamento teórico às políticas regalistas e aos poderes dos bispos na Igreja nacional e frente à Santa Sé, no reinado mariano a Coroa aprofundou essas posições”. (p. 378). Seguindo, assim, as tendências da historiografia mais recente, o autor não identificou mudanças significativas na política regalista após a saída do Marquês de Pombal, em 1777. Além disso, as autoridades coloniais encontravam-se na ocasião já desembaraçadas dos problemas nas fronteiras do sul. Após a suspensão das eleições da Província em 1783, o vice-rei do Estado do Brasil apresentou à rainha D. Maria I um dossiê, “para fazer conceito do miserável estado em que se acha uma Corporação Religiosa que só serve de descrédito à Religião e de peso e mau exemplo ao Estado” (p. 259). No documento, que pautou os rumos da reforma que seria iniciada dois anos depois, acusa-se uma sucessiva quebra das regras religiosas e dos fundamentos da economia da Província: religiosos adquiriam em Roma ou em Lisboa privilégios honoríficos, afastando-se dos atos litúrgicos e do trabalho em comum; possuíam grande número de escravos pessoais para lhes servir, em contrariedade aos votos de pobreza; e tinham até concubinas, por vezes estabelecidas publicamente em residências próximas às sedes dos conventos, contrariando os votos de castidade. O vasto patrimônio imobiliário da Província, constituído por dezenas de moradias urbanas e fazendas, era mal administrado, chegando ao ponto de não produzir alimento suficiente para os próprios religiosos.
A quarta parte da obra estende-se por cinco capítulos. Após o envio da denúncia do vice-rei à Corte, D. José Joaquim Mascarenhas Castelo Branco, o bispo do Rio de Janeiro, foi nomedo como visitador e reformador da Província do Carmo. A atuação reformadora deste se direcionou principalmente a combater as irregularidades já apontadas pelo vice-rei. Suas ações visaram aprimorar o rendimento econômico das fazendas dos conventos, combater a concessão de distinções pessoais de caráter honorífico e regulamentar as atividades da comunidade, obrigando os frades à celebração dos atos litúrgicos e à assistência no refeitório coletivo. Além da intervenção direta de poderes externos à Ordem, a reforma na Província do Carmo do Rio de Janeiro se distinguiu por sua longa duração se comparada a iniciativas semelhantes introduzidas em outras ordens regulares. Após a resistência dos religiosos, e em aliança com poderes locais, como a Câmara do Rio de Janeiro, a reforma foi encerrada em 1800. A atuação do bispo promoveu um verdadeiro expurgo nos quadros da Província. Seu quadro de religiosos passou de 180 para 47 entre 1780 e 1799.Da perspectiva metodológica, a obra leva em conta que as inúmeras cartas produzidas pelos agentes administrativos envolvidos na reforma da Província Carmelita Fluminense – tais como o bispo do Rio de Janeiro, o vice-rei, os frades representantes da Província, o Senado da Câmara e o Conselho Ultramarino – podem ser vistas simultaneamente como instrumento de dominação da Coroa e como veículo “de negociação de súditos instalados nos mais longínquos pontos do ultramar” (p. 47). Recentemente, essa linha de estudos se revelou importante para um expressivo conjunto de historiadores, que sistematizou o funcionamento dos canais de comunicação política que uniam os diferentes poderes em funcionamento na monarquia portuguesa, nos dois lados do Atlântico.[7]
Introduzida na América Portuguesa em 1580 para cuidar da catequização do gentio e atender demandas espirituais dos colonos moradores na capitania de Pernambuco8, a Ordem do Carmo estabelecida no Rio de Janeiro não foi mais considerada capaz de realizar aquelas tarefas na segunda metade do século XVIII. Analisando os avanços e recuos das iniciativas de reforma, as relações estabelecidas entre os agentes seculares e eclesiásticos, bem como as bases teológicas e canônicas que fundamentaram a iniciativa da Coroa, a obra de Leandro Silva merece figurar ao lado de outras que constituem pontos de partida obrigatórios para o tema, como o clássico trabalho de Caio César Boschi, ou a recente coletânea organizada por Francisco Falcon e Cláudia Rodrigues.9
Notas
3. Com relação à América Portuguesa, a título ilustrativo: AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Grão-Pará e no Maranhão: missão e cultura na primeira metade de Seiscentos. Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa: Universidade Católica Portuguesa, 2005; SOUZA, Jorge Victor de Araújo. Para além do claustro: uma história social da inserção beneditina na América portuguesa, c. 1580 – c. 1690. Niterói: Eduff, 2014.
4. BENEDETTI FILHO, Francisco. A reforma da Província Carmelitana Fluminense (1785-1800). 1990. 190f. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. MOLINA, Sandra Rita. (Des)obediência, barganha e confronto: a luta da Província Carmelita Fluminense pela sobrevivência (1780-1836). 1998. 338f. Dissertação (Mestrado em História), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998.
5. MOLINA, Sandra Rita. A morte da tradição: a Ordem do Carmo e os escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889). Jundiaí: Paco Editorial, 2016. Esta obra foi resenhada por BARBI, Rafael José. Catolicismo, escravidão e a resistência ao Império: Um outro olhar. Almanack, n. 15, 2017, pp. 366-370.
6. LEHNER, Ulrich L.; PRINT, Michael (Dir.). A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe. Leiden: Brill, 2010; MILLER, Samuel J. Portugal and Rome (c. 1748-1830). An Aspect of the Catholic Enlightenment. Roma: Universitá Gregoriana Editrice, 1978; BEALES, Derek. Prosperity and Plun der. European Catholic Monasteries in the Age of Revolution, 1650-1815. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
7. FRAGOSO, João; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Um Reino e suas repúblicas no Atlântico: comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
8. HONOR, André Cabral. Envio dos carmelitas à América portuguesa em 1580: a carta de Frei João Cayado como diretriz de atuação. Tempo, v. 20, 2014, p. 1-19.
9. BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder: irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986; FALCON, Francisco; RODRIGUES, Cláudia (Orgs.). A “época pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: FGV: Faperj, 2015.
Referências
AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Grao-Para e no Maranhao: missao e cultura na primeira metade de Seiscentos. Lisboa: Centro de Estudos de Historia Religiosa: Universidade Catolica Portuguesa, 2005.
BARBI, Rafael Jose. Catolicismo, escravidao e a resistência ao Imperio: Um outro olhar. Almanack, n. 15, 2017, pp. 366-370.
BEALES, Derek. Prosperity and Plunder. European Catholic Monasteries in the Age of Revolution, 1650-1815. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
BENEDETTI FILHO, Francisco. A reforma da Provincia Carmelitana Fluminense (1785-1800). 1990. 190f. Dissertacao (Mestrado em Historia), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 1990.
BOSCHI, Caio Cesar. Os leigos e o poder: irmandades leigas e politica colonizadora em Minas Gerais. Sao Paulo: Atica, 1986.
FALCON, Francisco; RODRIGUES, Claudia (Orgs.). A “epoca pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: FGV: Faperj, 2015.
FRAGOSO, Joao; MONTEIRO, Nuno Goncalo. Um Reino e suas republicas no Atlântico: comunicacoes politicas entre Portugal, Brasil e Angola nos seculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2017.
HONOR, Andre Cabral. Envio dos carmelitas a America portuguesa em 1580: a carta de Frei Joao Cayado como diretriz de atuacao. Tempo, v. 20, 2014, p. 1-19.
LEHNER, Ulrich L.; PRINT, Michael (Dir.). A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe. Leiden: Brill, 2010.
MILLER, Samuel J. Portugal and Rome (c. 1748-1830). An Aspect of the Catholic Enlightenment. Roma: Universita Gregoriana Editrice, 1978.
MOLINA, Sandra Rita. A morte da tradicao: a Ordem do Carmo e os escravos da Santa contra o Imperio do Brasil (1850-1889). Jundiai: Paco Editorial, 2016.
MOLINA, Sandra Rita. (Des)obediência, barganha e confronto: a luta da Provincia Carmelita Fluminense pela sobrevivência (1780-1836). 1998. 338f. Dissertacao (Mestrado em Historia), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998.
SOUZA, Jorge Victor de Araujo. Para alem do claustro: uma historia social da insercao beneditina na America portuguesa, c. 1580 – c. 1690. Niteroi: Eduff, 2014.
William de Souza Martins – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro – RJ – Brasil. Professor Associado da Área de História Moderna do Instituto de História da UFRJ, onde atualmente ocupa a função de vice-diretor. Membro permanente do Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ, atuando como editor associado da Topoi: Revista de História. Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (2001) com a tese Membros do corpo místico: ordens terceiras no Rio de Janeiro (c. 1700 – 1822), que foi publicada em 2009 pela Edusp. Participa dos grupos de pesquisa Ecclesia (UNIRIO), ART (Antigo Regime nos Trópícos – UFRJ) e Sacralidades (UFRJ).
SILVA, Leandro Ferreira Lima da. Regalismo no Brasil colonial: a Coroa portuguesa e a Ordem do Carmo, Rio de Janeiro, 1750-1808. São Paulo: Intermeios/USP; Brasília: CAPES, 2018. Resenha de: MARTINS, William de Souza. Monarquia portuguesa e política regalista: ordens religiosas no final do setecentos. Almanack, Guarulhos, n.25, 2020. Acessar publicação original [DR]
Poderes, trajetórias e administração no Império português (séculos XVI-XVIII) / Revista Maracanan / 2020
O presente dossiê tem como objetivo promover a produção científica e o debate sobre as relações de poder, as trajetórias e os conflitos entre os diversos representantes, oficiais e agentes régios no Império português entre os séculos XVI e XVIII. Relações essas que vão se dar a partir das dinâmicas presentes no âmbito das representações políticas, econômicas e socioculturais das instituições administrativas na América portuguesa.
Os estudos historiográficos acerca do estabelecimento de instituições (administrativas, religiosas, militares, etc.) e as relações de poder constituídas nas mais diversas escalas ganharam, nas últimas décadas, novos olhares a partir do constante diálogo com pesquisas desenvolvidas por historiadores estrangeiros, a incorporação de novas fontes documentais, aportes teórico-metodológicos e a constituição de bases de dados por grupos de pesquisas nas universidades brasileiras.[1] Desta maneira, este dossiê pretende aprofundar o debate sobre os poderes e as instituições constituídas na América portuguesa, enfocando: as redes de alianças políticas e econômicas, os espaços de poder, a fixação de instâncias administrativas, jurídicas e religiosas, regulação legislativa e a dinâmica local, comunicação e correspondência no império português, poder local e hierarquia administrativa, agentes coloniais / metropolitanos e suas trajetórias, poder e distinção social, disputas de jurisdição, fiscalidade e justiça. Estas temáticas estão presentes nas pesquisas que compõem este dossiê e nos permitem a compreensão dos múltiplos poderes constituídos a partir das diversas experiências particulares e coletivas vivenciadas no espaço colonial.
Neste sentido, o primeiro artigo do dossiê de autoria de Hugo André Flores Fernandes Araújo, “Casa, serviço e memória: origens sociais, carreira e estratégias de acrescentamento social dos governadores-gerais do Estado do Brasil (Século XVII)” propõe uma reflexão sobre as trajetórias sociais de sujeitos históricos que serviram a Coroa portuguesa em diversos territórios, problematizando o perfil característico deste grupo por meio das fontes e do diálogo com a historiografia.
As trajetórias sociais e administrativas também compõem o eixo de reflexão proposto por Tânia Maria Pinto de Santana para analisar a administração do Hospital de São João de Deus. A autora de “Império português, poderes locais e a administração do Hospital de São João de Deus da Vila de Cachoeira (Bahia, séc. XVIII)” investiga as práticas administrativas na referida instituição com vistas a perceber a importância deste espaço de poder para as elites locais.
Seguindo o eixo de análise acerca das trajetórias, o artigo intitulado “A trajetória de Pedro Barbosa Leal e as redes de conquistas no sertão da capitania da Bahia, 1690-1730” de Hélida Santos Conceição, evidência a trajetória do coronel e sertanista Pedro Barbosa Leal por meio do arrolamento de seus serviços prestados no processo de conquista dos sertões da Bahia. Ademais, a autora aponta o caso singular deste agente inserido nos espaços da nobreza e na atividade sertanista.
A constituição de um correio mensal entre São Luís e Belém por volta de 1730 é investigada por Romulo Valle Salvino em “Um correio pelo caminho de terra: as comunicações no estado do Maranhão e Grão-Pará nos princípios do século XVIII”. Para o autor, a instituição deste canal de comunicação pelo Governador do Estado do Maranhão e Grão-Pará, Alexandre de Sousa Freire, desenvolveu-se como um pioneirismo. A análise deste caso particular é realizada a partir da historicidade do sistema de correios do período moderno.
O artigo, “A Restauração de A gola e os pedidos de mercês o século XVII”, de Ingrid Silva de Oliveira Leite finaliza a seção de artigos do dossiê. A autora busca analisar o processo de requisição de mercês a Coroa portuguesa no contexto da Restauração de Angola, objetivando compreender a prestação dos serviços no conflito frente aos holandeses, a solicitação das mercês, o mapeamento destes sujeitos e se os mesmos foram agraciados em suas demandas.
As entrevistas realizadas com o professor Dr. George Felix Cabral e com a professora Dra. Laurinda Abreu também compõem o presente dossiê. A primeira delas, realizada pelos organizadores desta edição com o professor de História da Universidade Federal de Pernambuco, procura debater as percepções da História e seus desafios na contemporaneidade. A segunda entrevista, realizada por Thiago Enes com a professora da Universidade de Évora, aborda a “A controversa trajetória de Diogo Inácio de Pina Manique, Intendente-Geral da Polícia da Corte e do ei o”, conforme título.
A seção Notas de Pesquisa é composta por três estudos. A publicação do excelente estudo de Wanderley de Oliveira Menezes sobre “Administrar a justiça d’El ei o ei o e no Ultramar: a trajetória do bacharel José Álvares Ferreira (1772-1810)” abre a seção dialogando com o eixo temático proposto neste dossiê acerca dos poderes, trajetórias e administração no Império português. Em seguida, os trabalhos de Sheila Hempkemeyer sobre “Cidades e corpos – Histórias e movimentos” e o de Amanda Peruchi, intitulado “Abelhas ou Zangões: as primeiras normas para o profissional da farmácia do Brasil o início do século XIX” finalizam as notas de pesquisa.
A seção artigos conta com alguns estudos de temáticas diversas e importantes para contribuir com essa publicação, a saber: “Visitando obras historiográficas do Império Lusitano na Oceania: Um recorte da história de Timor-Leste”, de Hélio José Santos Maia & Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira; “Os artífices do poder: mecanismos de ascensão social em Guarapiranga (MG), 1715-1820”, de Débora Cristina Alves; “No fio da navalha: a questão do tráfico internacio al de escravos o Conselho de Estado” de Ricardo Bruno da Silva Ferreira “Tráfico de escravos e escravidão na trajetória do Barão de Nova Friburgo – Século XIX”, de autoria de Rodrigo Marins Marretto “O que a cidade de Ipásia tem a nos dizer sobre pixação? Leituras possíveis de As Cidade Invisíveis, de Ítalo Calvino, e São Paulo / SP ”, de Bianca Siqueira Martins Domingos, Fabiana Felix do Amaral & Silva e Valéria Regina Zanetti; “Imagens em versos e acordes: a represe tação da cidade de Feira de Santana através do seu hino”, de autoria de Aldo José Morais Silva; “A cidade ‘perigosa’ e sua instituição ‘tranquilizadora’: o Recife no contexto da reforma prisional do Oitocentos”, de Aurélio de Moura Britto; e, “As cidades e suas contribuições para o do ativo do dote e paz”, de autoria de Letícia dos Santos Ferreira.
Por fim, a edição conta ainda com a resenha de Igor Lemos Moreira sobre o livro A formação da coleção latino-americana do MoMA: Arte, cultura e política (1931-1943), publicado em 2019 pela Paco Editorial. Boa leitura!
Nota
1. Cf.: FRAGOSO, J.; BICALHO, M. F.; GOUVÊA, M. de F. (orgs.). Antigo Regime nos Trópicos: A Dinâmica Imperial Portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001; SAMPAIO, A. C. J.; ALMEIDA, C. M. C.; FRAGOSO. J. Conquistadores e negociantes: histórias de elites no Antigo Regime nos trópicos: América lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007; FRAGOSO, J.; GOUVÊA, M. F. (orgs.). Na trama das redes: política e negócio no império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010; FRAGOSO, J.; SAMPAIO, A. C. J. (orgs.). Monarquia pluricontinental e a governança da terra no ultramar atlântico luso: Séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012; VENÂNCIO, R. P.; GONÇALVES, A. L.; CHAVES, C. M. D. G. (orgs.). Portugal e Brasil os séculos XVIII e XIX. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012; FRAGOSO, J.; GOUVÊA, M. (orgs.). O Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 3 vols.; dentre outros
Referências
FRAGOSO, J.; BICALHO, M. F.; GOUVÊA, M. F. (orgs.). Antigo Regime nos Trópicos: A Dinâmica Imperial Portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
FRAGOSO, J.; GOUVÊA, M. (orgs.). O Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 3 vols.
FRAGOSO, J.; GOUVÊA, M. F. (orgs.). Na trama das redes: política e negócio no império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
FRAGOSO, J.; SAMPAIO, A. C. J. (orgs.). Monarquia pluricontinental e a governança da terra no ultramar atlântico luso: Séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012.
SAMPAIO, A. C. J.; ALMEIDA, C. M. C.; FRAGOSO. J. Conquistadores e negociantes: histórias de elites no Antigo Regime nos trópicos: América lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
VENÂNCIO, R.P.; GONÇALVES, A. L.; CHAVES, C. M. D. G. (orgs.). Portugal e Brasil nos séculos XVIII e XIX. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012.
Rafael Ricarte da Silva – Professor Adjunto do curso de História da Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros. Doutor e Mestre em História Social e licenciado em História pela Universidade Federal do Ceará; Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: rafa-ricarte@hotmail.com https: / / orcid.org / 0000-0003-4085-5401 http: / / lattes.cnpq.br / 1472762122361574
Reinaldo Forte Carvalho – Professor Adjunto do curso de História da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco; Mestre em História e Culturas pela Universidade Estadual do Ceará; Licenciado em História pela Universidade Federal do Ceará. E-mail: reinaldoforte@yahoo.com.br https: / / orcid.org / 0000-0001-7930-8670 http: / / lattes.cnpq.br / 4435223781591585
SILVA, Rafael Ricarte da; CARVALHO, Reinaldo Forte. Apresentação. Revista Maracanan, Rio de Janeiro, n.25, 2020. Acessar publicação original [DR]
Histoire des élèves en France. Volume 1. Parcours scolaires, genre et inégalités (XVIe-XXe siècles) – CONDETTE; CASTAGNET LARS; Histoire des élèves en France. Volume 2. Ordres, désordres et engagements (XVIe-XXe siècles) – KROP; LEMBRÉ (APHG)
CONDETTE, Jean-François; CASTAGNET-LARS, Véronique (dir.). Histoire des élèves en France. Volume 1. Parcours scolaires, genre et inégalités (XVIe-XXe siècles). Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », 2020. 566p. KROP, Jérôme; LEMBRÉ, Stéphane (dir.). Histoire des élèves en France. Volume 2. Ordres, désordres et engagements (XVIe-XXe siècles). Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », 2020. 376p. Resenha de: BELLA, Sihem. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 28 août 2020. Disponível em: < https://www.aphg.fr/Histoire-des-eleves-A-propos-des-deux-volumes-diriges-par-J-F-Condette-V>Consultado em 11 jan. 2021.
Les deux volumes de l’Histoire des élèves en France, respectivement dirigés par Jean-François Condette, Véronique Castagnet-Lars pour le premier volume et Jérôme Krop et Stéphane Lembré pour le second volume, sont parus aux presses universitaires du Septentrion en juin 2020. Ils regroupent des contributions fondées sur des communications prononcées en 2016 lors de journées d’étude à l’université d’Artois. Ils posent des jalons essentiels en histoire de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse dans le contexte scolaire, et renouvellent l’historiographie des élèves aux périodes moderne et contemporaine en France.
Placer les élèves au centre : ainsi s’affirme d’emblée l’ambition des vingt-cinq contributeurs de l’Histoire des élèves en France. Jalonnées par de nombreuses études de cas s’inscrivant dans le temps long (du XVIe au XXe siècle), ces ouvrages constituent une somme riche pour envisager les élèves comme des acteurs à part entière du système éducatif français. Les deux volumes sont organisés thématiquement, privilégiant ainsi une perspective diachronique ; le premier volume porte sur les parcours scolaires, le genre et les inégalités, alors que le second volume s’intéresse davantage aux questions d’ordres, de désordres et d’engagements. Une bibliographie détaillée et organisée thématiquement est adjointe aux volumes, constituant un excellent support pour explorer l’historiographie des élèves. La construction rigoureuse de l’ouvrage et la clarté des introductions et des conclusions rendent la lecture aisée et les liens entre les contributions limpides. L’ensemble du territoire national français est a priori concerné, avec par exemple des études portant sur les petites écoles de Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles (Aurélie Perret, volume 1, p. 35), les lycées parisiens au tournant des XIXe et XXe siècles (Stéphanie Dauphin, volume 1, p. 409) aussi bien que sur les écoles primaires rurales du Nord et du Pas-de-Calais au XIXe siècle (Séverine Parayre, volume 2, p. 149). L’accent est cependant mis sur le milieu urbain et sur la France métropolitaine, sans propos spécifique sur les élèves de l’empire colonial ou de l’outre-mer. Les contributions sont de mêmes moins nombreuses sur l’Ancien Régime et la Révolution française que sur le XIXe et le XXe siècle.
Les contributions du premier volume sont principalement consacrées à la description des déterminismes sociaux, économiques, culturels ou encore géographiques dont les élèves ont été les objets. La liberté de choix des élèves et de leur famille est également envisagée. Éminemment politiques, les enjeux éducatifs sont eux-mêmes en prise, de près ou de loin, avec les événements agitant la société de leur temps. Les élèves, contrairement aux femmes par exemple, ne sont pas des oubliés de l’histoire à proprement parler ; ils sont cependant souvent relégués à l’arrière-plan, considérés comme de simples personnages et essentialisés (en atteste l’emploi récurrent du singulier « l’élève »). Le biais des sources existantes, en grande partie produites par l’institution scolaire, laissent peu de place aux individualités et à la notion de parcours. Les statistiques et considérations générales de l’administration doivent ainsi être contrebalancées par les travaux, récits et témoignages d’élèves ou encore par les registres d’inscription ou de sanction. L’exploration de représentations répandues et persistantes doit nécessairement être menée selon les auteurs : l’opposition manichéenne entre bons et mauvais élèves, les stéréotypes genrés ou encore les figures stéréotypées comme celle du boursier méritant doivent être nuancés. Ainsi les historiens des élèves ont la possibilité de s’appuyer sur des récits littéraires, comme ceux de Marcel Pagnol exaltant la figure romanesque du boursier, qui sont des sources importantes pour reconstituer un système scolaire ségrégué. Outre la question des représentations à dépasser, la question de la définition même de l’élève pose question. La difficulté du critère de l’âge est par exemple relevée par les auteurs : à partir de quand et jusqu’à quand est-on considéré(e) comme élève ? Carole Christen livre par exemple une contribution sur les élèves adultes, déconstruisant certains préjugés à cet égard (volume 1, p. 345).
De même, le premier volume s’interroge sur la place à accorder aux choix personnels et familiaux dans les scolarités des élèves et à la place des déterminismes et des solutions mises en place par l’institution pour les réduire. Il s’organise en trois parties : la première porte sur les logiques institutionnelles qui organisent le système éducatif, la deuxième sur une approche sociologique et spatiale des trajectoires des élèves et la troisième sur l’expérience scolaire des élèves. Ne pouvant rendre compte de la totalité des contributions, deux ont retenu notre attention dans le volume 1 : celle de Jean-François Condette sur la lutte contre l’absentéisme à partir du cas des écoles primaires du Nord et du Pas-de-Calais entre 1882 et 1914 (p. 151) et celle de Patricia Legris sur la séparation des sexes à partir du cas des écoles normales primaires des Ardennes entre 1945 et 1969 (p. 459).
Jean-François Condette étudie l’absentéisme dans les écoles primaires du Nord et du Pas-de-Calais entre 1882 et 1914 en envisageant les formes et les motifs de ce qui est pour lui une remise en cause de l’école républicaine, ainsi que les stratégies des administrations pour y mettre fin. Son étude s’appuie notamment sur des données statistiques exhaustives, des images d’Épinal donnant à voir des élèves ou encore des rapports d’incident. Malgré la loi Ferry du 28 mars 1882, l’absentéisme persiste en effet dans la région, notamment parce que les élèves restent associés au monde du travail dans les milieux précaires. D’autres raisons sont avancées par l’historien : les raisons médicales avec la persistance des maladies et épidémies dans les mêmes milieux, ou encore l’influence du contexte politique. En effet, le conflit idéologique entre école publique laïque et école privée catholique a donné lieu à de véritables guerres scolaires, Jean-François Condette évoquant particulièrement les « guerres de manuels » (p. 182). L’enlisement des projets de lois de lutte contre l’absentéisme s’explique en partie par la guerre entre les deux écoles.
Patricia Legris a quant à elle étudié la séparation des sexes à partir du cas des écoles normales primaires des Ardennes entre 1945 et 1969, en se concentrant de fait sur les élites des classes populaires et moyennes. Selon elle, la remise en marche des écoles normales primaires ayant été difficile après la guerre, le caractère genré des formations persiste de manière très marquée alors que la mixité est toujours plus répandue dans le reste du système scolaire. Si quelques activités extrascolaires sont mixtes, comme le théâtre, celles-ci sont l’objet de chaperonnage par les professeurs qui veillent notamment à réprimer farouchement la sexualité des élèves. La persistance de cette non-mixité s’explique notamment par une volonté de la part des autorités scolaires de « garantir le prestige » des écoles normales primaires (p. 468), afin d’éviter la fuite des élèves pour les plus prestigieux baccalauréats de philosophie ou de mathématiques d’autres établissements. Alors que les flirts comme les blue jeans sont pendant une longue période interdits, la fin des années 1960 marque une rupture nette. Les mobilisations de Mai 68, l’influence des grèves et des idées politiques de gauche porteurs d’émancipation pour les jeunes finit par favoriser la mixité dans ces écoles.
Le second volume vise davantage encore à considérer les élèves comme des acteurs à part entière du système éducatif, dans la mesure où il rassemble des contributions portant sur les ordres, les désordres et les engagements relatifs aux élèves. Les enjeux politiques nombreux autour de l’éducation sont disséqués avec précision. Pour former, informer et conformer les élèves, l’école s’est faite à la fois le reflet et le produit de la société française. Aussi, les phénomènes d’adhésion autant que de contestation de l’ordre scolaire sont prioritairement étudiés. L’usage de sources permettant de faire entendre la parole des élèves est particulièrement souligné : des écrits de pédagogues, des extraits de presse lycéenne, les traces des activités des associations d’anciens et anciennes élèves, ou encore des textes règlementaires et des sources orales ont été employés dans les recherches présentées.
Les auteurs soulignent notamment la difficulté d’écrire une histoire des élèves dans une société quasi intégralement passée par l’école : ils parlent de « l’évidence du passé d’élève » (p. 18). La chronologie des politiques éducatives laisse en effet peu de place aux élèves en histoire de l’éducation, sauf « quelques heureuses exceptions » comme les travaux de l’historienne de l’enfance et de l’adolescence dans la Première Guerre mondiale Manon Pignot (p. 17). Il s’agit par ailleurs de ne pas négliger l’idée que l’institution scolaire est également « appropriée et transformée par ses usagers » (p. 17). Ainsi les auteurs reprennent à leur compte le concept d’agency ou liberté d’action des acteurs (p. 21), à l’honneur dans un grand nombre de champs historiographiques actuellement, au sujet des élèves. Le but du second volume est finalement d’interroger les modes de participation des élèves à la vie des établissements, en accordant de fait une place plus grande aux adolescents, et notamment aux lycéens. Par conséquent, la surreprésentation de l’enseignement secondaire contraint les auteurs à s’intéresser à une élite sociale essentiellement masculine. A rebours d’une idée répandue, les auteurs affirment qu’en matière de participation des élèves à la vie de leur établissement, Mai 68 n’est pas qu’un « point de départ » mais une « étape dans une longue histoire du rôle des acteurs dans les continuités et les changements que connaissent ces établissements » (p.20). Si les années 1960 constituent un tournant, il ne s’agit donc pas de considérer la période comme une rupture nette. L’ouvrage s’organise en trois temps : les formes de la participation des élèves à la vie des établissements sont d’abord explorées, avant une analyse des normes scolaires et disciplinaires au quotidien. Enfin, la place des élèves dans la cité, leurs contestations et leurs engagements sont étudiés dans un troisième temps. Ne pouvant rendre compte de la totalité des contributions, deux ont retenu notre attention dans le volume 2 : celle de Véronique Castagnet-Lars sur les violences dans le cadre scolaire durant les affrontements confessionnels aux XVIe et XVIIe siècles (p. 225) et celle de Jérôme Krop sur la contestation lycéenne à la télévision en 1968-1969 (p. 299).
Les violences dans les collèges catholiques et protestants durant les affrontements confessionnels aux XVIe-XVIIe siècles peuvent-elles être qualifiées de « scolaires » ? La question guide la réflexion de Véronique Castagnet-Lars dans sa contribution. Si l’on considère l’importance du contexte social, politique et culturel, il est en effet difficile de distinguer les violences dues au cadre proprement scolaire et les violences confessionnelles entre catholiques et protestants pénétrant dans le cadre scolaire. L’historienne constate l’incapacité des règlements successifs à proscrire le port d’armes des élèves, discutant notamment l’idée répandue selon laquelle l’école participe de la « disciplinarisation » des sociétés. Les écoliers apparaissent en effet comme une « population citadine turbulente » (p. 232), susceptible de se constituer en bandes ou en troupes pour commettre des violences. L’autrice analyse également le fonctionnement des autorités répressives, en notant par exemple que l’échelle des peines est globalement empruntée au droit des adultes – lequel se trouvait, sous l’Ancien Régime, sous le regard de Dieu. Ainsi l’amende honorable et les punitions corporelles avec usage du fouet figurent par exemple dans l’éventail des sanctions encourues par les élèves violents (p. 240).
La contribution de Jérôme Krop sur la contestation lycéenne à la télévision en 1968-1969 se situe à la jonction de l’histoire de la jeunesse et des élèves et de l’histoire des médias. L’historien s’interroge sur la place de la télévision dans la contestation lycéenne en étudiant trois magazines : Dim, Dam, Dom, Les Chemins de la vie et Panorama. Dim, Dam, Dom est selon l’auteur « l’unique exemple d’une expression télévisuelle dans le sens des discours contestataires » (p. 307), alors que Les Chemins de la vie permet des débats entre militants lycéens et représentants de l’Éducation nationale. Panorama est quant à lui un magazine donnant lieu à des échanges entre lycéens et journalistes. Jérôme Krop note la rareté de la présence lycéenne contestataire dans un média comme la télévision, sous une tutelle politique forte en 1968. La disparition de leur présence à la télévision coïncide avec la fin du dialogue avec la jeunesse contestataire.
En conclusion, la somme ambitieuse que représente cette Histoire des élèves en France parue aux Presses universitaires du Septentrion apporte un éclairage riche, construit et extrêmement instructif, ponctué d’études précises sur des acteurs et actrices au cœur des préoccupations des professeurs non seulement d’histoire-géographie mais également des professeurs d’autres disciplines et des administrateurs des enseignements primaire, secondaire voire supérieur en France. Pour l’attention et la précision portées à cette historicisation des élèves, il s’agit d’une lecture nécessaire : l’histoire des élèves paraît constituer un levier pour le renouvellement de l’histoire de l’éducation. Si l’étude s’arrête à la fin du XXe siècle, il est indéniable que ces contributions posent les jalons prometteurs de recherches sur l’histoire des élèves du XXIe siècle, jusqu’à ceux des temps présents. L’influence du numérique, les conséquences sur les élèves du contexte exceptionnel engendré par l’épidémie de Covid-19 en 2020 sont autant de pistes pouvant s’inscrire dans la continuité de l’entreprise d’histoire des élèves dirigée par J.-F. Condette, V. Castagnet-Lars, J. Krop et S. Lembré.
Liens utiles :
Présentation des deux volumes par l’éditeur :
http://www.septentrion.com/fr/livre…
http://www.septentrion.com/fr/livre…
Sihem Bella – Professeure d’histoire-géographie au lycée Jean Moulin à Roubaix (59).
[IF]Edmund Burke: redescobrindo um gênio – Russel Kirk / Rodrigo Perez / 11 ago 2020
Ouvimos falar, à esquerda, à direita e ao centro, que o Brasil está sendo governador por “conservadores”. A própria sociedade brasileira seria “conservadora”. Mas o que significa ser conservador? Fora dos clichês, o que é conservadorismo?
Acessar publicação original
Instrução pública e projeto civilizador: o século XVIII como intérprete da ciência, da infância e da escola | Carlota Boto
Com análise acurada e aprofundada pesquisa, Carlota Boto ofereceu ao público leitor um estudo atento acerca de temas fundamentais para a História da Educação, como as concepções de ciência, infância e escola. O livro Instrução pública e projeto civilizador é resultado da tese de livre-docência da autora, defendida em 2011, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e publicada em 2017, pela Editora Unesp.
A pesquisadora é reconhecida pelas discussões e trabalhos que desenvolve no campo da História da Educação no Brasil. Pedagoga e historiadora, mestre em Educação e doutora em História Social, Carlota Boto é atualmente Professora Titular da Faculdade de Educação da USP (FEUSP). Entre seus diversos livros, capítulos e artigos publicados em periódicos, merece destaque A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa, publicado pela Editora Unesp, em 1996.
Em Instrução pública e projeto civilizador, a autora desenvolveu uma análise sobre alguns dos pensadores do século XVIII que se preocupavam com questões muito proeminentes à sua época, relativas, sobretudo, às ideias de aprimoramento da vida em sociedade e de construção de um novo modelo sociopolítico. O objetivo principal do estudo foi identificar esses sujeitos como intelectuais e homens de saber que atuaram na esfera pública propondo ideias e discutindo questões complexas, no interesse último de lançar as bases para a nova sociedade que se forjava naquele período (BOTO, 2017). Uma das discussões que atraíram a atenção desses intelectuais com mais vigor, como demonstrado no livro, dizia respeito à instrução pública e seu papel civilizador na sociedade moderna.
Do objetivo traçado na pesquisa que deu origem ao livro emergiu uma categoria conceitual que teve importância fundamental no desenvolvimento de toda a análise: a noção de intelectual. Em vista da relevância do conceito, Carlota Boto dedicou um preâmbulo especialmente para discuti-lo. A partir de um esforço teórico, a autora buscou arregimentar diversas conceituações acerca da figura do intelectual na história, mobilizando autores que se ocuparam desse tema, desde o século XVIII até os dias atuais. Assim, as concepções construídas a partir das reflexões de Julian Benda, Max Weber, Norberto Bobbio, Antonio Gramsci, Jean-Paul Sartre e Edward Said, com seus encontros e desencontros, foram articuladas visando definir o que a historiadora chamou de “modo de ser iluminista” (BOTO, 2017, p. 23). Este modo de ser, no que se diz respeito aos homens de letras cujas obras foram analisadas no livro, se caracterizava por uma atitude ativa perante a esfera pública. Os escritores no Iluminismo se constituíam, para a autora, como intérpretes e analistas de seu próprio tempo (BOTO, 2017).
A partir dessa base teórica, a pesquisadora transcorreu pelos vários textos e autores ilustrados que formaram a matéria prima do seu estudo. Todos os letrados analisados foram compreendidos como representantes do “modo de ser iluminista”, empenhados na construção de alternativas para os problemas políticos e sociais.
Instrução pública e projeto civilizador é composto por três grandes capítulos, subdivididos em vários tópicos, nos quais a autora, com escrita fluída e narrativa coesa, analisou a produção de pensadores iluministas, articulando-a ao contexto político e cultural do século XVIII. De forma sutil e indireta, cada um dos capítulos revela, num nível mais profundo, um estudo sobre as três categorias que formam o subtítulo do livro: ciência, infância e escola.
Na primeira parte, intitulada Iluminismo em territórios pombalinos: a formação de funcionários como alicerce da nação, Carlota Boto tomou como objeto de pesquisa a produção de três autores portugueses que, segundo ela, construíram suas reflexões tendo como base as experiências filosóficas iluministas: D. Luís da Cunha (1662-1749), António Nunes Ribeiro Sanches (1699-1782) e Luís António Verney (1713-1792). O objetivo principal da autora foi apontar para a intrínseca relação entre as ideias pedagógicas e científicas desses intelectuais e o projeto de reforma do Estado português, empreendido por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, Secretário de Estado dos Negócios do Reino de Portugal, a partir de 1759.
O argumento central do capítulo é a afirmação de que ação estatal dirigida pelo Marquês de Pombal, especialmente no que tange à educação e à ciência, foi referenciada nas reflexões teóricas dos autores iluministas em foco no estudo. Assim, para a autora, analisar a obra desse grupo de letrados corresponde a investigar parte das diretrizes e orientações centrais da pedagogia encampada e difundida pelo Estado português sob a direção de Pombal.
Para a realização da análise, foram mobilizados dois grupos de fontes. O primeiro é composto por livros e tratados dos três homens de letras estudados pela pesquisadora. Já o segundo conjunto abarca documentos relativos às reformas pombalinas na Universidade de Coimbra, como o Compêndio histórico do estado da Universidade de Coimbra (1771) e os Estatutos da Universidade de Coimbra (1772). O último, conforme a autora, pode ser considerado “o principal arcabouço da modernidade portuguesa do século XVIII em matéria de educação” (BOTO, 2017, p. 150).
A primeira parte do estudo apresenta, assim, uma discussão ampla a respeito de temas variados. A análise se deteve sobre o pensamento de cada um dos autores em foco, de maneira atenta e específica. Além disso, a historiadora se debruçou sobre a organização da escola pública traçada pelo Marquês de Pombal, bem como sobre a reformulação dos cursos e da estrutura da Universidade de Coimbra. Contudo, merece destaque o fato de que toda a narrativa esteve marcada por uma assertiva comum e sempre presente. Tratase da afirmação de que o pensamento dos iluministas portugueses e as reformas pombalinas favoreceram a elevação do alicerce central que conduziu o movimento de modernização em Portugal durante o século XVIII, qual seja, a ciência moderna pautada pela secularização, pela racionalização e pela ampliação do papel do Estado nos campos acadêmicos.
Na segunda parte do livro, a pesquisadora dedicou-se ao estudo da obra de outro importante personagem do Iluminismo, Jean-Jacques Rousseau. Intitulado Política e pedagogia na arquitetura ilustrada de Rousseau, o segundo capítulo teve por objetivo analisar os escritos do filósofo buscando identificar a correlação entre seu pensamento político e suas ideias pedagógicas. Segundo o argumento central, Rousseau representa a síntese da sensibilidade social que marcou o período da Ilustração na Europa. Para a autora, sua doutrina política e pedagógica passou a representar um marco fundamental na organização do mundo político e social engendrado pelo Iluminismo, tendo grande influência nas práticas educativas. Nesse sentido, o intelectual francês seria um “autor primordial para se compreender a moderna acepção de criança” (BOTO, 2017, p. 182).
Para a efetivação dessa análise, Carlota Boto se propôs a realizar uma revisão bibliográfica dos escritos do teórico, dando ênfase a sua literatura pedagógica. Paralelamente, a pesquisadora buscou refletir sobre aspectos biográficos do autor do Emílio, apontando para um entrelaçamento entre sua vida e obra. Assim, foram colocados em foco, diversos textos publicados por Rousseau, em diferentes momentos de sua vida, dentre os quais o Discurso sobre as ciências e as artes (1749), o Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1755), as Considerações sobre o governo da Polônia e sua projetada reforma (1772) e – a principal delas – o Emílio (1762).
Na investigação, foram retomados alguns dos temas principais do pensamento rousseauniano, já amplamente discutidos pela historiografia, como o do “estado de natureza” e o da crítica ao processo civilizador. Entretanto, a análise empreendida foi além das discussões consideradas clássicas e se baseou em um mote principal: a ideia de infância. O grande acerto do argumento que orienta a narrativa reside na identificação da ligação estreita entre a compreensão política e as ideias pedagógicas de Rousseau. A partir dessa perspectiva, a autora alcançou uma discussão mais profunda sobre a importância da educação para o modelo de sociedade proposto na literatura iluminista.
Uma das assertivas principais, nesse sentido, aponta para a existência de uma crítica ao modelo pedagógico vigente no século XVIII, isto é, o modelo jesuítico. Segundo a autora, no julgamento que Rousseau empreende a respeito do processo civilizador, a afetação dos costumes é compreendida como a responsável pelo afastamento do ser humano da perfectibilidade do estado de natureza. A crítica se dirige, conforme esse argumento, também à educação praticada nos colégios da época, marcados pelo ensino da polidez. O modelo pedagógico dos colégios era apontado pelo intelectual francês como voltado para o cultivo de falsos valores e, assim, responsável pela corrupção do ser humano e da sociedade civil (BOTO, 2017).
Ao analisar a escrita do Emílio, Carlota Boto defendeu que, mais do que um tratado de pedagogia, o livro é voltado para a compreensão da infância como uma das fases principais da vida humana. Segundo a historiadora, naquela obra, a reflexão sobre a idade pueril estava relacionada à possibilidade de entendimento do homem no estado de natureza, uma vez que a criança guardaria os resquícios do que foi o homem natural. Em seu tratado, Rousseau construiu uma análise que põe em destaque a infância como um estágio específico da vida, cuja marca principal é a possibilidade do aprendizado. Esse período da existência humana foi assim alçado à categoria de objeto de investigação para a compreensão da sociedade. A partir dessa operação, o autor do Emílio alcançou novidades importantes para o seu tempo e que seriam definidoras das práticas educativas posteriores, entre as quais se sublinha a definição mais precisa das diferentes fases da vida. Nas palavras da autora, “Rousseau, esticou a infância; ao nomeá-la, ele a prolongou” (BOTO, 2017, p. 261). E essa foi sua contribuição mais original.
O terceiro capítulo de Instrução pública e projeto civilizador, complementando os dois anteriores, é dedicado ao último item que compõe o subtítulo do livro: a escola. Para discutir o tema, a autora se ocupou em investigar a obra de um protagonista da Revolução Francesa, o Marquês de Condorcet. Nessa parte, foi desenvolvida uma análise em conjunto das concepções pedagógicas e da filosofia da história concebida pelo personagem. Novamente, as fontes utilizadas foram as obras do próprio autor, sendo as principais o Esboço para um quadro histórico dos progressos do espírito humano (1795) e as Cinco memórias sobre instrução pública (1791).
De antemão, a historiadora empreendeu uma reflexão acerca das concepções de história e de modernidade presentes no pensamento de Condorcet. O interesse principal foi analisar a doutrina e evidenciar a filosofia da história construída no Esboço, destacando a característica etapista e teleológica do desenvolvimento histórico que marcam a obra. Como herdeiro direto do Iluminismo, o intelectual construiu uma narrativa sobre a caminhada dos homens na história em direção ao aperfeiçoamento e ao progresso. Baseando-se na noção de perfectibilidade humana, tradição do pensamento ilustrado, Condorcet apontou para a capacidade do ser humano de aperfeiçoar a si e ao seu meio através de etapas sucessivas (BOTO, 2017).
Posteriormente, a autora analisou também as ideias pedagógicas do teórico, buscando enfatizar suas reflexões acerca da instrução pública enquanto política de Estado. Segundo o argumento central, a instrução apareceu no pensamento do intelectual francês como materialização de sua filosofia da história. O modelo de escola formulado por Condorcet se organizava por etapas sucessivas, marcadas por um caráter progressivo, e se baseava na crença no aperfeiçoamento humano. Isto é, a escola concebida por Condorcet se orientava pela marcha da humanidade na direção do progresso e do auto aperfeiçoamento. A cada série superada na escolarização, tal qual concebia o autor, o aluno subiria um degrau a mais na escala de aperfeiçoamento pessoal em direção a razão. Desse modo, como aponta a historiadora, havia uma vinculação inseparável entre a filosofia da história do Marquês de Condorcet e seu projeto de fundação da escola moderna. Esta última deveria estar voltada principalmente para o processo de aperfeiçoamento humano que, por sua vez, levaria à construção de uma sociedade melhor pela difusão da razão.
Assim, perpassando temas fundamentais do período da ilustração, Carlota Boto construiu, em Instrução Pública e Projeto Civilizador, uma análise ampla sobre o pensamento pedagógico de letrados iluministas. Além disso, a autora conseguiu inscrever as reflexões destes sujeitos no contexto político e social de fins do século XVIII, no qual a formulação de um novo modelo de sociedade figurava como a principal demanda intelectual.
É necessário ressaltar que, ao longo de todo o estudo, é possível acompanhar o desenvolvimento de um argumento central que demonstra a importância que a educação passou a ter no movimento intelectual iluminista. Esta importância, pelo que se apreende do livro, é ressaltada sobretudo como recurso político. Se o Iluminismo, na Europa, forjou as bases para o rompimento de uma ordem política arcaica e impulsionou a criação de um novo modelo social, Carlota Boto conseguiu demonstrar que a educação representou uma categoria basilar na construção desse projeto.
Ciência, infância e escola, portanto, se articulam no argumento da historiadora como concepções fundamentais para a compreensão não só do pensamento pedagógico engendrado na filosofia iluminista, mas também do projeto político encampado pelos homens de letras naqueles tempos. Tratava-se de um projeto civilizador cuja ferramenta principal a ser utilizada seria a educação.
Referência
BOTO, Carlota. Instrução pública e projeto civilizador: o século XVIII como intérprete da ciência, da infância e da escola. 1. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2017.
Danilo Araújo Moreira – Mestrando em História – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Ouro Preto. Bolsista CAPES.
Mulheres e Caça às Bruxas: da Idade Média aos dias atuais / Silvia Federici
Silvia Federici / Foto: DeliriumNerd /
 Quando ouvimos falar de Silvia Federici, quase sempre lembramos de Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva, publicado pela primeira vez em 2004. No Brasil, foi traduzido pelo Coletivo Sycorax e publicado em 2017 pela editora Elefante. Esse livro, que teve uma ótima recepção, nos apresentou ideias ainda pouco difundidas por aqui. O impacto de Calibã e a Bruxa para o pensamento feminista foi tão grande que levou Federici a receber diversas solicitações para produzir um livro em que revisitasse algumas questões abordadas nele, mas com uma linguagem capaz de atingir um público mais amplo. Tais solicitações, somadas ao desejo da autora de continuar pesquisando aspectos da caça às bruxas, resultou em Mulheres e Caça às bruxas, lançado em 2018 e publicado no Brasil pela editora Boitempo em 2019.
Quando ouvimos falar de Silvia Federici, quase sempre lembramos de Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva, publicado pela primeira vez em 2004. No Brasil, foi traduzido pelo Coletivo Sycorax e publicado em 2017 pela editora Elefante. Esse livro, que teve uma ótima recepção, nos apresentou ideias ainda pouco difundidas por aqui. O impacto de Calibã e a Bruxa para o pensamento feminista foi tão grande que levou Federici a receber diversas solicitações para produzir um livro em que revisitasse algumas questões abordadas nele, mas com uma linguagem capaz de atingir um público mais amplo. Tais solicitações, somadas ao desejo da autora de continuar pesquisando aspectos da caça às bruxas, resultou em Mulheres e Caça às bruxas, lançado em 2018 e publicado no Brasil pela editora Boitempo em 2019.
Mulheres e Caça às bruxas é composto por sete capítulos, divididos em duas partes. Os capítulos são, em sua maioria, edições revistas de artigos e ensaios publicados anteriormente.
Na primeira parte, Federici dialoga mais especificamente com Calibã e a Bruxa, colocando a caça às bruxas dos séculos XVI e XVII na Europa no rol dos processos sociais que prepararam terreno para o surgimento do capitalismo, junto com o comércio escravista e o extermínio dos povos indígenas. Na segunda parte, Federici esboça novas investigações, trazendo para a conversa sociedades contemporâneas e “novas formas de acumulação de capital e caça às bruxas”.
Para a autora, as transformações sofridas pela Europa resultaram em um aumento vertiginoso de práticas misóginas e patriarcais, cujas consequências mais perversas foram a tortura e a morte na fogueira de milhares de mulheres acusadas de bruxaria. Federici tenta explicar como as mulheres passaram a ser vistas como ameaça à nova ordem que se impunha, passando a ser controladas, vigiadas e punidas. Ela aponta os cercamentos das terras a partir do final do século XV, como fundamentais para a compreensão deste processo e afirma que estes, somados ao crescimento das relações monetárias, resultaram em pauperização e exclusão social da população, sendo as mulheres as mais atingidas. Isso ocorre por múltiplos motivos.
As mulheres, que até então viviam em terras comunais, exercendo suas atividades coletivamente e gozando dos direitos consuetudinários, viram a privatização das terras desmantelar os laços comunais e toda uma rede de saberes compartilhados por elas, bem como a maneira como se relacionavam com a terra, a natureza e seus corpos, que nesse processo passam a servir à produção e reprodução da mão de obra. Para garantir a força de trabalho que serviria ao sistema capitalista, as mulheres foram confinadas no trabalho doméstico não remunerado, bem distante do trabalho coletivo praticado anteriormente.
Dessa forma, a autora relaciona a caça às bruxas à necessidade do controle da reprodução e, consequentemente, dos corpos das mulheres. Nesse sentido, é interessante notar que as mulheres mais velhas eram vistas como as mais perigosas e foram as mais perseguidas e mortas em países como a Inglaterra. As idosas, especialmente as sem família, foram as maiores vítimas da miséria e da exclusão social, sendo muito comum que se rebelassem contra essa situação praguejando, furtando, etc. Além disso, as mais velhas eram as grandes portadoras dos saberes sobre a comunidade e a natureza, saberes estes que poderiam “corromper” as mais jovens, ensinando-as sobre controle de natalidade, ervas abortivas e outros conhecimentos proibidos que iam contra as perspectivas das novas normas que pretendiam disciplinar os corpos para o trabalho.
Era preciso arruinar esses conhecimentos “mágicos” e garantir o total controle do Estado e da Igreja sob o comportamento sexual e reprodutivo das mulheres. Isso pressupunha interferir na maneira como elas se relacionavam entre si, estimulando as suspeitas e denúncias. Federici aprofunda o tema ao analisar as mudanças na Inglaterra entre os século XIV e XVIII, do termo “gossip” – equivalente à “fofoca” no português. A palavra, que na Idade Média remetia à amizade e solidariedade entre mulheres, lentamente adquire o significado pejorativo que conhecemos hoje, de conversa fútil, vazia e maledicente. Essa nova conotação é parte simbólica do processo de degradação, desvalorização e demonização das mulheres e dos saberes compartilhados entre elas, sendo a caça às bruxas o ponto alto dessa degradação.
A caça às bruxas é comumente considerada como “coisa do passado”, algo que entrou para o imaginário, sendo abordada em filmes, séries, romances, etc. muitas vezes de maneira folclorizada e estereotipada. No entanto, Federici argumenta que as novas formas de acumulação do capital – envolvendo desapropriação das terras, destruição de laços comunitários, intensificação da exploração e controle dos corpos das mulheres, etc. – vem resultando em uma nova onda de violências, principalmente nos países mais pobres, como da América Latina e África. Essa violência, na verdade, nunca teria cessado e, sim, se normalizado e adquirido outros formatos, como a violência doméstica, por exemplo, tão banalizada ainda hoje.
Entretanto, apesar do crescimento de organizações e lutas feministas no sentido de prevenir essa violência, o que assistimos nas últimas décadas, segundo a autora, ultrapassa a norma. Para ela, o aumento em todo o mundo de agressões, torturas, estupros e assassinatos de mulheres, atingem níveis de brutalidade que só vemos em tempos de guerra. É sobre essa escalada de violências que Federici fala na segunda parte de Mulheres e caça às Bruxas. Ela relaciona essa situação devastadora às novas formas de acumulação de capital e à “globalização”, que nada mais seria do que um “processo político de recolonização” (p. 94) que não pode ser alcançado sem o ataque sistemático às mulheres e seus direitos reprodutivos, especialmente mulheres negras, indígenas, racializadas e migrantes.
Uma das maiores expressões desse recrudescimento da violência contra as mulheres é a “nova” caça às bruxas que ganhou terreno a partir dos anos 80 em algumas regiões do mundo, como na Índia e em alguns países africanos. Federici finaliza seu livro discutindo esse fenômeno, principalmente na África, colocando-o no âmbito do enfraquecimento das economias locais africanas e à desvalorização da posição social das mulheres. Ela relaciona a caça às bruxas atuais com outros elementos de violência contra as mulheres na Índia, México, etc., analisando-os como efeitos da integração forçada das populações, notadamente das mulheres, na economia global, mas também da propensão dos homens de descarregarem nelas, especialmente em suas companheiras, as frustrações econômicas impostas pelo capitalismo, além da crescente presença de igrejas neopentecostais evangelizadoras em algumas regiões.
Por fim, Silvia Federici fala sobre o importante papel do ativismo feminista em relação à crescente violência contra as mulheres no mundo e, mais especificamente à caça às bruxas na África. Ela comenta o silêncio dos movimentos feministas sobre essa situação, que acredita representar um perigo para todas as mulheres, e propõe alternativas de luta. Essa luta, para ela, deve envolver críticas severas e ações contra as agências que criaram as condições para que tais fenômenos se tornassem possíveis, incluindo os governos africanos, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e até as Nações Unidas que, segundo ela “apoiam os direitos das mulheres da boca para fora” (p. 111). A defesa das mulheres, para Federici, são incompatíveis com o apoio e difusão de políticas neoliberais e os feminismos precisam cobrar das instituições que promovem tais políticas e silenciam diante de tamanha violência.
A caça às bruxas não é apenas uma realidade que ficou para trás. Em pleno século XXI, mulheres continuam sendo perseguidas, controladas, violentadas e mortas. Silvia Federici nos ajuda a compreender os processos históricos que geram essas violências ontem e hoje e, assim, barrar seus avanços. Para isso, é preciso manter viva a memória daquelas que perderam a vida e fortalecer as lutas das mulheres pelo fim dessas violências e do sistema que as concebe e reproduz.
Erika Bastos Arantes – Historiadora, mãe e feminista. Professora do departamento de história da UFF de Campos dos Goytacazes, onde coordena o grupo de estudos Gênero, Raça e Classe.
FEDERICI, Silvia. Mulheres e Caça às Bruxas: da Idade Média aos dias atuais. Tradução Heci Regina Cadian. São Paulo: Boitempo, 2019. Resenha de: ARANTES, Erika Bastos. Caça às Bruxas ontem e hoje. Humanas – Pesquisadoras em Rede. 06 jul. 2020. Acessar publicação original [IF].
Eslabones del mundo andino. Comercio, mercados y circuitos pecuarios en el Nuevo Reino de Granada y la Audiencia de Quito 1580-1715 | Yoer Javier Castaño Pareja
Eslabones del mundo andino es una obra dedicada a demostrar los intensos intercambios que, en el siglo XVII, se presentaban al interior y entre territorios andinos del Nuevo Reino de Granada y la Audiencia de Quito, áreas que, comparadas con Nueva España o Perú, parecían no importar a la Corona española. Para tal fin, Yoer Castaño se vale del estudio de las actividades relacionadas con la producción, distribución y consumo de ganado y sus derivados. Se trata de una investigación innovadora en cuanto a sus temáticas, escalas, fuentes, explicaciones y, sobre todo, por su ruptura con supuestos historiográficos tradicionalmente aceptados. Sus aportes han sido reconocidos con anterioridad a la publicación de este libro y desde su defensa en 2015 de su tesis de doctorado en Historia en El Colegio de México. La misma institución le otorgó el premio Adrián Lajous Martínez a la mejor tesis y, en 2016, la Fundación Alejandro Ángel Escobar le concedió Mención de Honor en la categoría de Ciencias Sociales y Humanas. Por las discusiones historiográficas que puede motivar esta publicación, cabe resaltar algunas de sus contribuciones puntuales.
Primero, superando el énfasis que tradicionalmente los colonialistas han hecho en la minería y, en ocasiones, la agricultura, Castaño resalta el papel vertebral de la ganadería en la economía neogranadina, su temprana expansión por los altiplanos y valles interandinos y sus vínculos (con frecuencia no dependientes) con otras actividades económicas. En el lapso 1580-1730, aunque la conexión y flujos entre las áreas productoras y consumidoras fue dinámica, según condiciones como los auges mineros, la fluctuación de la población, las sequías y las plagas de langosta, son claros los puntos principales de origen y destino. Como áreas productoras y abastecedoras de Quito y el Nuevo Reino de Granada se destacaron el valle geográfico del río Cauca (jurisdicciones de Cali, Buga, Caloto, Cartago y Roldanillo) y el alto Magdalena (jurisdicciones de Neiva, Timaná y La Plata). Como principales ejes articuladores del intercambio y el consumo figuraron, primero, los mercados permanentes en las dos ciudades capitales, Quito y Santafé; segundo, las áreas captadoras-redistribuidoras que eran centros de acopio para abastecer a otras zonas o lugares intermedios en el tránsito pecuario, como fueron Cartago, Cali, Popayán, Pasto e Ibarra; tercero, los mercados fluctuantes, con frecuencia zonas mineras que, mientras estaban en auge, atraían comerciantes de reses y productos pecuarios. Leia Mais
Makers of Democracy. A Transnational History of the Middle Classes in Colombia | Abel R. Lopez Pedreros
Retrato de Abel Ricardo / www.youtube.com
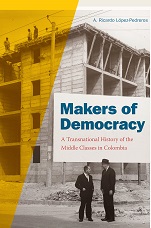 El libro de Abel Ricardo Lopez Pedreros, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota, y ahora profesor de la Western Washington University en Estados Unidos, busca reflexionar criticamente sobre la comun asociacion entre clases medias y democracia, pensando en los sectores medios de Bogota en las decadas de 1970 y 1980. Dicha asociacion es algo que hace tanto el pensamiento de derecha como el de izquierda, ambos exigiendole el deber ser de ponerse al servicio de la democracia, bien sea la liberal o la revolucionaria. Por clase media, Lopez Pedreros entiende no necesariamente un hecho social, mas bien, es el cruce entre condiciones existentes, racionalidades de poder —en terminos de clase y genero—, y la formacion subjetiva, a traves de las practicas y discursos. Desde esta propuesta, el autor construye en dos partes y 8 capitulos su reflexion critica. En la primera parte se centra en los discursos que delimitan y crean —hasta cierto punto— a las clases medias bogotanas de mitad del siglo pasado. En la segunda seccion mira las decisiones de actores concretos para conformar la identidad de esas clases.
El libro de Abel Ricardo Lopez Pedreros, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota, y ahora profesor de la Western Washington University en Estados Unidos, busca reflexionar criticamente sobre la comun asociacion entre clases medias y democracia, pensando en los sectores medios de Bogota en las decadas de 1970 y 1980. Dicha asociacion es algo que hace tanto el pensamiento de derecha como el de izquierda, ambos exigiendole el deber ser de ponerse al servicio de la democracia, bien sea la liberal o la revolucionaria. Por clase media, Lopez Pedreros entiende no necesariamente un hecho social, mas bien, es el cruce entre condiciones existentes, racionalidades de poder —en terminos de clase y genero—, y la formacion subjetiva, a traves de las practicas y discursos. Desde esta propuesta, el autor construye en dos partes y 8 capitulos su reflexion critica. En la primera parte se centra en los discursos que delimitan y crean —hasta cierto punto— a las clases medias bogotanas de mitad del siglo pasado. En la segunda seccion mira las decisiones de actores concretos para conformar la identidad de esas clases.
Asi, el autor va mostrandonos las particularidades de nuestra democracia y por ende de nuestras capas medias, para verlas distintas, cuando no “bastardas”, de las europeas y norteamericanas. Esas capas, supuestamente, son simbolo de la lucha contra las oligarquias criollas y exigen una lectura de la sociedad no en terminos binarios de dos clases opuestas, pues hay una mas en la mitad. Las clases medias alimentan y son alimentadas por las pequenas y medianas industrias que reciben credito del Estado y de las agencias norteamericanas vinculadas a la Alianza para el Progreso, el famoso programa anticomunista lanzado en la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963). Finalmente, en esa primera parte, las capas medias tambien estan vinculadas al sector de servicios o terciario, en el que se dan procesos de seleccion, segun estereotipos comunes de clase y genero. Leia Mais
Reinventando a autonomia: Liberdade – propriedade – autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo 1535-1822 | Vania M. L. Moreira
A recopilação Legislação indigenista no século XIX, publicada por Manuela Carneiro da Cunha em 1992, ofereceu um importante quadro referencial de onde partir para estudar a problemática indígena durante o século de consolidação da independência política brasileira. A partir de então, os comentários da autora abriram duas importantes linhas de frente, e de crítica, para os estudos indigenistas relativos ao período. A primeira delas – a afirmação de que a política indigenista passou, durante o século XIX, de uma política de mão de obra para uma política de terras – vem sendo contestada por inúmeros autores que destacam a dimensão do trabalho compulsório e o apagamento da identidade indígena durante o período em questão. A segunda, por sua vez, refere-se ao escopo temporal, anotando que a revogação do Diretório pombalino em 1798 abriu um período de vazio legislativo durante o qual o Diretório teria sido aplicado, de maneira oficiosa, até a aprovação do Regulamento das Missões em 1845.
Sem gastar tempo refutando essas afirmações, Vânia Moreira aborda em Reinventado a Autonomia (2019) todos os temas centrais das observações de Carneiro da Cunha: a identidade indígena, as questões de terras e mão de obra, as particularidades do período pombalino e as mudanças ocorridas durante o século XIX, passando, ademais, por questões de gênero e família e conectando-as de forma convincente com as demais temáticas tratadas. Ainda que o foco geográfico seja o território específico do Espírito Santo, a autora trata de vincular as suas conclusões com as de outros autores que estudaram diferentes regiões brasileiras, oferecendo uma visão mais ampla do contexto no qual se inserem.
Apesar de enunciar uma temporalidade muito mais ampla (1535-1822), a maior riqueza documental do trabalho encontra-se precisamente no estudo do período pombalino em diante (capítulos 3 a 6), foco de pesquisa da autora durante os últimos anos. Quem está familiarizado com o trabalho de Vânia Moreira pode experimentar uma sensação de déjà vu ao ler o livro. De fato, a obra recolhe o conteúdo tratado nos seus principais artigos sobre os indígenas no território do atual Espírito Santo, organizados de forma mais temática que cronológica, voltando e avançando as datas para contextualizar devidamente cada um dos temas tratados. Porém, não se trata de mera coletânea de artigos publicados. A autora estabelece um diálogo entre seus próprios textos, devidamente referenciados para aqueles que queiram aprofundar em questões específicas, o que acaba convertendo o livro numa espécie de quadro geral de parte da sua produção acadêmica dos últimos quinze anos. Acrescente-se, finalmente, o cuidado em anexar fotografias, mapas e gráficos ao longo da obra, elementos normalmente mais limitados no espaço dos artigos científicos, e que contribuem para reforçar esse caráter estrutural da obra.
No primeiro capítulo, intitulado “Tupis, tapuias e índios”, a autora se vale de uma extensa bibliografia para abordar os caracteres da população que habitava a costa leste do continente antes da chegada dos europeus. Os vestígios das suas etnias, troncos linguísticos, organizações políticas, cultura material e demografia são abordados de forma probabilista, valendo-se de forma convincente dos trabalhos sobre as fontes disponíveis a respeito. No mesmo capítulo, a autora também reconstrói os impactos dos primeiros conflitos com os europeus, ressaltando que a escravização dos prisioneiros de guerra afetou significativamente os valores que presidiam a guerra ameríndia, dando lugar a uma perspectiva promissora para os colonos da região no final do século XVI. Não obstante, a autora enumera uma série de razões pelas quais em meados do século seguinte a escravidão de africanos teria substituído, na capitania, a aposta pelos “negros da terra”. Apesar da perda de protagonismo econômico da região a partir desse momento, a autora anota a sua importância geopolítica, dado que se configurava como fronteira tanto para o mar como para o interior do continente, especialmente a partir da descoberta do ouro na região das Minas. Essa importância se traduziu em diferentes tensões entre indígenas, moradores e jesuítas, relatadas com detalhe por Moreira. Finalmente, o capítulo encerra adentrando-se em questões jurídicas. A autora define a posição jurídica indígena, nomeadamente dos aldeados, como status específico no contexto do Antigo Regime, status que se traduzia na obrigação de prestar serviços, tendo como principal contraprestação a garantia de permanência em terras coletivas (p. 89). Para falar do status no Antigo Regime, não obstante, a autora referencia o conhecido livro de António Manuel Hespanha (2010) dedicado ao estatuto jurídico de coletivos atípicos no Antigo Regime. Nesse espaço, sente-se falta de uma citação direta ao trabalho de Bartolomé Clavero (autor citado, não obstante, ao falar da estrutura de poder do Antigo Regime ibérico, nas páginas 275-276), pois, pertencendo ambos a uma mesma corrente historiográfica, o trabalho do autor espanhol é muito mais incisivo que o de Hespanha no relativo à posição específica atribuída à humanidade indígena na cultura jurídica do Antigo Regime (CLAVERO, 1994, 11-19).
O capítulo seguinte trata sobre os processos históricos que pouco a pouco foram desembocando na consolidação territorial de certos grupos indígenas e sua conversão em aldeamentos. A autora repassa as guerras e migrações mais significativas, assim como dinâmicas particulares que surgiram nesse processo (por exemplo, o curioso fato de que grandes guerreiros aldeados recebessem nomes portugueses idênticos aos dos principais líderes portugueses da terra, fato que exige portanto uma especial atenção dos historiadores na análise das fontes). À continuação, são descritos os principais aldeamentos da capitania, as etnias que os compunham e a importância do trabalho jesuítico na fixação desses grupos ao território. Moreira define três tipos de aldeias administradas pelos jesuítas: (1) as aldeias de serviço do Colégio, (2) as aldeias do serviço Real e (3) as aldeias de repartição (130-131). Por outro lado, destaca-se a importância paramilitar dos indígenas aldeados, que protegiam o território dos ataques de outros povos guerreiros (europeus ou americanos). Os inacianos são descritos como destacados mediadores entre a Coroa e os povos indígenas, encarregando-se da evangelização como fase sucessiva e necessária da conquista mediante a guerra. Por outro lado, a autora destaca o trabalho dos religiosos em aprender as línguas locais e interpretar a cultura dos indígenas, dando a entender que, nesse processo de contato, “escolhiam determinados códigos em detrimento de outros e procuravam neutralizar o processo de conquista e subordinação” (113). Para a autora, isso caracterizaria a presença de uma verdadeira relação intercultural entre os indígenas e os inacianos das aldeias do Espírito Santo.
Do terceiro capítulo em diante, a autora entra definitivamente na cronologia pós-Pombal, tratando as diversas vicissitudes inauguradas com a legislação indigenista aprovada a partir de 1750. O capítulo terceiro trata de uma das principais consequências políticas do Diretório dos Índios – a capacidade de autonomia e autogoverno – ilustradas na conversão das duas maiores aldeias da capitania (Nossa Senhora da Assunção de Reritiba e Santo Inácio e Reis Magos) em Vilas (Nova Benevente e Nova Almeida). Vânia Moreira repassa os debates da Segunda Escolástica relativos à liberdade das pessoas e bens dos aborígenes e, analisando as leis pombalinas, considera que “o que a legislação efetivamente reconheceu e prometia garantir aos índios era a posse e o domínio das terras de seus aldeamentos” (144). A Lei de 6 de junho de 1755 teria especialmente assegurado sua liberdade, propriedade e autogoverno mediante sua equiparação aos demais vassalos da Coroa. Essas medidas foram limitadas pela restituição da tutela mediante o Diretório dos Índios, analisado pela autora neste capítulo (151-158). Em seguida, é explicado o processo de implantação do Diretório no território do Espírito Santo, destacando aspectos como a relação econômica das novas vilas indígenas com o resto de vilas da capitania, os processos eletivos que garantiam a preeminência indígena nas Câmaras, os atos de gestão local do patrimônio e as medidas de controle dos costumes levadas a cabo pelas autoridades – especialmente em relação com as mulheres indígenas.
O capítulo 4 recupera a Lei de 4 de abril de 1755, que incentivava o casamento entre indígenas e brancos como forma de assimilar aqueles à sociedade colonial. A autora destaca o assimilacionismo das políticas pombalinas, interpretando como eminentemente cultural a discriminação no período, e adotando, portanto, as posições que preferem reservar o termo “racismo” para os processos de racismo biologicamente fundamentado (210). Recuperando a argumentação dos inícios da colonização, que caracterizou os indígenas como sujeitos que viviam no “estado natural”, a autora percebe uma continuidade entre essa concepção e as ideias que presidem a abertura do século XIX, onde os indígenas eram acusados de carecer de “vida civil”, continuidade que só seria quebrada com a irrupção do racismo biologicista na segunda metade do século XIX. Para falar sobre políticas matrimoniais, a autora retorna uma vez mais aos relatos dos primeiros missionários no continente, tratando de reconstruir os costumes dos indígenas no relativo às práticas sexuais, alianças afetivas, vestimenta etc. A autora recorda o papel histórico da instituição do matrimônio para a consolidação do poder da Igreja desde as reformas gregorianas, destacando que também na América essa intervenção na organização familiar indígena foi uma política de longa duração (236). Na última seção do capítulo, a autora recupera os seus trabalhos sobre a interpretação que os indígenas da vila de Benevente fizeram das políticas matrimoniais e territoriais contidas no Diretório pombalino. Através de um estudo específico de caso, ela mostra que esses índios interpretaram que o aforamento de terras a moradores brancos, permitido no artigo 80 do Diretório, estava condicionado à sua união em matrimônio com alguma índia da aldeia.
Vânia Moreira volta a tratado desse tema no capítulo seguinte, dedicado às questões de luta pela terra coletiva. A autora destaca que durante a vigência do Diretório os ouvidores de comarca se encarregavam da administração dos bens dos índios, enquanto os diretores eram os responsáveis pela administração das suas pessoas. Para Moreira, as críticas da historiografia à figura dos diretores devem ser tomadas com cautela, pois ela observa que nas duas vilas de índios do Espírito Santo os conflitos entre índios e diretores eram habituais, e que na prática estes acabavam tendo um poder de mando relativo (271). Ela destaca, além do mais, que durante esse período os indígenas foram efetivamente preferidos para os cargos de governo municipal, o que inclusive propiciou a consolidação de uma elite indígena muito ativa na cena política local. Essa situação começou a mudar no fim do século XVIII, com o aumento das intrusões de brancos e pardos nas terras indígenas, garantidas pelo aval das autoridades chamadas, em princípio, a proteger os interesses indígenas (neste caso, os ouvidores de comarca). Assim, ao mesmo tempo que os indígenas eram cada vez menos preferidos para os cargos municipais, as terras eram cada vez mais aforadas a brancos e pardos pelos mesmos poderes municipais. Segundo a autora, essa situação se manteve até o século XIX, pois ela documenta um conflito ocorrido na vila de Nova Almeida em 1847, no qual a Câmara municipal argumentara que levava ao menos 79 anos aforando as terras indígenas a brancos. Em alguns momentos, essas incursões em períodos muito anteriores ou muito posteriores aos fatos narrados podem conduzir a interpretações por vezes anacrônicas, que não tomam em conta o contexto do momento de produção do documento. Em relação ao documento de 1847, por exemplo, Moreira critica a afirmação da Câmara de que os índios eram somente usufrutuários das terras, e não os seus donos. Para a autora, a afirmação é criticável porque as terras não pertenciam ao município, mas sim aos índios, e deveriam ser protegidas segundo as leis específicas que regulavam o patrimônio indígena. Não obstante, segundo o Regulamento das Missões, aprovado dois anos antes do conflito, os índios aldeados eram somente usufrutuários das terras que ocupavam, ainda que contassem com a garantia de não ser expulsos e com a possibilidade de converter-se em proprietários após 12 anos de cultivo ininterrupto (BRASIL, 1845, art. 1.15º). O capítulo conclui, em qualquer caso, retornando ao final do século XVIII e sugerindo que esses episódios de traição por parte das autoridades chamadas a protegê-los permaneceram na memória coletiva dos moradores indígenas. Mais de vinte anos depois dos episódios, os nativos continuavam narrando aos viajantes a pouca confiança que depositavam na justiça institucional.
O último capítulo adentra no processo de subalternização dos indígenas que se abriu com o século XIX e a chegada da família real ao Brasil. Para a autora, um dos fatores que contribuiu para a progressiva exclusão dos índios dos cargos municipais foi a revogação do Diretório em 1798, porque implicou a eliminação dos privilégios dos índios e a sua equiparação jurídica ao status dos brancos. A autora conta que, ao mesmo tempo, essa equiparação só foi efetiva naqueles pontos prejudiciais à autonomia indígena, pois na prática o cargo de Diretor foi recriado, por exemplo, na vila de Nova Almeida em 1806, com o adendo de que esses novos Diretores exerciam funções mais restritas e coercitivas do que os antigos escrivães-diretores, e respondiam a uma configuração diversa do poder. Moreira conta como o sistema de trabalho compulsório foi se tornando muito mais pesado, marcado pela violência e validado pela “escola severa” do período joanino. Nesse sentido, a autora sugere que as Cartas Régias de 1808 que voltavam a permitir a “guerra justa” tinham também como objetivo reencenar a potência da monarquia, que se encontrava num contexto de crise após a fuga da Casa Real sob a ameaça de invasão napoleônica (318). No processo, reforça-se a noção de menoridade jurídica do indígena, e a subsequente submissão à tutela. Moreira conta que no Espírito Santo essa tutela foi exercida especialmente por particulares que eram encarregados de educá-los, cristianizá-los e civilizá-los. Outra faceta da menoridade jurídica era a tutela pública, que se traduzia em uma série de mecanismos que em última instância visavam ao controle social e ao trabalho coercitivo. Assim, muitos indígenas foram recrutados para o serviço militar, especialmente quando mantinham meios de vida diferenciados da cultura do trabalho nos termos europeus. Destarte, os índios que viviam da caça, pesca, roça e atividade madeireira eram os mais vulneráveis a recrutamentos forçados. Este caráter forçoso do recrutamento foi especialmente evidente porque a prestação de serviços militares à Coroa deixou de ter como contraprestação as tradicionais garantias de direito à terra, proteção e direitos específicos. O resultado, segundo Moreira, foi um significativo movimento diaspórico de indígenas aos sertões cada vez mais distantes do controle institucional, muitas vezes com as trágicas consequências de perda de laços com as suas antigas comunidades de origem, além da perda dos privilégios jurídicos reconhecidos aos índios aldeados.
Ao narrar os acontecimentos ao longo do livro, Vânia Moreira se esforça por destacar as estratégias dos indígenas para conseguir manter suas posições no contexto da conquista, esforço que se inserta numa agenda indigenista que vem buscando identificar o seu agenciamento e protagonismo como sujeitos da história. É uma tarefa que durante os últimos vinte anos vem rendendo prolíficos resultados, ainda que sejam insuficientes para situar os indígenas como agentes nos relatos não-indigenistas da história brasileira, como destacou a própria autora alguns anos atrás (MOREIRA, 2012). Por outro lado, talvez seja necessária certa cautela ao referir-se à relação entre indígenas e missionários como uma relação intercultural. Especialmente porque dentro dos estudos culturalistas a noção de diálogo intercultural vem sendo criticada por partir de um pressuposto de igualdade entre as partes que não leva em consideração a problemática da violência intrínseca à noção de universal que a cristandade e a modernidade europeia carregam, o que torna essa noção, portanto, inaplicável nos casos de identidades culturais ou reivindicações particularistas que desafiam os pressupostos do liberalismo econômico e do capitalismo mundializado – como ocorre, atualmente, com as demandas territoriais dos diferentes povos indígenas brasileiros (ÁLVAREZ, 2010).
Por momentos fica a sensação de que os jesuítas eram um mal menor no contexto da colonização, já que com eles era possível o diálogo, enquanto que com os poderes locais só imperava a força. A mesma autora, porém, frisa que a evangelização era um braço necessário da conquista violenta, que serviu para legitimá-la num momento no qual a Coroa não exercia nenhum tipo de controle efetivo sobre o território. Também é perigoso, nesse sentido, afirmar que a expulsão jesuítica acarreou uma política laica de civilização (88), já que no Diretório dos Índios o Reino reclamava para si a jurisdição temporal sobre os aldeados, mas continuava a encarregar a tarefa de evangelização e jurisdição espiritual aos representantes da igreja católica.
Tudo indica, portanto, que se existiu algum nível de diálogo prolífico entre jesuítas e indígenas, esse só foi possível pela existência de uma conjuntura em que também havia outros interesses em disputa, como os dos moradores e representantes do poder régio. Como a própria autora mostra em seu trabalho, a expulsão dos jesuítas abriu um período em que os indígenas conseguiram conservar e inclusive reforçar uma efetiva dimensão de autogoverno, que começou a desmoronar definitivamente com a mudança drástica de conjuntura aberta pelas revoluções liberais na Europa e a necessidade de reafirmação e consolidação do poder por parte das Coroas portuguesa e, posteriormente, brasileira.
Referências
ALVAREZ, Luciana. Mas alla del multiculturalismo: Critica de la universalidad (concreta) abstracta. Filosofia Unisinos n. 11, v. 2, p. 176-95, setembro 2010.
BRASIL. Decreto n. 426 – de 24 de julho de 1845 que contem o Regulamento acerca das Missoes de catechese, e civilisacao dos Indios. In Colleccao das leis do Imperio do Brasil de 1845. Tomo VIII, parte II, p. 86-96. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1846.
CLAVERO, Bartolome. Derecho indigena y cultura constitucional en America. Mexico: Siglo Veintiuno Editores, 1994.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Legislacao Indigenista no Seculo XIX. Sao Paulo: Edusp, 1992.
HESPANHA, Antonio Manuel. Imbecillitas. As bem-aventurancas da inferioridade nas sociedades do Antigo Regime. Sao Paulo: Annablume, 2010.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Reinventando a autonomia: Liberdade, propriedade, autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo, 1535-1822. São Paulo: Humanitas, 2019.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Os indios na historia politica do Imperio: avancos, resistencias e tropecos. Revista Historia Hoje n. 1, v. 2, p. 269-74, 2012.
Camilla de Freitas Macedo – Universidad del País Vasco. Bilbao – País Vasco – España.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Reinventando a autonomia: Liberdade, propriedade, autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo, 1535-1822. São Paulo: Humanitas, 2019. Resenha de: MACEDO, Camilla de Freitas. Autonomia como agência: o caráter polifacetado da história de luta indígena no Espírito Santo. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000 – BURKE (S-RH)
BURKE, Peter. Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000. São Paulo: Editora Unesp, 2017. Resenha de: SANTOS, Jair. O conhecimento sem pátria. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, v. 25, n. 42, p. 222-226, jan./jun. 2020.
Todos os que acompanham a atualidade política sabem que um tema em particular está quase sempre presente no debate público, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos: a imigração. A polêmica discussão é animada não somente pelos jornalistas e atores políticos, com posicionamentos nem sempre apaziguadores, mas também pelos intelectuais. São inúmeros os acadêmicos – filósofos, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, juristas – que tentam, através de uma análise mais serena e por meio dos instrumentos fornecidos pela ciência que professam, analisar a imigração como um fenômeno social complexo, com diferentes causas e diversas consequências para a sociedade. O último livro de Peter Burke, fruto de conferências proferidas na Historical Society of Israel em 2015, é um belo exemplo de como um historiador, de quem se costuma esperar apenas um olhar crítico sobre o passado, também pode enriquecer a reflexão acerca de problemas atuais. A obra Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, publicada em 2017, estuda um tipo específico de imigração: a dos intelectuais que deixaram seu país natal, de modo espontâneo ou forçado, e prosseguiram a sua produção intelectual em outras terras. A partir desse grupo seleto de imigrantes, o autor examina os efeitos do encontro – ou eventualmente do choque – entre duas culturas na produção e difusão do conhecimento. Este é o pressuposto central do livro: a imigração é um fato social de efeitos recíprocos, isto é, tanto os indivíduos que imigram quanto a sociedade estrangeira que os acolhe são de algum modo afetados e transformados pelo intercâmbio que se opera. Está claro, portanto, que o livro refuta o argumento, às vezes invocado em âmbito político, segundo o qual a influência estrangeira é necessariamente nociva para a cultura nacional. Leia Mais
Interwoven. Andean Lives in Colonial Ecuador’s Textile Economy | Rachel Corr
En el siglo XVI, la conquista española de los territorios americanos propició su inserción a la dinámica de los mercados internacionales y, como parte de este proceso de globalización, las economías y sociedades regionales y locales experimentaron cambios significativos. Estos se reflejan en la implementación de un nuevo marco institucional colonial que permite reasignaciones en el uso y acceso a la tierra, recursos naturales y mano de obra local, así como la hegemonía de nuevos sectores económicos que redefinen la vida cotidiana de las familias y grupos en el poder, tanto nativos como españoles, y de la población esclava africana.
La organización social y económica de los Andes, durante el imperio incaico y el período previo a la conquista española, tuvo como eje central el trabajo. Pease (2011) concluye, a partir del análisis de los escritos de los primeros cronistas españoles y mestizos, que existía una estrecha relación entre parentesco, reciprocidad y riqueza. Al respecto y en base a una transcripción del Inca Garcilaso de la Vega, define a una persona rica como aquella que tiene hijos y familia que lo ayudan a que termine de forma rápida el trabajo relacionado con el tributo que está obligado a realizar. La importancia de las relaciones de parentesco en la sociedad Andina sobrevive al trauma de la conquista y la familia sigue siendo una institución fundamental para la población indígena en el nuevo escenario creado a partir del siglo XVI. Es en este contexto, que el libro de Rachel Corr analiza, desde un enfoque antropológico e histórico, las decisiones familiares de los pueblos indígenas que se enfrentaban a la obligación de trabajar en el obraje, así como los arreglos familiares que se pusieron en práctica con el objetivo de cumplir la cuota de producción asignada. La autora analiza también los mecanismos que implementaron la población indígena migrante y forastera para evitar el trabajo forzado en el obraje textil. Leia Mais
Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XVIII | María Cristina Pérez Pérez
En la última década, el interés por el estudio la imagen en el periodo colonial neogranadino, desde diferentes disciplinas y enfoques, ha aumentado. Nuevas miradas desde la historia, la antropología, y la misma historia del arte, han aportado valiosa información y reflexiones sobre la cultura visual de la época, pero al mismo tiempo han tendido a complejizar y abrir nuevas preguntas, actores y escenarios.
Más allá, de los ya clásicos trabajos de Santiago Sebastián, Luis Alberto Acuña o Gil Tovar, que enaltecían las figuras de grandes pintores, sin considerar del todo su realidad material o sus relaciones personales, las aproximaciones de Laura Vargas1, Olga Acosta2 , Jaime Borja3 o María Constanza Villalobos4 , entre otros, han hecho uso de importantes documentos o libros manuscritos, que han permitido comprender mejor el aprendizaje y la labor de los artesanos o artífices comisionados para hacer las imágenes o retablos, el funcionamiento ideológico de las pinturas o la importancia y circulación de los grabados europeos. Leia Mais
Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX) – DOMINGUES et al (FH)
DOMINGUES, Ângela; RESENDE, Maria Leônia Chaves de; CARDIM, Pedro (orgs). Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX). Lisboa: Atlantica Lisbon Historical Studies. Centro de História da Universidade de Lisboa, CHAM – Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc) e Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal de São Joao del-Rei (PPGH-UFSJ), 2019. 364 p. Resenha de: ARAÚJO, Lana Gomes de. Protagonismos indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.486-492, jan./jun., 2020.
Em 2019, sob a organização de Ângela Domingues, Maria Leônia Resende e Pedro Cardim, foi publicado o livro Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX) composto por vários artigos de pesquisadores que entendem a sociedade colonial não só como um espaço dinâmico, mas complexo, diverso e criativo, onde o tratamento dado aos indígenas gerava uma pluralidade de respostas e das suas justiças frente à cultura jurídica da sociedade colonial da América espanhola e portuguesa.
Abrindo as discussões, Ailton Krenak denuncia as violências reais e simbólicas sofridas pelo povo Krenak ao longo dos séculos. Foram perseguidos, tiveram suas famílias escorraçadas, massacradas, despejadas, expulsas de suas próprias terras e perambularam por diversas regiões do Brasil. Situação agravada durante o regime militar, quando juntamente com outras etnias foram jogados em um Reformatório, sob a desculpa governamental de que precisavam ser reeducados, enquanto tomavam-lhes as suas terras. Terras que as famílias indígenas nunca desistiram.
Em Os Povos Indígenas, a dominação colonial e as instâncias de Justiça na América portuguesa e espanhola, Pedro Cardim discute os esforços dos próprios indígenas ao longo da história em se afirmarem enquanto grupo étnico. Apontando que o movimento indígena, a produção acadêmica mais recente desenvolvida pelos próprios pesquisadores indígenas, a aproximação da história com outras disciplinas, métodos, conceitos, assim como as técnicas de manuseio de fontes documentais e as influências do conceito de subaltern studies1, têm sido importantes ferramentas para “superação dos silêncios nada inocentes e mostrar a voz e o rosto dos ameríndios”2. (FISCHER, 2009 apud CARDIM, 2019, p.31) Apesar dos avanços, Pedro Cardim destaca que é preciso estar atento ao “vocabulário da conquista” (CARDIM, 2019, p. 41), referindo-se aos termos comumente encontrados nos documentos coloniais como “índio”, “gentio”, “bárbaro” e outros. Uma vez que estes possuíam efeitos jurídicos diferentes dentro do cenário da América portuguesa e podiam significar manutenção ou perda de direitos, por exemplo.
Em Da ignorância e rusticidade: os indígenas e a inquisição na América portuguesa (séculos XVI-XIX), Maria Leônia Resende traz uma importante abordagem sobre a atuação do Tribunal da Inquisição e como a produção historiográfica sobre tratou o tema, apresentando uma luta ideológica entre as diversas facções religiosas da Europa na Idade Moderna: ora uma visão detratora por sua crueldade, ora pelo certo grau de misericórdia diante aos considerados ataques ao catolicismo.
Todavia a história institucional do dito Tribunal se deu no plural na Europa e nos domínios ultramar, ao ponto de podermos afirmar que houve Inquisições. E, os estudos das denúncias e processos têm mostrado as maneiras que a Inquisição lidou com as expressões das práticas religiosas, costumes e culturas indígenas tendendo, muitas vezes, em uma interpretação jurídica-canônica mais benevolente para as “populações desprotegidas”, fundamentada no uso do conceito “persona miserabilis” e da “ignorância (in)vencível”.
O conceito de persona miserabilis permeia o debate de outros pesquisadores, como o de Jaime Goveia, Maria Regina Celestino de Almeida, Hal Lagfur e de Pedro Cardim. Este último, inclusive, compreende que a classificação de miserabile garantia certa proteção aos indígenas, situando-os numa condição especial frente à Inquisição, aos tribunais ordinários, ou ainda, aos colonos, sustentadas por uma posição evangelizadora mais benevolente. Esse entendimento, de pessoas “miseráveis, ignorantes, pessoas rústicas”, fazia com que acreditasse que os indígenas eram incapazes de dar conta dos seus próprios erros, por não terem consciência plena do “pecado”.
As principais denúncias contra os indígenas fundamentavam-se em questões de feitiçaria, adivinhações, bigamia, blasfêmias, por comerem carne em dias proibidos e até por pequenos roubos, como foi o caso de Anselmo da Costa. Este, um jovem índio de 14 anos, confessou ter roubado pequenos adereços e pedaços de fita do berço do Menino Jesus para confeccionar uma bolsa de mandigas, a fim de se livrar dos perigos de mordidas de cobras e onças. O jovem passou 4 anos no cárcere, mas teve seu processo encerrado quando o Tribunal alegou sua capacidade de discernimento (RESENDE, 2019, p.113).
Em Sem medo de Deus ou das justiças (…), a professora Ângela Domingues analisou os “poderosos do sertão” através dos discursos do capitão-mor e governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado na Capitania do Grão-Pará e como eles estavam alinhados com a política pombalina. De acordo com ela, através da análise desse período administrativo é possível perceber as estratégias, alianças e negociações interétnicas, revelando situações em que os indígenas passaram a ser considerados infratores por não se enquadrarem nos projetos do Estado para a Amazônia e desafiarem a vontade dos poderosos da região.
Em Índios, territorialização e justiça improvisada nas florestas do sudeste do Brasil, Hal Langfur levanta uma interessante questão acerca da implementação da justiça no Brasil colonial imposta em prejuízo aos indígenas. Segundo ele, a legislação colonial mascarou uma realidade jurídica, retirou os índios das suas terras, legitimou o trabalho forçado etc., mas “os indígenas não aceitaram esta perseguição jurídica sem resistência” (HANGFUR, 2019, p.157).
Jaime Gouveia, em Os indígenas nos auditórios eclesiásticos do espaço luso-americano, debate sobre as relações envolvendo os povos indígenas e a justiça episcopal no período colonial, tema que gerou algumas generalizações equivocadas, sobretudo, por não ter existido no caso português um “direito canônico” como existiu na América hispânica.
No Brasil, os auditórios tinham alçada sobre todo o clero secular – excetuando alguns crimes (como os de lesa-majestade e disputas relativas aos bens da Coroa) – e leigos (membros da Capela Real e das ordens militares). E poderes quanto a matéria, ou seja, sobre a natureza dos delitos, abrangendo os pecados públicos, independente dos autores serem leigos ou eclesiásticos. Mas, não tinha competência para julgar as consideradas heresias indígenas.
Porém, com os índices populacionais nos territórios indígenas, as necessidades de evangelização esbarravam na escassez de estruturas necessárias a esse exercício, passando a exigir responsabilidades mais amplas. De todo modo, os processos judiciais contra os réus indígenas decorriam na mesma formalidade de praxe dos não-indígenas, com exceção do privilégio jurisdicional de miserabilidade, que era visto como concessão de uma graça do direito canônico aos indígenas.
No sétimo artigo, Maria Regina Celestino de Almeida apresenta uma nova versão de dois capítulos de seus livros publicados em 2005 e 20093, desenvolvendo uma relevante análise sobre a cultura política indígena e política indigenista no Rio de Janeiro colonial através das disputas jurídicas sobre as terras e a identidade étnica dos índios aldeados entre os séculos XVIII e XIX. Evidenciando o fato de que, para evitarem a perda total de suas terras, os indígenas passaram a assumir nitidamente a identidade de índios aldeados e súditos cristãos, assumindo uma posição de privilégios em relação aos negros e índios escravos (ALMEIDA, 2019, p. 221).
Isso porque, assumindo essa condição, podiam solicitar mercês, ter direito à terra, embora uma terra reduzida. Tinham direito ainda a não se tornarem escravos, embora obrigados ao trabalho compulsório. Por fim, o direito a se tornarem súditos cristãos, embora tivessem de se batizar e abdicarem de suas crenças e costumes. Sendo que as lideranças ainda tinham direito a títulos, cargos, salários e prestígio social, o que dentro de condições limitadas, restritas e opressivas, eram possibilidades de agir para valer o mínimo de direito assegurado por lei.
Como parte das investigações mais recentes, escrito em espanhol, o artigo de Pablo Ibáñez-Bonillo, Procesos de Guerra Justa en la Amazonía portuguesa (siglo XVII), aponta a influência indígena na construção das fronteiras coloniais, partindo da premissa de que a guerra justa é uma ferramenta para se explorar as relações de fronteira. Com isso, a construção de alteridades e a influência das dinâmicas indígenas na história colonial não podem ser vistas como um mecanismo de dominação, mas sim um processo mais amplo de negociação e resistência.
O texto do professor Juan Marchena e da Nayibe Montoya (2019) traz um valioso estudo sobre as justiças indígenas andinas e sua relação com a aprendizagem da cultura escrita. Os autores destacam que as sociedades originárias lutaram e lutam permanentemente pela independência, justiça, dignidade e necessidade de combater a pobreza, não se renderam, não se deixaram comprar, mesmo enquanto eram abatidos e destruídos. Sendo que, com a luta mantida durante os séculos até o presente, por suas terras, cultura e identidade, representam uma luta que deveria ser de todas e todos nós.
Por fim, o artigo de Camilla Macedo alude sobre a propriedade moderna e a alteridade indígena no Brasil entre meados de 1755-1862, partindo da análise da implementação do Diretório dos Índios e suas implicações para as questões de terra e propriedade privada, observando as rupturas e continuidades através das políticas indigenistas na transição da jurisdição eclesiástica para a secular, envolvendo os indígenas, administradores coloniais, religiosos etc.
Com esta obra, os autores dão continuidade ao relevante trabalho que o movimento indígena juntamente com os historiadores e antropólogos vêm desenvolvendo ao longo das últimas décadas. As reflexões contribuem para a percepção de que os homens e mulheres indígenas foram e continuam sendo protagonistas das suas próprias histórias através das suas ações, ressignificações e agenciamentos4 frente aos ditames da Coroa portuguesa.
As pesquisas apresentadas nos permitem refletir acerca dos regimes de memória5, trabalhados e discutidos por João Pacheco de Oliveira (2011), que construíram no Brasil imagens preconcebidas sobre os índios, definindo-os e limitando-os negativamente, condicionando o indígena exclusivamente ao passado colonial e estereótipos como de nomadismo, bravura ou de exuberante beleza extraído da literatura romântica.
Além de ressaltar as questões de estratégias e que interações proporcionadas pelos contatos interétnicos na realidade política colonial eram plurais, como fez a professora Maria Cristina Pompa (2001). E problematizar sobre a circularidade cultural entre os indígenas e os outros agentes coloniais, como fez Gláucia de Souza Freire (2013), ao apontar que os missionários religiosos se prevaleciam de práticas ritualísticas dos indígenas que eram consideradas “feitiçarias”, como o uso da jurema sagrada.
Os diálogos contrariam ainda a historiografia dita oficial que reservava aos indígenas um papel secundário e descarta antigas concepções sobre “índio puro”, “índio aculturado”, “resistência”, “aculturação”, embasados nas tentativas de reduzir a participação dos indígenas a um processo inevitável de extinção e desaparecimento. Sendo que os indígenas estão cada vez mais presentes nas questões políticas, se apropriando e ressignificando sua cultura e lutando pelo reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos após muita persistência do próprio movimento indígena.
Notas
1 O conceito de Subaltern Studies trabalhado por Florencia Mallon (1994) foi utilizado para tratar da análise de “baixo para cima” realizada por um grupo de estudiosos sobre a Índia e o colonialismo, mas que forneceu inspiração para historiadores americanicistas. MALLON, Florencia. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American. History. The American Historical Review: 1491-1515. DOI:10.1086. 1994.
2 FISHER; O’HARA. Introduction Racial Identities and their Interpreters in Colonial Latin America. In: FISCHER, Andrew; O’HARA, Matthew Imperial Subjects. Race and Identity in Colonial Latin America. Durham: Duke University Press. 2009. p. 1-37.
3 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios, Missionários e Políticos: Discursos e Atuações Político-Culturais no Rio de Janeiro Oitocentista.” In: SOIHET, Racehel el al (org). Culturas Políticas. Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 235-255; ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Cultura Política Indígena e Política Indigenista: Reflexões sobre Etnicidade e Classificações Étnicas de Índios e Mestiços no Rio de Janeiro – Séculos XVIII e XIX. In.: AZEVEDO, Cecilia et al (org.) Cultura, Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 211-228
Referências
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios, Missionários e Políticos: Discursos e Atuações Político-Culturais no Rio de Janeiro Oitocentista. In: SOIHET, Racehel el al (org). Culturas Políticas. Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 235-255.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Cultura Política Indígena e Política Indigenista: Reflexões sobre Etnicidade e Classificações Étnicas de Índios e Mestiços no Rio de Janeiro – Séculos XVIII e XIX. In.: AZEVEDO, Cecilia et al (org.) Cultura, Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 211-228
DOMINGUES, Ângela; RESENDE, Maria Leônia Chaves de; CARDIM, Pedro (orgs). Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX). Lisboa: Atlantica Lisbon Historical Studies. Centro de História da Universidade de Lisboa, CHAM – Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc) e Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal de São Joao del-Rei (PPGH-UFSJ), 2019. 364 p.
FISHER; O’HARA. Introduction Racial Identities and their Interpreters in Colonial Latin America. In: FISCHER, Andrew; O’HARA, Matthew Imperial Subjects. Race and Identity in Colonial Latin America. Durham: Duke University Press. 2009. p. 1-37.
MALLON, Florencia. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American. History. The American Historical Review: 1491-1515. DOI:10.1086. 1994.
MONTEIRO, John. Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
OLIVEIRA, João Pacheco de (org). A presença indígena no Nordeste: processos de territorialização, modos de reconhecimento e regimes de memória. Rio de Janeiro: Contra Capa. 2011.
POMPA, Maria Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil Colonial. 2001. 455 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2001.
SOUZA, Glaucia Freire. Das “feitiçarias” que os padres se valem: circularidade cultural entre indígenas Tarairiú e missionários na Paraíba setecentista. 2013. 159 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Campina Grande, PB, 2013.
Lana Gomes Assis Araújo – Bacharela em Direito pelo Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande – PB, licenciada em História pela Universidade Federal de Campina Grande – PB, mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande – PB, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Recife – PE. Bolsista CAPES. E-mail: lana.araujo@ufpe.br.
[IF]A comunicação social na Revolução dos Alfaiates / Florisvaldo Mattos
Os movimentos nativistas do século XVIII são objetos de revisão dos historiadores ao tempo em que ciências afins também lançam mão de investigações transversais com recortes pioneiros, trazendo à luz vertentes para outras leituras. É o caso da Revolta dos Alfaiates, conhecida também por outras denominações: Conspiração ou Revolução dos Alfaiates, Revolta dos Búzios, Sedição de 1798, Conjuração Baiana, Levante de 1798, Inconfidência Baiana.
São passados 220 anos da Revolta dos Búzios, movimento nativista revolucionário negro-mestiço, que teve como baluarte o fenômeno da comunicação, através da oralidade e dos chamados boletins sedicioso espalhados na cidade do Salvador. É disso que trata o livro A comunicação social na Revolução dos Alfaiates, do jornalista, poeta e pesquisador Florisvaldo Mattos, agora relançado em edição comemorativa. Um trabalho interdisciplinar reconhecido pelo pioneirismo, gerado durante os estudos de mestrado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), com abordagem sobre o formato da comunicação no processo revolucionário em questão.
Literato, escritor, autor de vários livros e participante de coletâneas, Florisvaldo Mattos é baiano com longa estrada no jornalismo, além de professor na UFBA. Sempre disposto a orientar e incentivar os alunos e colegas, é portador de grandes experiências culturais e acadêmicas. E nessa linha de atuação, seu trabalho científico faz a diferença nos estudos da história da comunicação brasileira, agora à disposição de qualquer interessado. Até o momento, a comunicação parece um tema despercebido como fonte de estudo e pesquisa ao longo de todo o período colonial.
Apaixonado pelo drama do movimento, o autor confessa que de início a ideia do trabalho era escrever um longo poema ou uma peça de teatro. Porém a convivência com as metodologias científicas do curso de mestrado na época gerou o ensaio ora em discussão e acrescenta ser “a comunicação um fenômeno pelo qual a ordem social respira”. (p.9) Em seis capítulos, o livro apresenta um panorama das relações sociais de comunicação no período colonial. Em foco, um conjunto de fatos e conflitos de ideais que desafiaram valores de um sistema socioeconômico.
O público tem a chance de (re) ler essa narrativa que nos remete a uma cidade que vivia um clima de rebelião, cuja discussão gira em torno dos comportamentos de comunicação da época. Salvador foi cenário da Revolta dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, sob forte influência da Revolução Francesa. A bandeira humanística de liberdade e igualdade se dispersava pelo mundo e motivava o interesse de renovação política na intenção de separar o Brasil do reino de Portugal, de abolir a escravidão e criar o regime republicano. Assim, podemos seguir em parte o roteiro dessa pesquisa dedicada a avaliar a comunicação na Bahia colonial.
As referências históricas do livro apontam que na última década do século XVIII, Salvador era uma cidade tipicamente portuária, considerada a principal porta de entrada da América portuguesa, no Atlântico sul. Apesar de ter perdido o status de capital para o Rio de Janeiro desde 1763, seguia com alguma importância de ordem econômica e administrativa. Estava decadente a produção de açúcar, mas seguiam em alta a produção e a exportação do tabaco, café, mamona, madeira e piaçava. Em troca, a colônia recebia produtos do mercado europeu e o contingente humano da costa africana para servir de mão de obra escrava.
Sem conhecer a imprensa, a capitania da Bahia tinha uma população formada de escravos, alforriados e homens livres de ocupações consideradas desprezíveis na época, como os alfaiates. Instalados na diáspora pela compulsão do tráfico negreiro, precisavam se livrar dos critérios de exclusão social. Na época, as profissões eram poucas e algumas categorias sociais são visibilizadas entre funcionários da administração real, militares, clero, grandes mercadores, grandes proprietários rurais, que formavam a chamada elite da sociedade baiana. Também havia os grandes e pequenos comerciantes, os profissionais liberais, os mestres de oficio, mecânicos, e mais a camada dos escravos, mendigos, vagabundos e prostitutas. E diante do panorama investigado, os rebeldes “são quase todos artesãos, soldados e escravos”2.
O livro é uma oportunidade de conhecer um pouco da sociedade colonial baiana, nos aspectos da educação, cultura e comunicação. Isso facilita compreender melhor as possibilidades de comunicação durante o regime escravocrata, que se dava basicamente através da oralidade. Portanto, dentro de um cenário sem escola, eram poucos os que tinham acesso ao saber da leitura e da escrita. Esse reflexo decorria do retardamento de Portugal em aderir à economia industrial, sobretudo na área da imprensa, não assimilar as conquistas da Revolução Comercial e a rivalizar a Revolução Francesa.
Nessa linha de raciocínio, o autor aborda no primeiro capítulo a clara falta de interesse em alfabetizar os índios, que deveriam ser utilizados só como força de trabalho ou então exterminá-los. Os negros vindos da África deveriam ser mantidos na ignorância, afinal eram apenas mercadoria. A narrativa revela que os portugueses limitaram o desenvolvimento da cultura na colônia, a começar pelo ensino, e desprezaram a construção de um sistema educacional. Mattos expõe ainda que “a colônia não conheceu nem a imprensa nem a universidade e as sociedades literárias, quando toleradas”. [3] O intercambio intelectual era mínimo e não havia a comunicação de ideias, por serem precárias as técnicas de informação.
Segundo o texto da pesquisa, adquirir conhecimentos necessários ao desenvolvimento cultural, troca de informações, só seria possível de três maneiras: 1) pelo aprendizado informal; 2) pela comunicação manuscrita e 3) pelo livro ou outros materiais impressos, geralmente de origem estrangeira e de contrabando. De forma que o transporte marítimo era a única via de comunicação com outros lugares.
O autor verifica ainda que no século XVIII, a sociedade baiana conta com o privilégio de duas formas de comunicação: 1) direta, verbal e não-verbal; e 2) indireta, produzida pela escrita, e outros códigos como desenhos, figuras, etc. E aponta ainda uma vasta rede de contatos interpessoais entre as diversas camadas da população como conversas, cantos, mexericos, festas, pregões de rua, cochichos, algazarras, serões, missas, procissões, epigramas, versos, discursos, enterros etc., um grande fervilhar da vida urbana e rural. A depender da situação, a forma de transmissão mais comum era o recado. A comunicação escrita, segundo revela o autor, limitava-se ao registro de documentos ou à transmissão de algo fora do alcance da linguagem fônica. E assim, a Bahia tinha uso limitado da escrita e sempre esteve fora da produção impressa, mesmo quando era sede do governo geral.
Mattos conduz o leitor na rota de como se deu a consciência política e revolucionária do movimento através das relações de comunicação possíveis, tanto pela via oral dos diálogos ou do recado, como pela via manuscrita das cartas, bilhetes e avisos. O movimento mostra que ganhou forma através de uma vasta rede de contatos verbais, em sua maioria, conforme indica o autor. Ao que parece, escapou aos historiadores que, do nascimento ao fracasso, a revolta se constituiu apenas de atos de comunicação. E sobre o papel da comunicação nos preparativos do levante, três formas típicas se destacam: a conversa, o recado e o bilhete.
As reuniões e a proposta de levante foram delatadas. Na manhã do dia 12 de agosto de 1798, domingo, a cidade acordou com uma serie de manifestos espalhada em pontos de grande movimentação, contendo mensagens revolucionárias, falando de liberdade e igualdade, e reivindicando mudanças de governo. A leitura desse material foi reduzida, mas a repercussão teve grande audiência graças ao boca a boca, ao boato, à oralidade do povo, em decorrência da leitura de alguns semialfabetizados que tentavam decifrar as mensagens. Mas, alguém há de perguntar, o que estava mesmo escrito naqueles manuscritos para causar tanta inquietação? A coroa portuguesa deu início imediato ao processo da devassa.
Em face do contexto, a narrativa sugere que o conteúdo era incendiário para a época, revolucionário. Um verdadeiro escândalo para o regime por falar de liberdade, igualdade e se manifestar contra a escravidão. Os rebeldes lançavam propostas concretas para resolução de uma crise sociopolítica e mudança de regime na Bahia, inclusive com garantia de igualdade para todos perante a lei. Os manuscritos foram afixados certamente por um grupo em locais que hoje demarcam o Centro Histórico de Salvador. Eram onze manifestos, classificados pela elite como boletins sediciosos, que conclamavam a população a se rebelar contra o domínio português.
No plano da comunicação, o autor/pesquisador classifica essas mensagens como: orais, escritas e de sinais convencionais. A primeira caracteriza a predominância da oralidade em todas as fases do movimento, através da via direta entre os rebeldes em reuniões e troca de informações. A segunda categoria marca a importância da divulgação das ideias revolucionárias pela via indireta. O autor revela que a escrita de cartas e bilhetes se estendeu também à região do Recôncavo. A terceira categoria implicava em linguagem especial de símbolos secretos representativos para identificar aliados, facilitar a comunicação no grupo e reconhecer em público a ideologia do outro. Entre eles, o uso do búzio, código dos mais conhecidos e que levou alguns historiadores a nomearem o movimento de Revolta dos Búzios.
Assim, seguindo a ordem da pesquisa, em todo ato de comunicação, o comunicador busca a atenção do destinatário, deve atingir o outro e obter uma resposta. A intenção dos rebeldes baianos era estimular parcela da população sobre problemas sociais e políticos inerentes a suas necessidades. O autor estima que tais mensagens transmitiam as ideias francesas e abalavam o contexto de então, devido aos temas polêmicos e revolucionários.
Em suma, uma nova leitura possibilita concluir que o movimento foi totalmente sufocado. A revolta foi traduzida pela difusão de ideias, informações, planos, através de folhetos manuscritos que funcionaram como veículo de comunicação para um público mais amplo. A divulgação de um pensamento e ação política teve como resposta a crueldade da repressão. Com esse recorte o pesquisador Florisvaldo Mattos analisa a Revolta dos Búzios pelo prisma da comunicação, deixando nas entrelinhas que os boletins teriam sido um preâmbulo do jornalismo no Brasil, o que muito enriquece o seu significado histórico para as ciências sociais.
Marcos Rodrigues – Mestre em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA. E-mail: jmbr@bol.com.br.
MATTOS, Florisvaldo. A comunicação social na Revolução dos Alfaiates. 3. ed. Salvador: Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 2018. Resenha de: RODRIGUES, Marcos. Indícios do jornalismo brasileiro. Outros Tempos, São Luís, v.16, n.28, p.281-285, 2019. Acessar publicação original. [IF].
Entre servidão e liberdade – SANTIAGO (CE)
Homero Silveira Santiago. 16 set. 2020. https://www.youtube.com/.
 SANTIAGO, H. Entre servidão e liberdade. São Paulo: Politeia, 2019. Resenha de: OLIVA, Luis César. Entre servidão e liberdade de Homero Santiago. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.42, jan./jun., 2020.
SANTIAGO, H. Entre servidão e liberdade. São Paulo: Politeia, 2019. Resenha de: OLIVA, Luis César. Entre servidão e liberdade de Homero Santiago. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.42, jan./jun., 2020.
O caminho de um jovem professor e pesquisador depois de seu período de formação (supondo abstratamente que a formação termine com a conclusão das teses de mestrado e doutorado, o que é sabida – mente falso) é sempre sinuoso. Depois de anos regido por um projeto de pesquisa e “vigiado” por agências de fomento, ele se vê dividido em múltiplas tarefas didáticas, administrativas e intelectuais (algumas feitas de bom grado, outras nem tanto) que produzem, na sua obra publicada, uma inevitável impressão de dispersão. De certo modo, é esse percurso fragmentado que Homero Santiago nos traz em Entre Servidão e Liberdade (2019).
Depois de seu mestrado e doutorado sobre Espinosa, ambos revelando um historiador da filosofia de boa cepa, capaz de abordar temas circunscritos e pouco explorados pela tradição interpretativa, mesclando coerentemente rigorosas análises de texto com eruditas considerações históricas, eis que o autor agora deve dividir-se em escritos dos mais diferentes formatos: artigos especializados e para o público geral, traduções, prefácios, resenhas, entrevistas, etc. Ao reunir boa parte deles neste livro, Santiago não esconde a multiplicidade de formas nem a variedade de ocasiões que os motivaram. Porém, se a forma talvez denuncie a dispersão do percurso, o conteúdo a nega, atestando a admirável unidade de pensamento de um filósofo que usou as mais variadas vias de expressão para discutir uma única e fundamental questão: a transição (infelizmente nem sempre de mão única) da servidão à liberdade.
Dividido em cinco partes (e uma introdução que mencionaremos mais tarde), o livro se abre com um notável capítulo sobre a superstição em Espinosa, no qual o autor apresenta uma das mais completas e detalhadas análises já feitas sobre o famoso apêndice da parte I da Ética . Mais do que mostrar a renitência do historiador da filosofia meticuloso, este longo capítulo tem a função de revelar o ponto de vista com o qual Santiago pretende abordar os diversos assuntos presentes no livro. É com lentes espinosanas que o fará, e com atenção específica para o aspecto que talvez afaste Espinosa do outro filósofo que mais marcou o percurso de Santiago e é quase onipresente na etapa final do livro: Antonio Negri. Enquanto Negri, também inspirado em Espinosa, deixa-se levar pelo otimismo dos movimentos multitudinários e dá todo o destaque para a liberdade, Santiago ancora-se na análise espinosana da superstição para dar conta da inegável servidão que nos assola. Ao final do livro, quando Santiago explicitar suas críticas (que não impedem a enorme admiração) a Negri, o leitor perceberá plenamente o quanto era significativo ter no apêndice seu ponto de partida.
O mergulho na servidão, porém, não ocorre sem uma visão da praia. Embora as decepções com o sistema de crenças da superstição não apontem, na letra do apêndice, para uma saída, elas abrem ao menos uma possibilidade, que não será explorada neste texto, mas que remete Santiago a outro de Espinosa, o Tratado da Emenda do Intelecto, onde as decepções com os valores da vida comum nos levam à necessidade de começar a filosofar, ou pelo menos, como dirá o segundo capítulo,
já que os valores são necessários, tratemos nós de forjá-los em vista da alegria e do benefício à vida. Poder fazê-lo talvez seja o mais difícil, mas precisamos fazê-lo. Se não o fizermos, se nos restringirmos ao mais fácil, o preconceito, a tristeza, a superstição e os seus lugares-tenentes o farão por nós (SANTIAGO, 2019, pág. 118).
De um lado, esta surpreendente conclusão nos remete à introdução do livro, onde Santiago usa, também surpreendentemente, Pascal para pensar a transição entre servidão e liberdade. É no interior do determinismo da teologia jansenista da graça que Pascal inventa um sentido para a apologia: é preciso crer que estamos entre os eleitos, assim como os homens que nos cercam, por mais ímpios que sejam, enquanto lhes restar um momento de vida. Para Santiago, ao fazê-lo, Pascal está criando um possível no seio do necessário, e aí se encontra a surpreendente afinidade entre os dois pensadores.
De outro lado, o trecho citado nos remete a outro capítulo funda – mental, em que o que é apenas intuído na teologia de Pascal ganhará clareza conceitual para aplicar-se a Espinosa. A partir de uma engenhosa interpretação do papel da ignorância nas definições de contingente e possível, Santiago encontra para este último um lugar fundamental na ética e na política espinosanas:
o ponto de vista do possível ignora a causa, mas a ignora sobre – tudo porque a considera, ou seja, toma a coisa como tendo causa (…). Com efeito, se possível é aquilo cuja causa é indeterminada, possível é igualmente aquilo cuja causa pode ser determinada; sobre a qual, em suma, pode-se agir, pois o indivíduo se enxerga (correta ou incorretamente) como agente possível de um acontecimento (SANTIAGO, 2019, p. 153).
Sem desconsiderar o fato de que, ontologicamente, só há o necessário, Santiago dá ao possível a realidade de uma tarefa cujo cumprimento é imperioso para o uso da vida. Este capítulo, assim, fecha o bloco mais estritamente espinosano do livro, apresentando tanto a realidade da servidão, quanto a possível porta aberta para a liberdade. Como passar por ela? Eis a pergunta que o restante do livro tentará responder das mais variadas maneiras; nenhuma delas, porém, definitiva. Já chegando à terceira parte do livro, é curioso que o primeiro texto explicitamente dedicado ao pensamento de Negri seja antecedido por um capítulo dedicado a outra notória espinosana, Marilena Chaui. A despeito das diferenças interpretativas dos dois filósofos sobre a obra de Espinosa, a contiguidade dos dois capítulos acaba destacando algo de comum entre eles, e que remete à influência marxista que ambos compartilham: a importância dada à luta de classes. Olhar para os conflitos no interior da sociedade, e não só para a história do Estado, como se este fosse um ente transcendente e causa de si próprio, é uma tônica de vários textos de Chaui. Em Negri, é a partir da análise das lutas operárias que se desenvolverá a apropriação particular que o italiano faz do conceito espinosano de multidão, central em sua filosofia (e também na de Santiago, que com ele pensará, dentre outros temas, junho de 2013). Mas a atenção aos conflitos sociais e a recusa Espinosana da transcendência, comuns a ambos, levarão Chaui e Negri a caminhos diversos. Para Chaui, nas palavras de Santiago, “se a tirania persiste é porque se enraíza na vida social, dela emergindo como efeito que decorre de uma causa e envolve, de alguma maneira, todo o corpo social” (SANTIAGO, 2019, pág. 192). Daí surgirão as reflexões de Chaui sobre Brasil como sociedade autoritária. Seria o lado amargo da multidão? Para Negri, a multidão é o sujeito da práxis coletiva que brota do desejo primordial de libertação, subjacente a todas as carências particulares que aparecem nas lutas sociais. Como explica Santiago:
a noção restritiva de classe sai de cena em benefício de uma noção bem mais ampla, que permite pensar a unidade de todos os explorados em sua própria diferença, sem recurso à tradicional subsunção dessas diferenças à identidade do operário industrial, isto é, o operário-massa. Em segundo lugar, a luta de classes passa a ser considerada como possuindo seu motor no desejo. É a articulação dessas duas inovações que, nitidamente, vai nos direcionando para o conceito de multidão, que ao fim e ao cabo se revelará o único capaz de nomear essa nova classe (SANTIAGO, 2019, p. 212).
Aqui decerto não há lado amargo, mas a lente crítica de Santiago não se furtará ao questionamento óbvio (aliás retomando, por outro viés, o problema da passagem da servidão à liberdade): como pode este conceito fazer-se acontecimento?
A filosofia de Negri será retomada mais à frente, em detalhe. Antes disso, porém, a quarta parte do livro dará lugar a três preciosos ensaios sobre temas recorrentes em nossa realidade social: a polícia e seu pendor à violenta obediência abstrata; o Estado e seu escopo; e final – mente o dinheiro e a liberdade. Todos têm por ponto de partida objetos empíricos particulares, como o colaboracionismo da polícia francesa durante a segunda guerra ou as transformações sociais decorrentes do Bolsa-Família, mas a questão teórica de fundo é a mesma: os conceitos de servidão e liberdade. Ademais, depois da passagem por Chaui e Negri, não poderiam ser mais claras as razões de Santiago para voltar-se para os acontecimentos sociais. As conclusões, porém, são sempre teóricas, e tão surpreendentes quanto (para um leitor atento) coerentes com as bases conceituais estabelecidas nos capítulos anteriores.
Sem entrar em mais detalhes, inclusive para não entregar todas as voltas e reviravoltas ao leitor, cabe destacar mais uma vez a importância deste trabalho nos dias que correm. Útil tanto para especialistas (em Espinosa, Negri, Chaui e até mesmo Pascal e Nietzsche) quanto para o público geral, o livro traz reflexões particularmente vivas quando espasmos autoritários nos ameaçam de longe ou de perto. Embora seja o retrato do percurso intelectual singular de Homero Santiago, Entre Servidão e Liberdade alcança, se não a universalidade, pelo menos a comunidade dos bens que podem ser partilhados.
Referências
SANTIAGO, H. Entre servidão e liberdade. São Paulo: Politeia, 2019.
Luis César Oliva – Professor Universidade de São Paulo. E-mail: lcoliva@uol.com.br
Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão | Romário S. Basílio e Marcelo C. Galves
Em tempos em que o obscurantismo rodeia a percepção sobre a prática do historiador, o livro Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão, dos historiadores Marcelo Cheche Galves, Romário Sampaio Basílio e Lucas Gomes Carvalho Pinto, expõe as vísceras do métier, de forma a salientar o aspecto crucial da pesquisa e do trabalho em grupo, bem como a importância das agências que ainda financiam pesquisas no país.
Resultado do projeto de pesquisa “Posse, comércio e circulação de impressos na cidade de São Luís”, desenvolvida pelo Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista (NEMO), da Universidade Estadual do Maranhão, sob orientação do professor Marcelo Cheche Galves, a obra tem como premissa o reconhecimento de uma efetiva circulação de impressos na capitania e, posteriormente, província do Maranhão, entre o final do século XVIII e o ano de 1834. O livro resgata a existência de um comércio ativo envolvendo impressos, pouco explorado até então. O objetivo da obra é relacionar os impressos que circulavam em São Luís com importantes transformações sociais e econômicas pelas quais passava a cidade.
Ancorada em arquivos brasileiros e portugueses, a pesquisa recolheu, para identificar práticas comerciais e circulação ligadas aos impressos, informações sobre trânsito de alunos entre universidades de Lisboa e a cidade de São Luís, de funcionários régios, de autoridades eclesiásticas e de súditos buscando colocações melhores na máquina administrativa ou condições de sobrevivência. A existência de uma demanda por impressos está ligada ao que os autores definem como “razões práticas” para se ler. Nessa tipologia de impressos práticos, os historiadores elencam bíblias, gramáticas, dicionários e manuais de comércio e de Direito.
A obra faz oposição às produções que articulavam desenvolvimento econômico com desenvolvimento cultural que, segundo os autores, imprimiram sobre os estudos acerca dos impressos um tom elitista e europeizado. Com posições marcadas, os historiadores frisam a emergência de uma cultura escrita que é componente de uma São Luís em movimento.
Para os autores, o conceito de cultura escrita é o oposto do defendido pela historiografia que relacionou tal cultura à erudição. No caso dos estudos do tema no Maranhão, podemos citar Jerônimo Viveiros, que defendeu a quase nulidade de comércio de impressos na região, atrelando a ideia de atraso intelectual à “tardia” adesão da província do Maranhão ao projeto de independência do Rio de Janeiro. Caminhando em sentido totalmente oposto, os autores entendem cultura escrita como uma série de práticas amplas, funcionais e dinâmicas, que não necessariamente são eruditas.
Nesse sentido, a obra está no campo das proposições de Maria Beatriz Nizza da Silva (1973) que estudando a produção, distribuição e consumo de impressos no Rio de Janeiro a partir de 1808, propôs a “dessacralização” do livro, frisando a necessidade de fazer um contraponto aos campos dos estudos sociais e historiográficos que o entendiam de forma presa à ideia de grande obra. Essa abordagem, criticada por Silva e pelos autores de Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão, negligenciou o aspecto comercial dos impressos. Em suma, trata-se da necessidade de se fazer “uma sociologia da leitura” e encarar os livros e os folhetos como objeto comercial.
Sob a influência explícita de estudiosos que trabalharam o livro em sua dimensão social, a obra se propôs fazer uma pesquisa que encarasse o tema de forma pragmática e materialista, centralizando aspectos econômicos e sociológicos que não podem deixar de figurar nessa área de estudos. Encarar de forma materialista os impressos é ter em mente o aspecto de realidade que envolve tais documentos e poder acessar um cenário de transformações de ordem demográfica, social e econômica. A cultura escrita é aqui entendida como um componente de uma cidade em movimento.
Alguns estudos apontaram pistas acerca de fontes que seriam importantes para o desenvolvimento do livro. Márcia Abreu, em Os caminhos dos livros, apontou para a potencialidade da documentação da Real Mesa Censória ao localizar, no período de 1796 a 1826, 350 pedidos de autorizações para envio de livros vindo de Portugal para o Maranhão, número que seria inferior somente aos destinados para o Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Os números levantados por Abreu corroboram, segundo os autores, com a pertinência de atrelar crescimento populacional e cultura escrita. Além das colaborações importantes de Abreu para o campo, os autores citam ainda as contribuições do estudo de Iara Lis Carvalho Souza, que no livro Pátria coroada: o Brasil como corpo político autônomo (1780-1831), apontou para o ano de 1800 a vinda de vários exemplares de “Direito natural”, de Burlamaqui, e da pesquisa de Geraldo Mártires Coelho que, estudando o Grão-Pará na época colonial, referiu-se a remessas de obras de Voltaire e Montesquieu ao Maranhão nos anos de 1813 e 1816.
O livro é dividido em duas partes, sendo que a primeira, “Impressos, mercadores e autores na cidade do Maranhão”, abarca os capítulos “O Maranhão nos quadros do reformismo ilustrado português: a livraria da Casa do Correio”, “António Manuel e Manuel António, mercadores de livros – atuação dos mercadores de livros”, “O Piolho Viajante no Maranhão, seus leitores e movimentos – a recepção dos escritos”, “Gramáticas e dicionários em circulação pelo Maranhão no início dos Oitocentos – a demanda por determinada literatura, por vezes captada pela oferta” e “O Conciliador do Maranhão: produção, difusão e comercialização de literatura política em tempos de Revolução do Porto”; já a segunda parte, “O que se anuncia e o que se lê: impressos nos jornais de São Luís”, oferece aos leitores os capítulos “’Vendem-se a preços cômodos’: os impressos anunciados em São Luís” e “Catálogo dos impressos anunciados em jornais ludovicenses (1821-1834), precedido de texto com considerações acerca do catálogo.
O capítulo 1estabelece como um lugar privilegiado para observação do comércio de impressos em São Luís a Casa do Correio, que permitia o recebimento, a venda e o envio de impressos na cidade por meio de uma política de distribuição do conhecimento. As principais obras identificadas refletiam o projeto ilustrado português à época, cabendo ressaltar o predomínio de obras ligadas ao aperfeiçoamento técnico da agricultura. Assim, o principal objetivo dos autores no capítulo é discutir a materialidade da ideia de que a sociedade maranhense era, nesse momento, pouco afeita ao letramento e ao projeto de desenvolvimento de Dom Rodrigo de Souza Coutinho.
Ainda no contexto do Reformismo ilustrado, o capítulo 2 investiga a ação de dois mercadores importantes na composição de uma rede de comércio de livros nos espaços luso-brasileiros. O objetivo dos autores aí é entender o comércio no exclusivo comercial da metrópole com a colônia, não no sentido de encarar a relação como sendo parte de um entendimento acerca do conceito de periferia consumidora, mas de mapear e procurar entender dinâmicas estruturais da relação metrópole-colônia. Assim, temos no capítulo algumas considerações acerca da atuação de António Manuel Policarpo da Silva, livreiro em Lisboa e possível autor da obra, que será estudada no capítulo seguinte, O piolho viajante, do comerciante de livros no Maranhão Manuel António Teixeira e da relação que os dois estabeleceram entre si no contexto da Era Pombalina. A documentação trabalhada no capítulo é referente à Real Casa Censória e do Desembargo do Paço. A obra O piolho viajante e seu possível autor, António Manuel Policarpo da Silva é o tema do capítulo 3. Nesse cenário, os autores se esforçam por traçar o movimento de uma obra popular, concluindo que junto a clássicos de literatura religiosa, manuais mercantis, dicionários, gramáticas, literatura jurídica e política, as novelas populares tiveram espaço privilegiado naquele momento.
O capítulo 4 traz um estudo sobre a demanda por determinado tipo de literatura que pôde, segundo os autores, ser captada pela oferta. Além da documentação da Real Mesa Censória e do Desembargo do Paço, privilegiada nos dois capítulos anteriores, os autores se debruçaram sobre os anúncios impressos em jornais que circulavam em São Luís entre os anos de 1821 e 1834. O objetivo do capítulo é captar a movimentação contínua desses títulos na cidade. Na tipologia de livros ofertados, e algumas vezes requeridos pelos anúncios, há o predomínio de dicionários e gramáticas e essa tendência deve-se, de acordo com a hipótese dos autores, ao projeto de imposição da língua portuguesa posto em prática no início dos oitocentos.
Os jornais, que começam a ser fontes privilegiadas, sobretudo após a reunião das cortes de Lisboa, aparecem no capítulo 5 como principal objeto de análise. Segundo os autores, o movimento constitucional e a liberdade de imprensa potencializaram o interesse por certa tipologia de títulos. Assim, o mote do livro, que é o reconhecimento de uma efetiva circulação de impressos na capitania\província do Maranhão, pode ser observado nas páginas do jornal que os pesquisadores colocam em tela neste capítulo, uma vez que a publicização de um comércio de impressos era anunciada no Conciliador de Maranhão.
Já na segunda parte do livro, os historiadores trazem, no capítulo 6, uma análise dos anúncios de livros nos periódicos maranhenses, com o intuito de apreender o gosto literário e prático do público consumidor à época. A identificação de grupos temáticos feita pelos pesquisadores, que indicam maior interesse por publicações a respeito de Direito e Política, estão diretamente relacionadas com o momento de transformações pelas quais passava a sociedade maranhense. Por fim, no capítulo 7, os autores oferecem ao leitor a transcrição de 126 extratos de anúncios de impressos observados nos jornais da cidade entre os anos de 1821 e 1834. Trata-se sem dúvida de um repertório importante para novas pesquisas na área.
Apoiado em vasta pesquisa em arquivos situados em Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo e São Luís, Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão ilumina um cenário de mudanças de ordem social e econômica, oferecendo uma análise que conjuga a ideia de dimensão social dos impressos com o contexto de transformações pela qual passava a sociedade ludovicense entre o final do século XVIII e o começo do XIX. Sua leitura deixa a sensação de que os tempos de mudanças – no passado como no presente – são particularmente preciosos para os historiadores.
Referência
BASÍLIO, Romário Sampaio; GALVES, Marcelo Cheche; PINTO, Lucas Gomes Carvalho. Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão. São Luís: Editora UEMA, 2019
Danielly Telles – Universidade Federal de São Paulo. Guarulhos – São Paulo – Brasil.
BASÍLIO, Romário Sampaio; GALVES, Marcelo Cheche; PINTO, Lucas Gomes Carvalho. Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão. São Luís: Editora UEMA, 2019. Resenha de: TELLES, Danielly. Impressos e sua dimensão prática. Almanack, Guarulhos, n.23, p. 514-519, set./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
An Archaeology of the Political: Regimes of Power from the Seventeenth Century to the Present / Elías J. Palti
As is generally known, things turned out differently. The binary scheme of the twentieth century3 did not dissolve into the unambiguity of a market‐liberal world domination, but led to a new obscurity.4 The political proved to be very resistant to politics. It was obviously not finished with a bored administration of what had been achieved. Rather, the space of the political, in which the formations and institutions of collectives are disputed, proved to be still unfinished and inconclusive. The lines of conflict have multiplied and changed constantly since the end of the Cold War. The world appeared to be confused by the resurrection of actors long believed to have been overcome, who suddenly populated the field of politics again: Nationalisms, fundamentalisms, and populisms have since experienced an unforeseen renaissance, even though not only the teachings of the Enlightenment, but also the dialectics of the Enlightenment5 had promised that all this would finally be overcome.
Since the end of the twentieth century, one can continue to wonder how lively, tricky, and imaginative the political is. Neither political nor historical analysis has stopped asserting that atavistic elements could reappear, that historical backwardness could creep into our present, or that a relapse into the Middle Ages could be observed (quite apart from the fact that this would be an insult to the Middle Ages). Donald Trump, Jair Bolsonaro, Brexit, nationalist governments in Hungary, Poland, Austria, Italy, or talk of a struggle between believers and unbelievers—all these phenomena are not simply undead from the past who do not want to disappear. Instead, we are dealing with a new constitution of the political, for the appropriate description of which we do not yet seem to have the right language.
Against this background, it is only too understandable to ask the question of what this political could be in a historical and theoretical sense, this political in which fundamental questions of collectives are disputed. The Argentine historian Elías José Palti chooses a double approach in his “archaeology of the political.” He doubts the existence of a quasi time‐independent essence of the political and tries to emphasize its historical emergence. He recognizes three decisive phases in the history of the political that can be roughly discerned in the seventeenth century, around 1800, and in the twentieth century. In addition to the historical description, Palti also undertakes a theoretical reflection, beginning with the almost classical starting point of Carl Schmitt, followed by the discussion as it has developed in particular since the late twentieth century with the participation of Lefort, Rancière, Badiou, Agamben, Mouffe, Laclau, and others. One cannot claim that since then it has really been clarified what exactly this substantiated adjective “the political” is supposed to address. But that is probably what makes this concept so attractive (for me as well), that, unlike “politics,” it does not pretend to be clearly definable. It is precisely blurriness and flexibility that characterize the political.
Palti wants to nail this jelly to the wall with historical tools. He marks the beginning of the political in the seventeenth century:
The opening up of the horizon of the political is the result of a crucial inflection that was produced in the West in the seventeenth century as a consequence of a series of changes in the regimes of exercise of power brought about by the affirmation of absolute monarchies. It is at this point that the series of dualisms articulating the horizon of the political emerged, giving rise to the play of immanence and transcendence hitherto unknown. (xviii)
Even though I have great sympathy for a privileging of the seventeenth century due to my own research focus, I am not sure whether this setting is convincing. Especially in the world of (formerly) Roman Catholic Christendom after the Reformation, one can certainly find many reasons to let the political begin in this constellation. But to identify the “absolutist monarchies” as a starting point then runs the risk of appearing a little too Hegelian (for it was Hegelianism that contributed decisively to the establishment of the concept of “absolutism,” because it regarded it as a necessary step in the establishment of the “modern state”).6
Why should the political have become relevant only in absolutism? One can hardly imagine a form of human cooperation and opposition in which the political should not have been important. Let’s take the fresco cycle by Ambrogio Lorenzetti from the fourteenth century about good and bad government in the Palazzo Pubblico of Siena, a popular example to illustrate medieval understandings of politics—but also an example of a problematization of the political.7 Or let us take the even more well‐known metaphor of the king’s two bodies.8 In my opinion, both examples could serve to explain Palti’s central concern, namely the relationship between immanence and transcendence. It is their mediation that for him is at the center of the question of the political, namely how the meaning and goal of the political can be justified with a view to a superordinate context (whatever name it may answer to). Palti calls this connection the “justice effect.” But this question also arose before the seventeenth century, albeit perhaps in the opposite direction: it was not so much the transcendent that was in question, but the immanent that had to prove itself in the name of the transcendent.
Palti has this connection in mind. The first chapter of his book is devoted to the “theological genesis of the political.” In it he explicitly poses the question of how the political has developed out of the theological, namely in clear demarcation from this precursor model. For Palti, the political is thus fundamentally new and fundamentally different from the theological attempt to determine the relationship between transcendence and immanence. Thus, he distinguishes himself from Giorgio Agamben, who in The Kingdom and the Glory9 emphasized the continuity between the two discourses. Palti even understands his entire argumentation as a reply to Agamben, whose argument he wants to refute (184).
If it were up to me to choose between Palti and Agamben, I would vote for Agamben. In the context of this review, this will lead me to disagree with some of Palti’s arguments. These responses do not mean, however, that this is a bad book. On the contrary, I would strongly recommend reading it for thematic, methodological, and theoretical reasons. However, my view of the problems presented here is partly different.
Let us begin with some methodological considerations: Palti presents a conceptual history with which he explicitly wants to set himself apart from a history of ideas. For quite understandable reasons, he considers the history of ideas to be anachronistic because it transfers current ideas to past conditions and examines their occurrence there.
One may, however, suspect that his conceptual history does not escape anachronism either. For example, if Palti (in parallel to Koselleck’s “Sattelzeit”10) identifies a “Schwellenzeit” (threshold time) between 1550 and 1650 in which the political gradually detached itself from the theological—isn’t that already an anachronistic statement? Doesn’t one have to know already that one has crossed a threshold before one can state that there was a corresponding threshold time? Isn’t it fundamentally anachronistic to have information at one’s disposal of which past contemporaries could not yet know anything, namely that their approach to the questions of transcendence and immanence could still be relevant in the early twenty‐first century?
In other words, can there be any historical approach at all that is free of anachronism? And by that I don’t mean the case of chronologically wrong classification, of manual error. I mean the mixing of times: Historical questioning must be anachronistic insofar as it brings times that are not simultaneous into contact with one another—and this happens in a highly productive way.
Another difficulty with conceptual history arises from Palti’s claim not to want to rely on ideas alone, like the history of ideas (whatever might be meant by “ideas”). He aims rather at “analyzing how the terrain within which those options could take shape was historically articulated” (28). However, if you look at the terrain that is being paced here, it turns out to be rather sparsely populated. Palti bases his argumentation on a few selected examples whose representativeness is not always plausible. He analyzes extensively Greco’s painting The Burial of the Count of Orgaz, the writing “Defensio fidei” by Francisco Suarez, plays by Shakespeare, Calderón, Racine, and Lope de Vega, the essay by the Capuchin monk Joaquin de Finestrad entitled “El vasallo instruido” from the late eighteenth century, examples from serial music, as well as political and legal theoretical treatises by Carl Schmitt and Hans Kelsen. This is not a complete enumeration, but these are the essential examples that Palti refers to in order to prove the conceptual development of the political over three centuries. Why these persons and artifacts should be representative for the corresponding development is not always clear. One could well have imagined a different selection—above all, a selection that could have illustrated completely different paths of development.
I would like to explain this by using the example of the discussion about absolutism. Palti assumes that absolutism, with the changed position of the monarch, also fundamentally changed the constitution of the political. One can see it that way. This has often been done in traditional historiography on this subject. But what Palti completely ignores are the other stories that can be told about the European seventeenth century and about absolutism.
Doubts about the model of absolutism have been expressed for decades. They condensed into an international debate in 1992, when Nicholas Henshall’s book The Myth of Absolutism was published.11 Since then, the general assessment has been that although there was a political theory of absolutism in the seventeenth century, in practice it permanently failed and reached its limits. This can be well substantiated for the supposed prime example of absolutism, the French monarchy.
Now the debate about whether absolutism has functioned as political practice or not would not have to play a major role for Palti’s conceptual history—because he does not care about the question of actual implementation. What is striking, however, is the limitation that Palti imposes in his description of absolutism and the seventeenth century. He describes this period at least with a view to the political as if absolutism had been the clearly dominant model. And that is not the case. There have been numerous other strands of discussion and practices in which the political has become relevant in this period: republicanism, utopias, communalism, resistance theory, uprisings, revolutions. With reduction and unification, however, Palti’s conceptual history, which claims to take the historical contexts into account, falls into a similar imbalance as the history of ideas itself, from which he wants to distinguish himself.
The reductionism Palti applies is ultimately intended to illustrate the break that he needs in the history of the political in order to make his thesis plausible. He superimposes his idea of the birth of the political in absolutism with a secularization thesis à la Max Weber: the disenchantment of the world. Now, in absolutism, the monarch has the task of creating the unity that no longer goes without saying. I would rather say: Absolutism brings with it (on the theoretical level) a shift in the political discussion, but does not represent a discursive rupture. The theological does not disappear. It moves to new places.
An essential concern of Palti’s becomes clear with this supposed break caused by absolutism—as well as a clear difference from Agamben’s argumentation in The Kingdom and the Glory. Whereas Agamben emphasizes the continuity that exists between theological and secular justifications of the political, Palti emphasizes the break. The political, which raises its head in the seventeenth century, represents something fundamentally new for him.
I, too, would rather emphasize continuity—and this with examples that are in part quite similar to those of Palti. It is therefore less a matter of diametrical views, but of different interpretations of quite similar facts.
What is connected with this is not least the question of the historical location and the essential characteristics of modernity. If one emphasizes with Palti a break in the seventeenth century (the otherwise classic historical site of modern self‐affirmation, the Enlightenment of the eighteenth century, plays a rather minor role in its depiction), then one first identifies ex negativo a period that is characterized above all by not yet being like “the present” and by not yet living in the circumstances that “we” do. Those in the present can constitute themselves by distinguishing themselves from the premodern (living in a different time or a different space).
If one understands, as already said, the political (in contrast to politics) as the unfinished and unclosable space in which questions of the organization of collectives are negotiated, then Palti is certainly right when he states that something not insignificant changed in this space in the seventeenth century. But is it a clear rupture?
I would rather say it is a reversal of the signs while retaining the basic problem—and in this respect I also distrust the self‐description of modernity. The problem of the political is shifting into transcendence. Although until the seventeenth century, the afterlife could be regarded as a fixed point and the here and now an uncertain problem zone, the transcendent increasingly became a problem in the wake of the Reformation. In this world one had to come to other forms of (self‐)insurance.12 And in this immanent world, other (modern) forms of transcendentally oriented ways of faith were developed, which structurally had (and have) similarities with the supposedly premodern ones: the belief in growth, progress, nation, subject, and so on.13
With the help of Niklas Luhmann, the question could be raised as to how system–environment relations were redesigned and which boundaries were actually used to enable the distinction between immanence and transcendence.14 One could then probably conclude that in the seventeenth century this distinction underwent a new shaping. The question now gradually became conceivable whether God makes decisions for the world, or whether transcendent connections must be created from immanent processes. Legitimation, one could say with Luhmann, succeeded now less and less with an otherworldly God, but had to be achieved with worldly procedures.15
The question now, however, is whether with this shift a new epoch dawned, even a new world arose in which the political, which had never existed before, first came to light.
Starting from the break with absolutism, Palti’s depiction takes further steps in chronological order. One chapter is devoted to the late eighteenth and early nineteenth centuries and the emergence of democracy. It refers to Latin America, and more specifically to the political theory of Joaquín de Finestrad. Also in this historical context, which is usually identified with the code “French Revolution,” the argumentation continues: How can a new transcendence be founded from immanence?
Around 1800, this question arises in the context of the emergence of the nation. Here, with “history,” another God‐substitute is used to answer the question of transcendence. With the help of “history,” the nation is detached from the political and becomes naturalized (103). And in such procedures I see more continuities than Palti does, because there are structural similarities between the functions that “God” and “history” take over.
Palti then describes the twentieth century in the sense of a return to the Baroque—on the one hand. For as in the seventeenth century, dualisms break open, reason and history, truth and knowledge, politics and society fall apart. On the other hand, however, in the twentieth century (unlike in the Baroque) transcendence no longer holds the promise of an all‐encompassing unity. Rather, it is the source of contingency that causes systems and orders to falter. To explain this development with the help of serial music, as Palti does, is possible, but not immediately comprehensible. Palti at least claims that the fundamental matrix that can be observed in serial music is underpinned by contemporary thinking about the political. In spite of sympathy for twentieth‐century new music, this connection is not immediately obvious to me. Here a little more argumentative reasoning would have been necessary.16
Palti summarizes the developments of the twentieth century as an age of form in which the historical and evolutionary of the nineteenth century were replaced by the discontinuous. Every new form (and serial music is an example of this) is made possible by a comprehensive reconfiguration of the system (125–126).
Finally, Palti identifies three epochs in his archaeology of the political: the epochs of representation (Baroque), of history (around 1800), and of form (twentieth century). In each of these epochs, the question of the relationship between transcendence and immanence is clarified in different ways.
If we move from Palti’s analysis further into our own present in the early twenty‐first century, we might conclude that, after the three phases of the constitution of the political that Palti introduced, we now find ourselves in the already implied situation of exuberant complexity of the political, precisely because coordinates believed to be certain have been lost, and established strategies no longer seem to function. The closer Palti moves to the early twenty‐first century, the more important emptiness becomes in describing the political. He identifies the concept of the subject as an empty signifier (51, 142) and treats paintings by Kazimir Malevich and Robert Rauschenberg that deal with the emptying of the picture surface (172–176).
In this very emptiness, I would also like to identify the culmination point that is constitutive for discussions about the political. Because the unfinished and unclosable space of the political has no ultimate anchor point, some collectives are quite desperately busy setting such a point. In the afterlife, in the origin, in the telos—wherever it may be found, sooner or later it turns out to be a void. And it is precisely with such empty spaces that collectives seem to have problems. Therefore, I consider postfundamentalist theories (also treated by Palti) to be very helpful in tackling this problem.17
Palti seems to me, however, to meet the problem of the empty foundation of the political only halfway, because he names and describes it, but immediately encloses it again in a historical representation including an epoch model. So Palti’s three phases are too simple. They are too simple because there are only three, and they are too simple because they are too clear. Palti is thus stymied in the interpretation he analyzed for the nineteenth century, the epoch of history. The linear sequence of the models of the political in his argument ultimately becomes the foundation of the political par excellence: the political exists because there is the specific history of the political. This entails the danger that everything is subject to the historical—with the exception of history itself.
Palti’s epochalization of the political thus goes hand in hand with the danger of fundamentalization. Each epoch designation carries the message that, thanks to it, one has found out what a certain time now really “is.” However, the critic of the “jargon of authenticity,” Theodor W. Adorno, has already stated (and explicitly with respect to the Baroque) that epoch designations are incapable of expressing historical complexity. They grasp only mediocrity, but could hardly cover anything that was not subordinate to this average.18 The same must be said of Palti’s Archaeology of the Political: an instructive, scholarly book that offers many insights, but which, with its epochalization, does not do justice to the complexity that arises in the dynamics between the temporal and the political. For these dynamics we probably need a new language, new forms of description, which are not yet available to us as a matter of course.
How about taking seriously the offers of avant‐garde painting that Palti quotes toward the end of his book? What if the white surface of a painting by Malevitch or the erased drawings of a Rauschenberg were taken as an opportunity to reflect more closely on questions of emptiness, negation, representability, and unrepresentability, especially in the historiographical context? Then it would not only be a matter of the possibilities of describing the political, but also of the possibilities of depicting the historical.
It is here that a problem with Palti reveals itself, which seems to me worth discussing about his approach. He relies too much on the historical as the backbone of his argumentation and presentation. For as right and important as it is to question the constitution of the political, it must seem strange to use the historical as its unquestioned support.
It would have been interesting to see how Palti’s argumentation would have changed if he had not relied on the linear logic of chronology, but had made even clearer the respective references and actualizations over time. His view from the seventeenth century to the present would have offered some clues, because it was not by chance that the Baroque was revalued by the discussions about postmodernism and that philosophers such as Spinoza, Pascal, or Leibniz have received much more attention since the end of the twentieth century.
The subject of the political would thus enable the investigation of the folds of time that become relevant when presences refer to absent times. These references are indeed not always linear, but much more creative and complex than the idea of the timeline suggests. Another history of the political would arise in this way. But it, too, would show (in another way) what Palti had intended in his book: that the political is not time‐independent in character.
Notes
1. Jean François Lyotard, The Differend: Phrases in Dispute (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988).
2. Lutz Niethammer, Posthistoire: Has History Come to an End? (New York: Verso, 1992); Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992).
3. Alain Badiou, The Century (New York: Polity Press, 2007).
4. Jürgen Habermas, “The New Obscurity: The Crisis of the Welfare State and the Exhaustion of Utopian Energies,” Philosophy & Social Criticism 11, no. 2 (1986), 1–18.
5. Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment [1947] (Stanford: Stanford University Press, 2002).
6. Reinhard Blänkner, “Absolutismus”: Eine begriffsgeschichtliche Studie zur politischen Theorie und zur Geschichtswissenschaft in Deutschland, 1830–1870 (Frankfurt am Main: Lang, 2011).
7. Quentin Skinner, “Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher,” in Malerei und Stadtkultur in der Dantezeit: die Argumentation der Bilder, ed. H. Belting and D. Blume (Munich: Hirmer, 1989), 85–103.
8. Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology (Princeton: Princeton University Press, 1957).
9. Giorgio Agamben, The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government (Stanford: Stanford University Press, 2011).
10. Reinhart Koselleck, Futures Past: On the Semantics of Historical Time (Cambridge, MA: MIT Press, 1985).
11. Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European Monarchy (London: Longman, 1992).
12. The sociologist Elena Esposito has convincingly described this process with respect to the seventeenth century insofar as she has shown the new possibilities of designing other realities by means of probability calculus and fictional literature: Elena Esposito, Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007).
13. Karl Löwith, Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History (Chicago: University of Chicago Press, 1949).
14. Niklas Luhmann, Die Religion der Gesellschaft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000).
15. Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren (Neuwied and Berlin: Luchterhand, 1969).
16. For another description of the connection between politics and New Music, see Alex Ross, The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century (New York: Picador, 2007).
17. Oliver Marchart, Post‐foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007). Similar arguments can be found in a still very current book by Leo Shestov, All Things Are Possible (New York: R. M. McBride & Co., 1920).
18. Theodor W. Adorno, “Der mißbrauchte Barock,” in Gesammelte Schriften, vol. 10/1: Kulturkritik und Gesellschaft I (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 401–422.
Achim Landweh
PALTI, Elías José. An Archaeology of the Political: Regimes of Power from the Seventeenth Century to the Present. New York: Columbia University. Press, 2017. 235p. Resenha de: LANDWEH, Achim. The (dis)continuous history of the political. History and Theory. Middletown, v.58, n. 3, p.451-459, sept. 2019. Acessar publicação original [IF].
The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion – JACKSON (THT)
JACKSON, Peter. The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion. New Haven, CT: Yale University Press, 2017. p. Resenha de: IGMEN, Ali. The History Teacher, v.52, n.3, p.527-529, may., 2019.
It is an intimidating if not impossible task to review Peter Jackson’s book, The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion. First and foremost, Jackson is one of the founders of the study of the Mongol, and Central Eurasian history in general. The second reason is the encyclopedic breadth of this book, which may be regarded as is an extensive accompaniment to his seminal 2005 book, recently published in second edition, The Mongols and the West. Jackson begins his book by referring to the new corrective scholarship that does not focus solely on the destructive force of the Mongol invasions with a clear statement that he is “concerned equally to avoid minimizing the shock of the Mongol conquest” (p. 6). He also acknowledges the superior siege technology of these “infidel nomads” as opposed to the urbanized societies of Central Eurasia (p. 6). His book tells the story of these infidel masters over the Muslim subjects, mostly from the view of the latter, especially because Jackson examines the role of Muslim allies, or client rulers of the Mongols. One of the main goals of this book is its emphasis on the Mongol territories in Central Asia as opposed to more extensively studied Jochid lands (the Qipchaq khanate or the Golden Horde) and the Ilkhanate. Despite this particular goal, Jackson makes sure we do not forget about Chinggis Khan’s offspring such as Qubilai Khan, who ruled lands as far away as China.
Jackson’s book investigates how the Mongols came to rule such large Islamized territories in such a short time. It also examines the sources, including the wars between Mongol khanates and the extent of destruction of the Mongol conquest, while describing their relationships between the subjugated Muslim rulers and their subjects. The introductory chapter on Jackson’s sources provides detailed information on the writings of mostly medieval Sunni Muslim authors along with two Shī’īs, refreshingly relying on those who mostly wrote in Persian and Arabic, including the newly discovered Akhbār-i mughūlan by Qutb al-Din Shīrāzī (p.145), as opposed to Christian and European travel accounts.
The book is divided into two parts: the first part explores the Mongol conquest to ca. 1260, and the second covers the period of divided successor states with an epilogue that elaborates on the long-term Mongol impact on the Muslim societies of Central Eurasia as late as to the nineteenth century. Although the intricate if occasionally dense first part on the conquest is necessary, educators like myself will find it most useful. It is intriguing to learn about the extent of interconnectedness of the conquered Muslim societies in Eurasia and their Mongol rulers, while understanding the limitations of commercial, artistic, and religious exchanges.
We also learn about the strategic regional Muslim leaders’ relations with the Mongol conquerors. The account of the evolution of the linguistic conversions makes the story even more fascinating. The negotiations between those local rulers who kept their thrones and the Mongol victors tell a more interesting story than the existing accounts of Mongol despotism. The case in point is Jackson’s discussion of the potential of Muslim women in gaining agency under the Mongol rule. Jackson’s analysis of the extent of the repressive laws and taxes provide possible new explanations of the Mongol rule. Furthermore, his analysis of the relationship between the Tājīk bureaucrats and the Mongol military seemed particularly enlightening to me, who is interested in the dynamics of civilian and military interactions. Jackson points out that “the fact that civilian and military affairs were not clearly differentiated added to the instability,” referring to the late thirteenth-century Ilkhanate era (p. 412). The final two chapters complicate the Islamization processes in the Mongol successor states, explaining the lengthy and sporadic nature of conversions.
Without giving away Jackson’s conclusions on Islamization, I can say that he provides a highly nuanced history that challenges any linear and teleological accounts of the Mongol conquest of the Islamic lands. In addition to the breadth and wealth of information, Jackson’s book is generous to the scholars of the Mongols, including younger scholars such as Timothy May. The mostly thematic character of the book results in a shifting chronology, which assumes that the readers possess some previous knowledge of this complex history. Most of the book provides an insight to the intricate history of Mongol politics in conquered lands. The exquisite maps, images, chronologies, and glossary make the book more legible to those readers who may pick it up without prior knowledge of this history. The particular military strategies, coupled with the political intrigue of the Mongols led to a fusion of Muslim, Mongol, and other indigenous cultures, not always destroying what existed before the conquest. Peter Jackson’s book is a worthy reflection of this sophisticated history that is suitable for advanced and graduate students and scholars who possess the basic knowledge of the Mongol conquest and Islamic societies and cultures of the region.
Ali Igmen – California State University, Long Beach.
[IF]
Salvador da Bahia: Interações entre América e África (séculos XVI-XIX) – RAGGI et. al. (VH)
RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta. Salvador da Bahia: Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. 285 p. DOMINGUES, Cândido. Uma baía de histórias: novos olhares sobre Salvador e suas conexões atlânticas. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 68, Mai./ Ago. 2019.
A obra Salvador da Bahia: interações entre América e África (séculos XVI-XIX) fecha um ciclo de debates dos projetos de pesquisa intitulados Bahia 16-19 e Uma cidade, vários territórios e muitas culturas,1 financiados pela União Europeia e Capes/Brasil, respectivamente. No âmbito de cada um desses projetos de investigação, historiadores do Brasil, Portugal e França foram chamados a pensar o Império português a partir de uma perspectiva do Atlântico Sul, de modo a integrar África e América numa outra leitura da colonização lusitana. Salvador, capital do território colonial português na América por mais de 200 anos, foi escolhida como centro de interesse investigativo. Por cerca de dois anos a equipe apresentou seus resultados de pesquisa. Os projetos congregaram pesquisadores com investigações em estágios distintos de desenvolvimento, e no seu âmbito foram organizados workshops nas cidades de Salvador, Lisboa e Paris, favorecendo um debate mais ampliado e diverso, o que se reflete nos trabalhos publicados ao final do processo.
Composta por uma introdução e dez artigos, a coletânea é aberta com a observação dos editores sobre a predominância entre as contribuições que compõem o volume de “perspetivas que elegem, maioritariamente, como ponto de partida, geografias extraeuropeias” (Raggi; Figuerôa-Rego; Stumpf, 2017, p.7). Desse modo, a obra dá sequência à Coleção Atlântica, mais nova do gênero historiográfico publicada pela Editora da Universidade Federal da Bahia (EdUFBA), em parceria com o Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa (CHAM).2
Um ponto alto da obra é a multiplicidade de fontes que possibilita perceber diferentes relações entre a história da Cidade do Salvador (antiga Cidade da Bahia), as instituições portuguesas (Universidade de Coimbra ou a Junta da Administração do Tabaco, por exemplo) e sujeitos tão diversos quanto africanos escravizados ou libertos agentes do tráfico, clero, indígenas ou agentes da administração colonial. Em seu texto, Carlos Silva Jr. mostra a importância de fontes orais do atual Benin para entendermos as interações afro-europeias setecentistas. A ligação nominativa, de inspiração da microhistória italiana, mostra-se fundamental ao fazer historiográfico desde abordagens da vida socioeconômica de africanos no Atlântico até as análises das matrículas universitárias, da formação e atuação de bispos no Império. Por sua vez, o estudo de um regimento (ou seu projeto) ou de um tratado armorial mostrou-se de interesse para compreendermos diretrizes do Estado e mentalidades individuais. A estas fontes somam-se tantas outras mais tradicionais ao ofício, como testamento e inventário post-mortem, denúncias e processos inquisitoriais, registros notariais e de batismos, legislação colonial e imperial.
Os textos de Carlos da Silva Jr.3 e Luis Nicolau Pares destacam-se por aproximar os conceitos e métodos da História Social com ideias da História Econômica, de modo a pensar a história do tráfico atlântico de escravos conectado com demandas internacionais da economia e da política. A agência africana (a agency de inspiração Thompsoniana) é analisada a partir das possibilidades de africanos (abrindo caminhos para também pensarmos seus descendentes) agirem na engrenagem do capitalismo crescente e de modo integrado ao tráfico de escravos. Se no século XVIII a fundação de Porto Novo é, também, inspirada na busca de melhores preços e fuga de um mercado de alta concorrência (Silva Jr., 2017), no comércio ilegal oitocentista, africanos como Joaquim d’Almeida e Manoel Pinto são representativos de tantos outros que voltaram à África para organizar o comércio negreiro no litoral de modo a dinamizar o embarque e burlar a vigilância inglesa (Pares, 2017).
Ao analisar os “escravos-senhores”, Daniele Souza, também inspirada na História Social, considera o tráfico atlântico como promotor de fenômenos no escravismo brasileiro. Defende que a vigorosa oferta de escravos na Bahia e a possibilidade de fazer encomendas diretamente com marinheiros permitiu a escravos comprar um escravo a preço acessível. Assim como Pares, a autora assevera que a participação africana como “senhores” de escravos ou no comércio era uma exceção do sistema escravista, eram atores protagonistas de excepcionalidades. Como afirma Pares, “uma historiografia que privilegia os africanos enquanto sujeitos autônomos, com capacidade de ascensão social e ação política, não poderia negligenciar, apesar do incômodo moral que supõe” o estudo de situações dessa natureza (Pares, 2017, p.15).
Finalizando a primeira parte, João Figuerôa-Rego e Camila Amaral analisam ações do Estado para o comércio de duas mercadorias de extrema importância para o tráfico transatlântico de escravos: o tabaco e a aguardente (cachaça), respectivamente. Ambos nos chamam a atenção para o envolvimento de agentes do Governo do Império (magistrados e governadores, por exemplo) inseridos em grupos mercantis locais. Figuerôa-Rego mostra, ainda, tentativas da coroa para evitar tais aproximações dos administradores do tabaco na Bahia. A vasta rede político-mercantil das famílias César de Meneses e Lencastro está presente em ambos os textos, ainda que nas entrelinhas.4
A segunda parte da obra, Administração e agentes no espaço americano, tem como foco analisar dispositivos, projetos, instituições e formação clerical. É a parte da obra na qual Europa e América mais se aproximam. Aqui os autores analisam processos desenvolvidos na América, mas dependentes de aprovações ou julgamentos da metrópole. Ou ainda, a formação universitária europeia de agentes que atuariam no Brasil.
Com focos diferentes, Fabricio Lyrio e Maria Leônia C. de Resende discutem a administração dos indígenas envolvendo as igrejas secular e regular e o Estado colonial. Apesar de voltarem sua atenção para o século XVIII brasileiro, mostram que as origens dos problemas relacionados com os governos das comunidades autóctones arrastavam-se desde debates quinhentistas.
Resende destaca a importância de se analisar os discursos da ordenação indígena no mundo hispânico, de tradição mais longeva e inspiradora dos religiosos lusitanos. Lyrio realça a difusa legislação indigenista portuguesa, jamais unificada para o Estado do Brasil. A administração de questões como mão de obra, conflitos, catequese dos indígenas mudavam conforme a Capitania, afirma. Essa realidade levou ao provincial jesuíta (padre encarregado da administração da província), em 1745, a propor ao Rei um regimento que regulamentasse a colonização destes povos naquele Estado, que é, parcialmente, analisado pelo autor. Por sua vez, Leônia Resende mostra que apesar de aprovada a possibilidade canônica para ordenar sacerdotes indígenas, os entraves, muitas vezes pessoais, eram fortes. Aqueles que conseguiram foram ordenados apenas após a expulsão jesuíta e, ainda assim, sua atuação “se restringia à mera função de auxiliar na missionação e, por isso mesmo, não resultou propriamente na consolidação de uma carreira eclesiástica” (Resende, 2017, p.185). Ambos mostram, acima de tudo, a vulnerabilidade jurídica dos povos indígenas, muitas vezes sujeitos aos caprichos dos colonos, oriundos de todos os níveis sociais.
Um desafio da historiografia é perceber o quanto a norma aproxima-se da prática. Ediana Mendes investiga os currículos da Universidade de Coimbra e os registros de matrículas buscando entender a formação possível dos bispos que atuaram no Brasil e o quanto isso seria útil no governo diocesano. O Concílio de Trento é a ponte que aproxima este texto do artigo seguinte, de Jaime Gouveia. Ambos mostram que, a despeito da uma historiografia que contestou a aplicação das normas tridentinas no ultramar, a Coroa procurou cumpri-las tanto na formação dos bispos (Mendes, 2017, p.199) quanto na atuação de “estruturas de vigilância e disciplinamento” do clero (Gouveia, 2017, p.246). Este autor parte da premissa do luso-tropicalismo freyriano para mostrar que uma História Comparada do reino e das colônias indica uma “pandemia luxuriosa” clerical tanto em Portugal quanto no Brasil (Gouveia, 2017, p.245).
Distinto de todos os demais artigos, Miguel M. de Seixas discute “o impacto dos elementos ultramarinos na heráldica portuguesa dos séculos XVI e XVII” (Seixas, 2017, p.251). Se na Europa a Ciência Heráldica (ou Ciência do Brasão) viu-se distante das Universidades, no Brasil nota-se verdadeiro abismo. Encarada como “mera preciosidade de diletantes” e associada à nobreza, aqui e lá, essas características foram fundamentais para esse distanciamento ou, ainda, para considerá-la como uma ciência auxiliar da História (Seixas, 2011, p.27-28). O autor, no entanto, defende que o estudo dos tratados armoriais e das pedras d’armas mostram a consonância da política da coroa com suas conjunturas. Neste aspecto a primeira vez que o brasão da Cidade do Salvador aparece nos tratados portugueses reflete a importância da cidade na Restauração (1640), assim como ocorrera com Goa e Malaca no “século de ouro” da Ásia (Seixas, 2017, p.270).
Organizar uma coletânea é propor-se ao desafio da coesão. Ele pode ser alcançado de distintos modos e intensidades. Esta obra, portanto, não deixa de enfrentar seus percalços. Como ressaltei até aqui, seus textos estão afinados com uma pesquisa de relevo e um debate historiográfico atualizado, sem abandonar os clássicos. Isso por si só já seria um convite à leitura. Destacaria um aspecto a que a obra se propõe e atingiu muito bem seu objetivo: avançar no conhecimento da ação de indígenas e africanos na construção da sociedade colonial. Os artigos que tratam desses agentes históricos mostram que estes estavam bastante atentos ao que se passava na política, economia e religião, e buscaram inserir-se nas brechas que o poder dominante lhes “permitia”. Salvador e suas histórias por vezes não aparecem diretamente no texto, daí um conhecimento prévio de sua capitalidade, das instituições nela instaladas e sua jurisdição a todo o Estado do Brasil. Aos neófitos, recomenda-se atenção redobrada, um simples detalhe pode ligar Salvador aos mais vastos sertões assim como um brasão pode ligá-la diretamente ao rei.
Uma história lusoafroameríndia da Cidade da Bahia! A obra mostra uma Salvador integrada às preocupações e cultura da Era das Invasões Ultramarinas Europeias, mas não só. Amplia e reverbera a atuação dos milhares de povos da África construindo seu mundo, agindo no comércio em busca de sua liberdade. Mostra tantos outros povos ameríndios, em todo o Brasil a suscitar a Igreja Primaz da Bahia a buscar soluções para problema da colonização. E, por fim, realça a importância da Universidade para a construção de agentes políticos de qualquer sociedade.
1O livro que abre esta Coleção é: SOUZA, Evergton Sales; MARQUES, Guida; SILVA, Hugo R. (org.). Salvador da Bahia: retratos de uma cidade atlântica. Salvador/Lisboa: EDUFBA/CHAM, 2016. As seções ocorreram em Salvador (UFBA) e Lisboa (UNL/CHAM). Sobre o projeto BAHIA 16-19 «Salvador da Bahia: American, European, and African forging of a colonial capital city» (PIRSES-GA-2012-318988) ver http://www.cham.fcsh.unl.pt/ext/BAHIA/BAHIA_home.html, acesso em 19/10/2018.
2CHAM é uma unidade de investigação interuniversitária vinculada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e à Universidade dos Açores, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
3Para uma versão ampliada desse artigo cf. SILVA Jr., 2017a, p. 1-41.
4Para uma boa análise desta rede político-mercantil ver GOUVÊA; FRAZÃO; SANTOS, 2004, p. 96-137.
Referências
GOUVÊA, Maria de Fátima Silva; FRAZÃO, Gabriel Almeida; SANTOS, Marília Nogueira dos. Redes de poder e conhecimento na governação do Império Português,1688-1735. Topoi, vol. 5, n. 8, p. 96-137, 2004. [ Links ]
GOUVEIA, Jaime Ricardo. “Bahia de Todos os Santos e de quase todos os pecados”: O luso-tropicalismo e a história comparativa no espaço luso-americano (1640-1750), In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.223-250. [ Links ]
MENDES, Ediana Ferreira. A formação acadêmica dos prelados da América Portuguesa (séc. XVII e XVIII, Bahia, Olinda e Rio de Janeiro). In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.195-222. [ Links ]
PARÉS, Luis Nicolau. Entre Bahia e a Costa da Mina, libertos africanos no tráfico ilegal. In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.13-50. [ Links ]
RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Curas de almas nativas: o clero indígena na América Portuguesa (século XVIII). In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.161-194. [ Links ]
SEIXAS, Miguel Metelo de. Heráldica, representação do poder e memória da nação: o armorial autárquico de Inácio de Vilhena Barbosa. Lisboa, Universidade Lusíada Editora, 2011. [ Links ]
SEIXAS, Miguel Metelo de. A representação do ultramar nos armoriais portugueses (séculos XVI-XVIII). In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.251-284. [ Links ]
SILVA Jr., Carlos da. Interações Atlânticas entre Salvador da Bahia e Porto Novo (Costa da Mina) no século XVIII. In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.73-98. [ Links ]
SILVA Jr., Carlos da. Interações atlânticas entre Salvador e Porto Novo (Costa da Mina) no século XVIII. Revista de História, n. 176, p. 1-41, 2017a. [ Links ]
Cândido Domingues – Centro de Humanidades Universidade Nova de Lisboa Avenida de Berna, 26-C, 1069-061, Lisboa, Portugal candido_eugenio@yahoo.com.br.
History Education and (Post)Colonialism. International Case Studies – POPP et al (IJRHD)
Susanne Popp. www.researchgate.net /
 POPP, Susanne; GORBAHN, Katja; GRINDEL, Susanne (eds). History Education and (Post)Colonialism. International Case Studies. Peter Lang, 2019. Resenha de: HAUE, Harry. International Journal of Research on History Didactics, n.40, p.245-252, 2019.
POPP, Susanne; GORBAHN, Katja; GRINDEL, Susanne (eds). History Education and (Post)Colonialism. International Case Studies. Peter Lang, 2019. Resenha de: HAUE, Harry. International Journal of Research on History Didactics, n.40, p.245-252, 2019.
This anthology on colonialism discusses the reasons for its upcoming in different parts of the world as a fundamental contribution to the development of modern times, and the substantial impact the decolonization process has on the new modern era after World War II. In the introduction the editors make an overview of the content of the book, which has the following structure: Part 1: Two essays, Part 2: Three narratives, Part 3: Five debate contributions and Part 4: Three approaches.
The editors also present the fundamental problems in the study of colonialism and postcolonialism, and quote UN resolution 1514 from 1960: All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. Consequently, one of the questions raised in education is to what extent actual history teaching in schools represents and communicates the items of colonization and decolonization as well in the former colonies and in the countries of colonizers. The process of globalization has in the last decades made this question urgently relevant and moreover inspired to formulate the question of culpability.
In the wake of decolonization and globalization, especially Europe and the US have experienced a migration movement, which inspire classes to reflect on questions of inequality, and the former subordinates right to travel to high developed countries. This challenge to the national history might lead to fundamental changes in syllabus and teaching, which prompt a focus more on global history and postcolonial studies. As the editors point out: history educationalists need to take the issue of the ‘decolonization of historical thinking’ seriously as an important task facing their profession.
It is not possible in this review to refer and comment all 13 contributions in detail. However, I will present a thematic discussion of the four parts.
In part 1 Jörg Fisch, professor of History, University of Zürich, Switzerland, discusses the concepts of colonization and colonialism. He presents and reflect on the conceptual development on from the Latin idea of ‘colere and colonus’, in the late renaissance changed into ‘colonialist and colonialism’. The last concept is ‘aimed at making political, economic, cultural and other gains at the cost of his competitors and is often consolidated into colonial rule.’ Whereas the colonus occupied contiguous territory, the colonialist thanks to his technological superiority conquered land distant from the colonizer’s own country. The result was foreign rule, which required a new theoretical basis: Francisco de Vitoria postulated in 1539 that all peoples had the right to free settlement, trade and free colonization.
Another theory was that the indigenous populations had the right to be fully sovereign. Above those two theories, raw power was to decide to what extent the one or the other should be respected, if any of them. When the national state in the 19th century came into being in Europe and when ideas from the French Revolution gained impact in the Americas, independence was the answer. But this was not the end of colonialism which developed in the same period in the not yet unoccupied areas of Asia and Africa. Colonies became in the period from 1850 to 1914 part of European based empires divided between the big powers at the conference in Berlin in 1884-85. The process was called imperialism. World War I changed this development fundamentally, Germany lost all its colonies and the indigenous elite in the colonies began to question their subaltern status. After World War II the process of decolonization began, and the concept of anticolonization gained momentum in the aforementioned UN declaration form 1960. As Fisch underlines, the postcolonial world was not synonymous with a just world. In ‘Colonialism: Before and After’ Jörg Fisch has written a well-structured presentation of the main lines of this complex phenomenon and the conceptual development. His article is an appropriate opening to the following chapters in the anthology.
Jacob Emmanuel Mabe, born and raised in Cameroon, now a permanent visiting scholar at the French Center of the Free University of Berlin, has written a chapter on: ‘An African Discourse on Colonialism and Memory Work in Germany’. His aim is to demonstrate the significance of the concept of colonialism in intellectual discourse of Africans and to show how the colonial question is discussed in Germany.
It was the intellectuals among the colonial peoples who formed the critical discourse against European colonial rule in Africa, which Mabe calls a ‘ruthless territorial occupation’. The first materialization of this opposition to European rule was the formation of the ‘Pan- African Movement’ maybe inspired by the US-based initiative: ‘Back to Africa Movement’, which culminated in the founding of the Republic Liberia in 1879. On African soil, however in the interwar years a new concept was developed by especially Leopold Sédar Senghor, who was to become one of the most dominant voices among African intellectuals. He and his followers used the concept ‘Negritude’ and the aim was to create a philosophical platform for the promotion of the African consciousness by means of a literary current, a cultural theory and a political ideology. Mabe gives a short description of the reasons for the many barriers for the fulfilment of Senghor’s program.
Mabe ends his article with a discussion of the German attitudes to its colonial past. When the decolonizing process took off after World War II, the Germans were mentally occupied with the Nazi-guilt complex, which in comparison to the regret of the brutal treatment of the Africans, was much more insistent. Nonetheless, Mabe indicates that researchers of the humanistic tradition in the two latest decades have ‘presented some brilliant and value-neutral studies which do justice do (to) both European and, in part African epistemic interest. However, a true discipline of remembering which is intended to do justice to its ethics and its historical task can only be the product of egalitarian cooperation between African and European researchers.’ Florian Wagner, assistant professor in Erfurt, ends his chapter with a presentation of African writers in modern post-colonial studies. In competition with the USSR Western historians invited African writers to contribute to a comprehensive UNESCO publication on the development of colonialism. Wagner’s aim is to underline that transnational historiography of colonization is not, as often has been thought, a modern phenomenon, but has been practiced by European historians over the last century. His main point is that although nationalism and colonialism went hand in hand, transnational cooperation in the colonial discourse has been significant. It is an interesting contribution, which partly is a supplement to the chapter of Fisch according to use of concepts about the colonial development. It brings a strong argument for the existents of a theoretical cooperation between the European colonial masters, notwithstanding their competitive relations in other fields.
This statement can give the history teacher a new didactical perspective, as Wagner emphasizes in his conclusion: ‘Colonialism can provide a basis of teaching a veritable global history – a history that shows how globality can create inequality and how inequality can create globality.’ Elize van Eeden, professor at the South West University, South Africa, has written a chapter on: ‘Reviewing South Africa’s colonial historiography’. For more than 300 years South Africa has had shifting colonial positions, and consequently the black and colored people had to live as subalterns. The change of government in 1994 also gave historians in South Africa new possibilities, although the long colonial impact was difficult to overcome. For a deeper understanding of this post-colonial realities it is important to know African historiography in its African continental context. Elize van Eeden’s research shows that the teaching in the different stages of colonialism plays a minor role in university teaching. Therefore, new research is needed, exploiting the oral traditions of the subaltern people, and relating the local and regional development to the global trends. As van Eeden points out: ‘A critical, inclusive, comprehensive and diverse view of the historiography on Africa by an African is yet to be produced.’ Van Eeden’s contribution gives participant observers insight into especially South Africa’s historiography and university teaching and provide a solid argument for the credibility of the former quotation.
In the third chapter on narratives, written by three Chinese historians: Shen Chencheng, Zhongjie Meng and Yuan Xiaoqing: ‘Is Synchronicity Possible? Narratives on a Global Event between the Perspectives of Colonist and Colony: The Example of the Boxer Movement (1898-1900)’, the aim is to discuss the didactical option partly by including multi-perspectivity in teaching colonialism and multiple perspectives held by former colonies and colonizers, instead of one-sided national narratives, partly teaching changing perspectives, instead of holding a stationary standpoint. Another aim is to observe ‘synchronicity of the non-synchronous’ inspired by the thinking of the German philosopher Reinhard Koselleck. The chapter starts with a short description of the Boxer War, which forms the basis for an analysis of the presentation of the war in textbooks produced in China and Germany, i.e. colony and colonizer. Then the authors provide an example to improve synchronicity in teaching colonialism, followed by didactic proposals.
The Boxer War ended when a coalition of European countries conquered the Chinese rebellions and all parties signed a treaty. Germany in particular demanded conditions which humiliated the Chinese. This treaty is of course important, however at the same time, one of the Boxer-rebels formulated an unofficial suggestion for another treaty, which had the same form and structure as the real treaty, however, the conditions war turned 180 degrees around, for example, it forbade all foreign trade in China. The two treaties were in intertextual correspondence and expressed the demands of the colonizer and the colonized. The question is whether the xenophobic Boxers in fact were influenced by western and modern factors or whether the imperialistic colonizers were affected by local impacts of China? The ‘false’ treaty was used as a document in the history examination in Shanghai in 2010, with the intention of giving the students an opportunity to think in a multi-perspective way, and to link the local Chinese development to a global connection. Nonetheless, the didactical approaches in history teaching in schools are far behind the academic state of the art. It is an interesting contribution to colonialism, but it is remarkable that the authors do not use the concept of historical thinking.
In the third part of the anthology, there are five contributions. Raid Nasser, professor of Sociology, Fairleigh Dickinson University, discusses the formation of national identity in general and its relations to cosmopolitanism. The idea of a global citizenship conflicts with nationalism and the differentiations according to social, economic and ethnic divisions, and Kant is challenged by Fanon.
Nasser’s own research concerns the history textbooks in the three counties where the state has a decisive say in determining the content of those books and therefore it might have a decisive influence on the identity formation of the pupils, in this case from the year four to twelve. How much room is there for cosmopolitanism? This is a question which Nasser has thoroughly addressed in this chapter.
Kang Sun Joo, professor of Education, Gyeongin National University South Korea, discusses the problems with the focus on nation-building in the history teaching in former colonies and the need for new ‘conceptual frames as cultural mixing, selective adoption and appropriation.’ She gives an interesting view on the conformity of western impact on Korean history education.
Markus Furrer, professor of History and History Didactics, teacher training college Luzern, examines post-colonial impact on history teaching in Switzerland after World War II. He has the opinion that we all live in a post-colonial world, including countries with no or only a minor role in colonial development. He emphasizes that there are ‘two central functions of post-colonial theory with relevance to teaching: (1) Post-colonial approaches are raising awareness of the ongoing impact and powerful influence of colonial interpretive patterns in everyday life as well as in systems of knowledge. (2) In addition, they enable us to perceive more clearly the impact of neo-colonial economic and power structures.’ He analyzes six Swiss textbooks and concludes that there is a need in this regard for teaching materials which enable students to understand and interpret the construction and formation process which eventually end with ‘Europe and its others’.
Marianne Nagy, associate professor of History, Karoli Gáspar University, Budapest, has made an examination of history textbooks used in Hungary in 1948-1991 on the period between 1750 and 1914 when Hungary was under Austrian rule. This is an examination of Hungary’ s colonial status seen from a USSR- and communistinfluenced point of view. In the communist period only one textbook was accepted, and in this book, Austria was perceived as a kind of colonial power which controlled Hungary for its own benefit. The communist party had the intention to present Habsburg rule in a negative light, with the wish to describe Hungary’s relation to USSR as a positive contrast. Today the Orbán-led country uses the term colony in relation to the EU.
Terry Haydn, professor of Education, University of East Anglia, has made an explorative examination of how ‘empire’ is taught in English schools. His findings are somewhat surprising. In the history classes of the former leading colonizing country, most schools taught ‘empire’ as a topic, however with emphasis on the formative process of colonization and not ‘the decline and fall’. Haydn has with this short study focused on an item which should be the target of more comprehensive research.
The last three chapters concern the teaching of colonialism in a post-colonial western world. Philipp Bernard, research assistant at Augsburg University in Germany, discusses the perspectives in teaching post- against colonial theory and history from below. His basic assumption is that: ‘No region on the earth can evade the consequences of colonialism’, therefore, ‘A post-colonial approach emphasizes the reciprocal creation of the colonized and the colonizers through processes of hybridization and transculturation.’ The aim of teaching, in this case in the Bavarian school, is to achieve decolonization of knowledge. The author gives interesting reflections from his teaching which could be of inspiration in the schools both of colonized and colonizing countries.
Dennis Röder, teacher of History and English in Germany, writes about ‘visual history’ in relation to the visual representation of Africa and Africans during the age of imperialism. The invention of the KODAK camera in 1888 brought good and cheap pictures, which could be printed and studied world-wide. Soon those pictures could be used in education, and thereby history teaching got a new dimension, and a basis for critique of the white man’s brutal treatment of the natives. These photos were used in the protests against Belgian policy in Congo. Röder emphasises that the precondition for the use of photos as teaching material is the need for some methodological insight both on behalf of the pupils and students. Moreover, it is important to select a diverse collection of photos so that all sides of life in the colonies are represented. Then it would be possible to make a ‘step toward the visual emancipation and decolonization of Africans in German textbooks.’
Karl P. Benziger, professor of History, State University of New York, College at Fredonia, in the last chapter of the anthology has reflected on the interplay between the war in Vietnam as a neocolonial enterprise and the fight for civil rights in the US. Benziger discusses different approaches to teaching those items in high schoolclassrooms. An interesting course was staged as a role play on the theme: The American war in Vietnam. The purpose of the exercise was ‘to develop students’ historical skills through formulating interpretations and analyses based on multiple perspectives and competing narratives in order to understand the intersection between United States foreign and domestic policy from a global perspective.’
The editorial team should be acknowledged for its initiative. The anthology could be perceived as a didactical patchwork which gives inspiration to new research in the subject matter as well as innovations in history didactics. The current migration moveme would prompt to include colonialism and post-colonialism in history teaching and moreover these aspects are part of any pupil’s/student’s everyday life.
Harry Haue
[IF]
As Américas na primeira modernidade – CAÑIZARES-ESGUERRA (H-Unesp)
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira; MARTINS, Maria Cristina Bohn. (Orgs.), As Américas na primeira modernidade. Curitiba: Prismas, 2017. 1, 359p. Resenha de: SÁ, Charles Nascimento. Novo Mundo e Modernidade: debates e estudos sobre a colonização das Américas na Idade Moderna. História v.38 Assis/Franca 2019.
Uma das qualidades que se busca na produção acadêmica é a capacidade de cativar e prender a atenção de seu leitor. Ao longo de séculos, escritores e suas obras têm tido sucesso ou insucesso nesse sentido: conseguir produzir um texto que seja interessante, que produza reflexões no ledor e que estimule a busca por mais conhecimento, seja para seu interesse pessoal ou para sua área profissional, é prova inequívoca de que o trabalho atingiu seu objetivo.
Em um romance publicado pela Editora Record, intitulado A livraria mágica de Paris, de autoria da francesa Nina George, a autora, por meio de seu personagem Jean Perdu, define a função da livraria similar à de uma farmácia literária. Perdu nega-se a vender um livro quando percebe que não é aquele que a pessoa necessita. Por meio dos livros, o indivíduo, com seus problemas, dores, tristezas e incertezas, pode aí encontrar sua cura, ou, pelo menos, um paliativo (GEORGE, 2016).
Inicio esse texto abordando uma obra literária porque entendo que, no que concerne à escrita e seu reflexo na formação e melhoramento do conhecimento humano, todo tipo de saber deve ser aproveitado. Seja para momentos de deleite – de puro prazer literário, seja para crescimento profissional e acadêmico, todo livro deve trazer em seu bojo as benesses que uma boa escrita traz para a mente e o coração.
Se na obra literária a narrativa deve sempre buscar a atenção do leitor, prendendo-o com recursos estilísticos diversos – suspense, drama, assassinatos, crises, traições, reviravoltas, etc. -, no livro acadêmico nem sempre isso é possível, ou tem o autor a verve necessária para produzir tal feito. Algumas obras historiográficas conseguiram esse feito: Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, Caminhos e Fronteiras, de Sérgio Buarque de Holanda, Apologia da História, de Marc Bloch, Segredos Internos, de Stuart Schwartz, Um Contraponto Baiano de Bert Barickman são alguns dos autores que produziram obras acadêmicas relevantes e paradigmáticas que também possuem estilo literário que cativa e prende a atenção de seus leitores.
As obras acima referidas possuem outra característica em comum: são frutos de um único autor. Nesse sentido, possuem uma coerência narrativa e vigor estilístico que surge da força criativa, da concepção teórica e da escrita de seu autor, ou mesmo de um dom que este possua.
Essa capacidade da escrita de ser leve e profunda, de fácil percepção para quem lê, nem sempre é conseguida em livros com vários autores. Obras coletivas, mesmo as literárias, perdem muito pela forma e característica com que cada escritor percebe sua produção e a transmite por meio de sua grafia. Esse desequilíbrio é sempre um fator a desmerecer o quantum de uma obra com vários autores.
Passados por esta breve introdução, adentremos no que de fato concerne este texto, isto é, a análise do livro: As Américas na primeira modernidade (1492-1750). Organizado por Jorge Cañizares-Esguerra, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes e Maria Cristina Bohn Martins, publicado pela Editora Prismas, conta com textos de diversos autores em colaboração com os três já citados, ou em outras parcerias. Os autores são docentes e pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Europa. Instituições como Unicamp, UNISINOS, Universidade da Califórnia, Universidade do Texas, Universidade da Integração Latino-Americana e Universidade de Barcelona estão aí representadas. Todos esses centros estudam e pesquisam o passado do continente americano, e seus professores, presentes no livro, demonstram por meio dos capítulos o estágio atual da pesquisa sobre a história da América colonial.
Na introdução da obra, os organizadores fazem uma análise historiográfica da produção sobre a América na Idade Moderna. O processo de colonização, os entendimentos sobre a conquista, as ideias e conceitos que foram utilizados ao longo do tempo para compreensão desse fenômeno são aí abordados. Ao mesmo tempo, indicam os novos olhares e caminhos que têm sido discutidos pelos estudiosos para o entendimento da colonização do continente entre os séculos XV até o XVIII.
Alexandre C. Varella abre o primeiro capítulo, intitulado: Os índios: povos ancestrais, sujeitos modernos. Estes são tratados não apenas dentro de sua ancestralidade, mas também naquilo que carregavam e carregam de moderno. Os povos indígenas que habitavam o continente não são encarados como vítimas circunstanciais da dominação europeia na América, mas se apresentam como indivíduos ou coletivos que produzem com suas ações e ideias sua própria história. Em seu texto, a dicotomia usual entre opressores e oprimidos cede lugar a “caleidoscópio de posições e situações instáveis, contextuais, plurais”. No seu texto fica claro que “existem mais paradoxos que soluções para a análise dos indígenas no início da modernidade” (p. 48).
O segundo capítulo traz em seu bojo o processo de conquista da América, intitulando-se A conquista da América como uma história emaranhada: o intercâmbio de significados de uma palavra controversa. O primeiro item a destacar aqui diz respeito ao fato que esta ação deve ser compreendida não apenas como um processo unilateral, que parte de ibéricos sobre americanos. Segundo o texto de Luiz Estevam de Oliveira Fernandes e Eliane Cristina Deckman Fleck, um dos elementos a obnubilar o entendimento do conflito que terminou por colocar o continente americano sobre a égide espanhola foi o de entendê-lo a partir de uma visão unilateral.
Para os autores do segundo capítulo, a gênese e o desenvolvimento de todo esse épico conflito devem ser compreendidos a partir das junções de acordos e da geopolítica que envolvia os povos e nações existentes no mundo mexicano e peruano, para ficar aqui nas regiões mais famosas. Para os ameríndios que participaram do processo que resultou na queda de Tenochititlán e Cuzco, os espanhóis não foram os senhores que comandaram o processo, mas parceiros em toda a guerra que resultou na queda dos adversários históricos dos grupos oprimidos por astecas e incas. Além disso, o texto possui uma fluidez e uma escrita muito cativante. Nesse texto, o leitor torna-se partícipe de todo o conflito, a narrativa possui aquela característica tão carente em obras de história feita por historiadores: lucidez e simplicidade, atrelados a excelente pesquisa de fontes e bom diálogo com outros autores.
O terceiro capítulo, de autoria de Maria Cristina Bohn Martins e Leandro Karnal apresenta a questão da fé, atrelado a dois outros efes: fama e fortuna, seu título, por isso mesmo chama-se Fama, fé e fortuna: o tripé da conquista. Nesse texto, os autores desenvolvem uma interessante discussão sobre o impacto que a chegada dos europeus e a conquista dos impérios asteca e inca tiveram no desenvolvimento do imaginário europeu no início da modernidade e a importância disso para que outros indivíduos sonhassem em conquistar os mesmos louros que Cortez e Pizarro. Questões envolvendo fé, fama e fortuna foram paralelas e congênitas no empreendimento que resultou na conquista do Novo Mundo. Para os autores, porém, é importante não esquecer que o elemento que dominou toda a ação dos ibéricos foi sempre a fé católica e sua propagação para outros povos, afinal, “a compreensão das ações espanholas não pode prescindir da sua dimensão religiosa e espiritual” (p. 176). Nesse sentido, assemelha-se ao que Charles Boxer, em sua clássica obra O império marítimo português – 1415-1825, já assinalava quando de sua publicação em 1969. Para o historiador britânico, das quatros questões que nortearam a expansão lusitana – a saber, a guerra contra infiéis, a busca de ouro, a busca do reino de Preste João e a expansão da fé católica, foi sempre esta última a que de fato serviu como elemento justificador e impulsionador das navegações portuguesas em mares nunca dantes navegados (BOXER, 2002).
No quarto capítulo, que tem como título O lapso do rei Henrique VIII: inveja imperial e a formação da América Britânica, Jorge Cañizares-Esguerra e Bradley J. Dixon analisam o impacto da conquista e a formação do império ibérico no mundo anglo-saxão. Com suas minas e riquezas advindas do Novo Mundo, a Espanha se consolidou como a maior potência na Europa do início da modernidade. Isso, mais a rivalidade com a consolidação da Reforma na Inglaterra, levou os ingleses a buscarem imitar seus rivais castelhanos na construção de colônias na América. Ao longo dos séculos XVI e XVII encontrava-se na península ibérica a inspiração que os ingleses buscavam para a construção de seu próprio império. Foi somente no século XVIII, com a disseminação da “Legenda Negra” e a percepção de que o modelo ibérico não seria viável para os objetivos anglicanos, que a Grã-Bretanha encetou novo processo de povoamento e conquista na América desvinculado do modelo ibérico. Isso, porém não simbolizou o abandono do modelo espanhol. Durante todo o período de construção de suas colônias a Inglaterra teria no seu adversário o exemplo a seguir ou criticar.
Não foi só de pessoas que se constituiu a formação do mundo colonial americano. Benjamin Breen, no quinto capítulo do livro, analisa o Meio ambiente e trocas atlânticas. A migração de povos do Velho para o Novo Mundo se deu por volta de 60.000 anos atrás, segundo as pesquisas desenvolvidas por vários arqueólogos na América. Houve contatos com vikings durante o ano 1.000, mas as colônias por eles fundadas desapareceram sem deixar traços mais profundos. Assim, ao longo de vários séculos, povos, animais e plantas, além dos micro-organismos, estiveram longe do contato com outras espécies. A vinda dos europeus trouxe consigo não apenas as transformações no estilo de vida desses povos, mas representou também o intercâmbio entre diferentes indivíduos e seres vivos. Dessa forma,
[…] a história ambiental do mundo atlântico também ajuda a compreender duas das mais colossais catástrofes da história humana recente. A primeira é a impenetrável tragédia ocasionada pelas mortes de dezenas de milhões de nativos americanos devido a doenças infecciosas como a gripe, o sarampo e a varíola, contra as quais os indígenas não possuíam resistência. A segunda é a contínua diminuição da biodiversidade global, a qual muitos ecologistas identificam agora como a maior extinção em massa desde o desaparecimento dos dinossauros há 65 milhões de anos (p. 247).As trocas envolvendo os dois lados do Atlântico e a inclusão do Índico e suas variedades de fauna e flora estão diretamente vinculadas à constituição do mundo contemporâneo e suas variedades de flores, frutos e fauna tal qual conhecemos hoje; seu custo para povos e seres que habitavam a América foi altíssimo.
O sexto capítulo da obra, Saberes e livros no mundo atlântico: o intercâmbio cultural na carreira das Índias, aborda as trocas de livros e saberes no mundo atlântico moderno. De autoria de Carlos Alberto González Sánches e Pedro Rueda Ramírez, faz uso de documentos e produções do período para discutir como o saber e sua disseminação por meio de obras muitas vezes não permitidas se fizeram presentes no universo colonial ibérico. A perseguição da Coroa e da Igreja a obras consideradas impróprias e a manutenção por parte do Estado espanhol do sigilo em torno de mapas e descrições do Novo Mundo, com o objetivo de proteger suas minas e riquezas de seus adversários, foram elementos a direcionar a atuação do governo e sua censura sobre livros e saberes.
No último capítulo da obra, Entre textos, contextos e epistemologias: apontamentos sobre a “Polêmica do Novo Mundo”, Beatriz Helena Domingues e Breno Machado dos Santos discutem os textos e obras que, no século XVIII, polemizaram a respeito do Novo Mundo e seus habitantes. De modo particular são aqui estudadas as obras de Buffon e De Paw, na discussão que o italiano Antonello Gerbi denominou como disputa ou controvérsia do Novo Mundo em seu clássico livro O Novo Mundo: história de uma polêmica.
Nesse texto que encerra o livro, as discussões sobre as características inferiores que a América apresentaria quando comparada com o Velho Mundo, tese defendida por Buffon e ampliada por De Paw, são contextualizadas e inseridas dentro de todo o debate que os estudos desses dois intelectuais produziram no período das Luzes. De modo particular, tem-se aqui a ação dos padres jesuítas da América espanhola e portuguesa, bem como dos representantes dos recém-emancipados Estados Unidos, em sua defesa pela semelhança entre os continentes da América e Europa.
A atuação de personagens da América espanhola e dos norte-americanos foi mais destacada que a dos residentes na América portuguesa. Tal fato é explicado por terem sido os padres jesuítas lusitanos encarcerados em Portugal na ocasião da expulsão dos membros da Ordem pelo Marquês de Pombal. Já os espanhóis puderam ir para o exílio em Bolonha, nos Estados Pontifícios. Como apontam os autores: “ainda que a situação do exílio seja sempre terrível, há uma enorme diferença entre Bolonha e as masmorras portuguesas” (p. 336).
Retomam-se aqui, para concluir a presente resenha, os tópicos indicados no início desse texto. Quando escreveu seu emblemático livro Apologia da História, ou o ofício do historiador, o historiador francês Marc Bloch disse: “decerto, mesmo que a história fosse julgada incapaz de outros serviços, restaria dizer, a seu favor, que ela entretém” (BLOCH, 2001, p. 43). Em outras palavras, quis esse estudioso indicar que compete ao texto histórico fazer com que seu leitor se entusiasme pelo que lê. Partindo desse ponto, os artigos encontrados no livro As Américas na primeira modernidade, 1492-1750 cumprem a contento tal expectativa. Torna-se prazerosa e instrutiva sua leitura, pois o leitor fica preso ao texto. Ao mesmo tempo, a precisão acadêmica, o confronto entre diferentes fontes, o diálogo envolvendo a bibliografia mais atual e a já consagrada encontram-se aí presentes. Sendo uma obra coletiva, o vigor acadêmico em nenhum momento se perde no conjunto da obra.
Outra perspectiva que a obra possui tem correlação com aquilo que o historiador Luiz Felipe de Alencastro defende em sua obra O Trato dos Viventes (2000) Nela, Alencastro aponta que, para entender o Brasil dos séculos XVI ao XVII, é preciso ir para fora dele, isto é, só se pode compreender a gênese da formação da América portuguesa olhando para o Atlântico. Nesse oceano e em suas conexões, no caso de Alencastro, de modo particular, a África, pode-se esclarecer e entender todo o processo formativo da sociedade e economia brasileira nesses dois séculos. O livro organizado por Jorge Cañizares-Esguerra, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes e Maria Cristina Bohn Martins cumpre bem esse papel ao dar o destaque necessário às correlações envolvendo povos e territórios do além-mar e suas conexões não apenas com a Europa e África, mas também com a Ásia.
Tanto o indicativo de Bloch quanto o de Alencastro são seguidos no livro. Outro item que vem tendo destaque nas pesquisas envolvendo o mundo colonial da era moderna é abordado no volume que analisamos. Trabalhos oriundos dos Estados Unidos e Europa, bem como outros feitos na África, Ásia e América Latina, têm chamado a atenção para a necessidade de se pesquisar o passado colonial focando em questões e conceitos muitas vezes relegados pela historiografia. As noções de rede, nobreza, império ultramarino, monarquia pluricontinental, monarquia compósita, Antigo Regime, absolutismo, conquista, colonização, hibridismo cultural, miscigenação, direito, dentre outras temáticas foram incorporadas ou rediscutidas para compreensão do passado colonial da América e suas conexões com outros povos.
Nesse sentido, As Américas na Primeira Modernidade tem o mérito de abordar em seus capítulos essa discussão já tão presente no mundo europeu, na América do Norte, em partes da África e do continente asiático. A literatura por eles utilizada assenta-se em nomes como Serge Gruzinski, Sanjay Subrahmanyam, Stuart Schwartz, Jack Greene, Anthony Pagden, Vitorino Godinho, Charles Boxer, Antonello Gerbi, além dos próprios organizadores da coleção e seus autores. Nesse sentido, o diálogo aí presente é fecundo e levanta diversas indagações.
Nós, latino-americanos, fomos marcados pela intolerância, perseguição, guerras, mortes, doenças e pela conquista, mas também nos caracterizamos por dotar o planeta de sua concepção de modernidade. Foi somente pela chegada dos europeus ao Novo Mundo que o planeta iniciou o processo de constituição da economia mundo, afinal “o impacto das explorações oceânicas europeias estava sendo sentido fora da Europa, em uma terra que não possuía atividades transatlânticas […]” (WOOLF, 2014, p. 257).
Ao mesmo tempo, ao saber que outros povos e outras concepções de mundo existiam além do universo do Velho Mundo, religiosos e estudiosos depararam-se com temas que os levaram a redefinir suas concepções sobre o planeta, bem como sobre suas crenças. Como indica Serge Gruzinski, as certezas do conhecimento clássico foram postas em cheque e um novo saber pôde ser realizado.
A obra, porém, possui um revés. Mesmo se tratando das “Américas”, o livro ainda permanece com a divisão que exclui do universo colonial do Novo Mundo a América portuguesa. A região dominada pelos lusitanos somente é abordada no último texto e em vagos momentos está presente em outros poucos capítulos. Argentina, Paraguai e Uruguai são também pouco abordados. Nesse sentido, é necessário que se possa de fato interconectar os diversos povos e histórias da América em seu contexto colonial. Cada vez é maior o número de pesquisas no Brasil, e fora dele, que apontam para as redes abarcando os mercados e povos do mundo luso tropical com áreas da América sob domínio de Madri ou Londres. Envolver esses povos e territórios em uma única rede, ou em várias conexões, tende a tornar a história do continente em algo verdadeiramente americano.
O ponto acima não desmerece o livro analisado aqui. Pelo contrário, serve de indicação para outras obras futuras. Estas, por sua vez, tendem a ser beneficiadas pelo roteiro bibliográfico que todos os capítulos, bem com a Introdução do livro, trazem. Neles é possível entrar em contato com a historiografia sobre o continente e suas diversas concepções. O livro As Américas na primeira modernidade torna-se, assim, valioso contributo para todos aqueles que pesquisam, estudam ou querem entender o passado colonial de Novo Mundo, sejam alunos ou professores.
Primeiro volume de uma coleção que deverá ter mais dois livros, essa obra inaugural nos leva à expectativa quanto ao teor e profundidade dos demais, ao mesmo tempo em que embala novos debates e saberes sobre o mundo colonial da América. Boa leitura.
Referências
ALENCASTRO, Luiz Filipe de. O Trato dos Viventes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. [ Links ]
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001. [ Links ]
BOXER, Charles R. O império marítimo português. São Paulo: Companhia das Letras , 2002. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira; MARTINS, Maria Cristina Bohn. (Orgs.) As Américas na primeira modernidade. Curitiba: Prismas, 2017. v. 1. 359 p. [ Links ]
FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Na trama das redes: política e negócios no império português. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. [ Links ]
GEORGE, Nina. A livraria mágica de Paris. Rio de Janeiro: Record, 2016. [ Links ]
WOOLF, Daniel. Uma história global da história. Petrópolis: Vozes, 2014. [ Links ]
Charles Nascimento de Sá – Historiador, Mestre em Cultura e Turismo, Doutorando em História e Sociedade na UNESP/Assis. Professor da Universidade do Estado da Bahia -UNEB, campus XVIII, Av. David Jonas Fadini, 300, Eunápolis 45823-035, Bahia, Brasil. E-mail: charles.sa75@gmail.com.
A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito / Marco Morel
Fruto de mais de quinze anos de pesquisa, o novo livro de Marco Morel busca tratar das repercussões da Revolução do Haiti no Império do Brasil. Com as lentes voltadas aos setores livres, e não aos escravizados da sociedade brasileira, Morel demonstra aos leitores que em pleno Brasil escravista também floresceram visões positivas ou, ao menos, não completamente negativas acerca dos eventos ocorridos na antiga colônia francesa. Para tanto, o historiador postula a existência de um “modelo de repercussões não hostis”, composto de quatro elementos: “soberania nacional”, “soberania popular”, “antirracismo” e “crítica à escravidão”.
O estudo cobre o intervalo de 1791 a 1840, dividido em dois momentos. O primeiro inicia-se em 1791, isto é, com o começo da revolução escrava em Saint-Domingue, e finaliza-se em 1825, ano considerado por Morel como o marco final do processo revolucionário, pois foi quando a França reconheceu a independência do Haiti. Já o segundo percorre o intervalo c.1800-c.1840 e refere-se especificamente à formação e consolidação do Estado nacional brasileiro. No que diz respeito às fontes, o autor valeu-se de uma gama variada: documentação oficial, folhetos, periódicos e livros brasileiros, franceses e haitianos escritos e publicados coetaneamente ao período analisado.
O livro é dividido em três partes bem delimitadas. Na primeira, o historiador traça um balanço dos eventos que tomaram a ilha de São Domingos em 1791, destaca os principais personagens e suas ações, mas igualmente os conflitos internos entre os revolucionários, oferecendo ainda um levantamento resumido das cinco primeiras constituições haitianas (elaboradas entre 1801 e 1816) que, apesar de suas diferenças, tinham em comum o “repúdio à escravidão […] a defesa da propriedade e da agricultura”. O enorme esforço de síntese dessa parte originou-se da preocupação específica em situar o leitor não especializado no tema, fornecendo-lhe as balizas referenciais para a compreensão do restante do livro, onde, efetivamente, cumpre-se o objetivo anunciado da obra.
Na segunda parte, “Entre batinas e revoluções”, Marco Morel apresenta então as reflexões de Raynal, Grégoire e De Pradt, três abades franceses, que viveram a Revolução em seu país e acompanharam cuidadosamente os eventos em São Domingos. Antes mesmo da insurreição dos escravos, Raynal sugeriu que um Spartacus negro poderia levantar-se na massa dos escravizados (Toussaint L’Ouverture, um dos líderes icônicos da Revolução do Haiti, chegou a declarar que era essa personagem). Gregóire, o mais radical entre eles, figura atuante na Revolução Francesa, apoiou abertamente o movimento dos cativos e reconheceu publicamente a independência do Haiti antes mesmo do Estado francês. Para o último, se a escravidão fosse a termo, o processo não deveria ser controlado pelos escravos. As ações que culminaram na criação do Haiti foram vistas por De Pradt como um “não-exemplo”. Não à toa ele foi o mais conhecido entre os historiadores do Brasil oitocentista. Embora houvesse diferenças marcantes entre eles, o que os ligava era tanto a percepção de que a escravidão “caminhava inexoravelmente para a extinção” quanto o fato de participarem “da fundação de linhas interpretativas” sobre a Revolução do Haiti. Suas formulações chegaram aos mais diversos quadrantes, pois “havia um campo político e intelectual com áreas de interseção de ambos os lados do Atlântico”, que contribuiu para que alguns clérigos brasileiros concebessem interpretações sobre os eventos haitianos.
O relacionamento das “experiências históricas tão disparares como a unitária monarquia escravista brasileira e a república construída por ex-escravos” efetiva-se no campo da história das ideias. Ao analisar as manifestações de cinco clérigos brasileiros, elaboradas nas três primeiras décadas dos oitocentos, Morel constatou notável semelhança entre elas e os trabalhos de Grégoire, isto é, havia a condenação da escravidão e o apoio à revolução escrava em curso, na medida em que ela destruía a dominação senhorial. Os religiosos também se posicionavam contra as diferenciações raciais que a instituição originava; no entanto, não se perfilhavam ao abolicionismo ou muito menos à violência da prática revolucionária cativa tal como ocorreu em Saint-Domingue. No “modelo de repercussões”, claro está, esse grupo manifestou a crítica da escravidão e o sentimento antirracista. Entre os casos, vale citar o do monsenhor Miranda, sem dúvida, o mais emblemático. O clérigo manteve correspondências tanto com De Pradt como com Grégoire. Em 1816, Grégoire chegou a enviar a Miranda, por intermédio de Joachim Le Breton, chefe da Missão Artística Francesa, livros de sua autoria que continham claro apoio à Revolução Haitiana e recebeu na França publicações do monsenhor Miranda. Essa troca de cartas, nas palavras de Morel, demonstrava que “os caminhos da Revolução do Haiti no Brasil poderiam ser intermediados, sinuosos e surpreendentes”.
É na terceira parte do livro que o historiador apresenta as demais faces do “modelo de repercussões” dos eventos de Saint-Domingue em terras brasileiras. A Revolução do Haiti, ao conquistar a segunda independência do jugo colonial na América, foi valorizada enquanto exemplo de soberania nacional. Por esta razão, chegou a aparecer como recurso discursivo nas falas dos deputados brasileiros tanto nas Cortes de Lisboa (1821-1822) quanto nas primeiras legislaturas nacionais. Na mesma senda, a experiência da independência haitiana foi louvada nas páginas do Correio Braziliense, da Gazeta do Rio de Janeiro e do Reverbero Constitucional Fluminense, periódicos de orientações políticas diversas. Se a independência era elogiada, consoante ao momento político de separação com Portugal que o Brasil vivia, a abolição da escravidão não recebia a mesma apreciação dos contemporâneos e, na maior parte das vezes, sequer era discutida.
Esse ímpeto coube a uma figura pouco conhecida na historiografia: Emiliano Mundurucu, pardo, republicano, antiescravista e comandante do Batalhão dos Pardos. A ele é atribuída a autoria das quadras cantadas nas ruas de Recife, em 22 de junho de 1824, que evocavam a figura de um heroico Henri Christophe e conclamava a população na defesa da Confederação do Equador e na luta contra o branco opressor. A tentativa de levante, que previa a participação dos setores subalternos não-escravizados, malogrou, mas representou, segundo Morel, uma genuína repercussão do caráter da soberania popular presente entre os rebeldes de São Domingos.
Assim concebido e estruturado, é possível afirmar que o livro foge às linhas gerais da historiografia sobre o tema, que, ao tratar das repercussões do fim da escravidão e da formação do Haiti independente no Império do Brasil, sempre salientou o receio contemporâneo a respeito do haitianismo, isto é, de que uma ação escrava tão intensa quanto aquela ocorrida no Caribe francês se reproduzisse nos trópicos. [2] O trabalho de Marco Morel, portanto, inova e avança consideravelmente na compreensão do objeto, demonstrando a sua complexidade. Assim, “o que não deve ser dito”, subtítulo do livro, é aquilo que foi historicamente silenciado na sociedade brasileira. [3]
No entanto, nesse caso em específico, para que se possa adequadamente compreender o não dito é necessário atentar ao seu inter-relacionamento com as forças políticas, sociais e econômicas que construíram o Estado imperial brasileiro. O enorme esforço em lançar luz sobre as percepções positivas acerca dos eventos haitianos fez com que o autor deixasse na obscuridade as condições materiais mais amplas nas quais essas percepções erigiram-se. O Estado brasileiro formou-se na primeira metade do século XIX em inter-relação estreita com os interesses agrário-escravistas que, notadamente no Centro-Sul do Império, a partir dos complexos cafeicultores com ampla utilização do braço escravo, agigantaram-se em importância justamente devido ao vácuo produtivo aberto no mercado mundial de café na esteira da ação dos escravos de Saint-Domingue. [4] A par dessas condições materiais que ligaram Brasil e Haiti no alvorecer do século XIX, é possível compreender os motivos pelos quais as visões positivas sobre a Revolução Haitiana, mesmo aquelas que evocavam a soberania nacional, terem sido elididas na história e, posteriormente, na historiografia: assimilá-las organicamente poderia implicar na contestação sistêmica ou mesmo na erosão da ordem escravista que começava a se fundar em bases nacionais.
Notas
- Veja-se, dentre outros: REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003; SOARES, Carlos Eugênio; GOMES, Flávio. Sedições, haitianismo e conexões no Brasil e escravista: outras margens do Atlântico negro. Novos Estudos, n. 63, p.131-144, 2002; MOTA, Carlos Guilherme. Nordeste 1817: estruturas e argumentos. São Paulo: Perspectiva, 1972. O haitianismo também foi utilizado como recurso retórico nos debates travados na imprensa brasileira entre os grupos políticos adversários nos anos da Regência. Cf. EL YOUSSEF, Alain. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeios, 2016, p.144-150 e p.173-177.
- Nesse sentido, valem as reflexões de Michel-Rolph Trouillot, uma inspiração imediata para o livro de Morel: An Unthinkable History: The Haitian Revolution as a Non-event. In: TROUILLOT, Michel-Rolph. Silencing the Past: power and the production of history. Boston: Beacon Press, 1995. p.70-107.
- Sobre a mútua formação do Estado nacional brasileiro e da classe senhorial escravista: MATOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema: formação do Estado Imperial. São Paulo: Hucitec, 1987. Sobre as possibilidades abertas no mercado mundial do café em virtude da revolução dos escravos: MARQUESE, Rafael; TOMICH, Dale. O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do café no século XIX. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial, v. 2: 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p.339-383. Nos anos subsequentes (1823-1839) o volume da produção cafeeira do Brasil era tamanho que foi capaz de criar uma baixa internacional nos preços da rubiácea, popularizando em demasia seu consumo, sobretudo no mercado norte-americano, de longe, o principal comprador do café brasileiro. Cf. PARRON, Tâmis Peixoto. A política da escravidão na era da liberdade: Estados Unidos, Brasil e Cuba, 1781-1846. 2015. Tese (Doutorado em História Social)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 323-327.
Bruno da Fonseca Miranda – Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, SP, Brasil. bruno.fonseca.miranda@gmail.com.
MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.Resenha de: MIRANDA, Bruno da Fonseca. Os ecos elididos da Revolução do Haiti no Brasil. Outros Tempos, São Luís, v.16, n.27, p.358-361, 2019. Acessar publicação original. [IF].
Um reino e suas repúblicas no Atlântico. Comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVI e XVII – FRAGOSO; MONTEIRO (LH)
FRAGOSO, João; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (Org). Um reino e suas repúblicas no Atlântico. Comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVI e XVII. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2017, 476 pp. Resenha de: SUBTIL, José. Ler História, v.75, p. 279-283, 2019.
1 O tema da comunicação política, entre o reino e o Brasil, no interior do próprio reino e no Brasil, durante o Antigo Regime, tratado de forma quantitativa, é um projeto valioso pelas consequências que poderá ter na avaliação dos sistemas de decisão, taxonomia das tipologias peticionárias e processuais, assuntos de governo, atores políticos envolvidos e qualidade dos circuitos e das tramitações documentais. Sendo assim, os resultados dos programas de investigação que estão na origem do livro aqui recenseado ganhariam tanta mais relevância quanto maior fosse a evidência dos mesmos, a organização coerente dos temas, o desenvolvimento dos seus conteúdos e a metodologia de análise. Como veremos mais adiante, o critério seguido na sucessão dos capítulos e nas temáticas abordadas não acompanhou esta opção metodológica.
2 Na apresentação do livro, organizado por João Fragoso e Nuno Monteiro, somos levados a crer que o mesmo assenta no projeto financiado pela FCT “Comunicação Política na Monarquia Pluricontinental Portuguesa (1580-1808) : Reino, Atlântico e Brasil” (Projeto 1, P1), submetido em 2008. No entanto, aparece também a referência a um outro, do mesmo ano, de João Fragoso, Isabel dos Guimarães Sá e Nuno Monteiro, “A Monarquia e Seus Idiomas : Corte, Governos Ultramarinos, Negociantes, Régulos e Escravos no Mundo Português, Séculos XVI a XIX” (Projeto 2, P2), financiado por um convénio FCT/CAPES. Teria sido oportuno que se tivesse explicitado, com clareza, quais os registos documentais de cada projeto que suportaram os vários capítulos da obra como, também, o uso das confluências de informação e dos períodos temporais, justamente por terem enquadramentos diferentes.
3 No guião de recolha da informação do projeto P1, segundo o quadro 2, foram definidas 11 categorias de emissores (governo, justiça, igreja, municípios, irmandades e confrarias, militar, mecânicos, comércio, fazenda, particulares e outros) e, pelo quadro 3, ficamos a conhecer as tipologias de assuntos, enquanto a tabela 5 justifica a seleção dos períodos escolhidos por razões políticas e “operacionais”. As fontes utilizadas para o Brasil foram o espólio do Arquivo Histórico Ultramarino, a documentação microfilmada pelo Projeto Resgate e, para o reino e Açores, os livros de registo de alvarás, provisões e cartas à guarda dos respetivos arquivos municipais. A base de dados criada conta com 38.060 registos, sendo 11.347 para o reino (período 1621-1807, 187 anos), referentes às câmaras de Viana, Évora, Vila Viçosa, Faro e Ponta Delgada, e 26.713 para as capitanias de Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Grão-Pará, Maranhão, Minas Gerais, S. Paulo e o Reino de Angola durante o século XVII (1640-1656 e 1680-1690, 28 anos) e o século XVIII (1725/26, 1735/36,1755/56,1763/64 e 1785-95, 19 anos).
4 A tabela 8 expressa a grandeza dos dados das capitanias. Apesar dos erros evitáveis nas somas das colunas e de a tabela contemplar uma rubrica designada por “Demais anos” (quais ?), ficamos a saber que o ritmo médio da comunicação política global foi, no século XVII, de 12 documentos por mês e, no século XVIII, de 70 por mês, embora a população do Brasil tenha aumentado em quase 12 vezes. No encalce de mais dados compulsados em vários outros quadros, o certo é que não há uma conclusão geral ou conclusões parciais sobre o significado das tendências que se verificaram no plano burocrático. Evoluções que possam, inclusive, traduzir mudanças políticas e administrativas nos órgãos da administração central da coroa e, no Brasil, nos governos das capitanias, nos municípios e no governo central. Por outras palavras, as informações avançadas ganhariam muito se tivessem sido mais bem contextualizadas e comparadas.
5 A equipa de investigação do projeto P1 contou com 33 investigadores, 23 eram alunos de universidades brasileiras, três bolseiros da FCT e sete professores. A redação dos 12 capítulos foi da responsabilidade de oito destes investigadores, a que se juntaram outros oito que não fizeram parte da equipa. Temos, portanto, 25 investigadores que recolheram dados e 16 autores de textos, num total de 41 colaboradores. Das 467 páginas (12 capítulos e uma apresentação), 67 páginas (14 %) são de notas e bibliografia por cada capítulo, 64 tabelas, 67 gráficos e 3 quadros, a que correspondem cerca de 80 páginas (17 %). Se ficamos sem saber o nível de envolvimento dos investigadores da equipa do projeto P2, só esta revelação acentua a grandiosidade do programa de investigação em que o livro se fundamenta e, sem dúvida, a complexidade da sua coordenação, o que, em parte, pode explicar alguns dos reparos feitos à organização da obra. Também por tudo isto se justificava que a base de dados fosse disponibilizada online de forma a servir toda a comunidade de investigadores, no Brasil e em Portugal, à semelhança de outros programas financiados pela FCT.
6 Por várias razões, que adiante se verão, não é fácil descortinar uma justificação para alguns capítulos, tendo em conta que não acompanham o guião do projeto quanto às tipologias, os períodos cronológicos e a escolha dos emissores, e outros capítulos utilizam bases de dados diferentes, o que dificulta a perceção da coerência dos dados. Também parece que ficaram comprometidas algumas promessas, como a “matriz institucional da administração”, a “multiplicidade de atores e de mudanças ocorridas na comunicação”, o “estatuto político das câmaras municipais ultramarinas com as situadas no Reino e nas Ilhas”, as “variações no tempo e, sobretudo, apreender as diversidades geográficas e a mediação dos agentes […] produtores, os ritmos de produção, os canais de circulação, a tipologia dos assuntos, e, por fim, o destino final das solicitações feitas das periferias para o centro, e deste para as periferias”.
7 No que respeita às tipologias anunciadas na apresentação, apenas os capítulos 5, 6 e 7 tratam de algumas, como a fiscalidade, assuntos militares, economia e comércio. E o capítulo 1, que aborda um dos temas centrais do livro, a economia das mercês, utiliza dados do projeto P2 e não do projeto P1, o que deveria ser devidamente explicado. Os capítulos 2 e 4 aparentemente não decorrem do guião referente ao programa da investigação por abordarem, respetivamente, o tema da representação política e a difusão da legislação régia sem utilização dos dados do projeto e, por isso, surgirem como peças avulsas. A matriz institucional apresentada e trabalhada nos capítulos 3, 8, 9 e 10 aborda o Conselho Ultramarino, a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, os governadores reinóis e ultramarinos, corregedores, ouvidores e senados municipais.
8 Sabe-se hoje, com razoável conhecimento, que esta rede institucional não reflete a complexidade da comunicação política nem elenca a singularidade brasileira. A esmagadora maioria das petições e/ou processos fazia o trânsito de pareceres e/ou consultas por vários tribunais e conselhos, entre os quais o Conselho Ultramarino era, sem dúvida, um dos polos, mas que foi sistematicamente desautorizado com os conflitos jurisdicionais com o Desembargo do Paço, que nunca perderia a jurisdição dos provimentos de lugares de letras (ouvidores, intendentes, provedores e juízes de fora), com o Conselho da Fazenda, que manteria a jurisdição sobre os assuntos da fazenda real, e com a Mesa da Consciência e Ordens, que tratava as questões relacionadas com a natureza dos índios, a legalidade do comércio dos escravos ou o problema da chamada “guerra justa” e tinha jurisdição sobre parte do clero. Tudo isto sem esquecer a indispensável intervenção dos procuradores da coroa com assento em cada tribunal e conselho. Será certamente pelo facto de a centralidade da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, a partir do pombalismo, estar evidenciada nos núcleos do ANTT e não no AHU que não terá sido dado o destaque quantitativo a esta mudança política.
9 Os governadores das capitanias e os governadores reinóis são dois cargos com funções muito distintas. Enquanto no reino se ocupavam de assuntos militares, no Brasil governavam. Sobre corregedores e ouvidores, que não comunicaram, obviamente, com o Conselho Ultramarino, só podem ser comparados com muita reserva. A existência de um ouvidor-geral na sede da capitania, e não de um ouvidor de comarca (exceção para Minas Gerais), conferia a estes magistrados uma abrangência territorial imensa, de onde que a diferença com os corregedores decorria, sobretudo, das escalas cartográficas, mobilidade das fronteiras e ambientes rústicos, com consequências na configuração das pluralidades e autonomias jurisdicionais. Sobre os municípios (capítulo 10), com uma abordagem temporal também diferente do projeto P1, sobressai a ideia de que as câmaras, quase todas de juízes ordinários, produziram uma média de quatro documentos por ano para comunicarem com a coroa. Nos dois últimos capítulos, um sobre Luanda, indica-se uma produção de um a sete requerimentos por ano, enquanto um outro capítulo reserva a atenção para as petições em grupo (moradores, nobreza, lavradores, confrarias, misericórdias e câmaras).
10 De notar, ainda, omissões importantes na matriz institucional apresentada, talvez por razões documentais. Não é invocada a modalidade inusitada de juízes ordinários sem câmaras (desde 1732), que a coroa aceitou como “provisional”, e a rede de juízes de vintena (ambos eletivos), como não são referidos os (super)intendentes que respondiam diretamente à corte e não obedeciam aos governadores nem aos ouvidores e, também, o expediente de governar através de juntas colegiais (à maneira das Cortes), provisórias e ocasionais (camarárias, de capitania, fazenda, comércio e justiça), embora tenha sido anotada a sua emergência no capítulo 2. Mas estas foram, sem dúvida, as grandes novidades político-institucionais ensaiadas na colónia que, pelas suas caraterísticas e idiossincrasias, deixaram poucos artefactos arquivísticos, embora possam influenciar a apreciação e a crítica aos dados recolhidos pelo(s) programa(s) de investigação.
11 Do ponto de vista historiográfico, o livro assume como estratégico evidenciar a existência de uma “monarquia pluricontinental” que se terá cimentado à custa da economia das mercês, das suas dependências e obediências, desenvolvendo uma centralidade no príncipe para satisfação de serviços e privilégios. No primeiro e maior capítulo sobre as mercês, a tabela 1.3 diz-nos que o ritmo das petições de mercês foi de 4,5 por mês e não ultrapassou 10 % do conjunto das tipologias (governo, fiscalidade, economia, escravidão, câmaras). Verificamos, também, ao longo das estatísticas produzidas que a comunicação política foi de baixa intensidade. Entre 1621 e 1808, no que aos municípios diz respeito (reino e Brasil), excluindo o governo da câmara, temos uma média de cerca de duas remessas por ano (ou quatro se incluirmos o governo das câmaras), enquanto as capitanias produziram perto de dez remessas por mês.
12 Sobre os provimentos de ofícios sabe-se hoje, relativamente bem, que encontraram imensas dificuldades para serem satisfeitos, pese o esforço na divulgação dos concursos, obrigando, portanto, à prorrogação dos mandatos. Este bloqueio levou os governadores das capitanias e os senados das câmaras a usarem, com grande autonomia e arbitrariedade, o mecanismo ilegal de atribuição de ofícios cujos encartes passaram, desta forma, a promover e a consolidar redes clientelares de favores, compensações e concessões de privilégios locais e regionais, fugindo à consagração simbólica do monarca. E esta desvalorização do exercício da graça cresceu, também, por causa do regime da venalidade. Desde o início do século XVIII que os ofícios a criar ou já criados, excluídos os da fazenda, podiam ser vendidos em leilão a quem oferecesse um “donativo” à coroa que justificasse o encarte (“direito antidoral e consuetudinário”). Esta singularidade não foi desenvolvida no livro nem foi explicada a sua ausência.
13 Talvez possamos dizer, em síntese, que, devido aos propósitos anunciados no(s) programa(s), ao enorme caudal de informação disponibilizada, embora com o desencontro de alguns dados, ao meritório e significativo problema historiográfico levantado, se justificaria uma conclusão geral mais desenvolvida com a retoma da tese da proeminência das mercês (economia da graça) como aglutinadora, por um lado, de uma monarquia pluricontinental e, por outro, como o cimento da comunicação política com a coroa. A demonstração desta tese não nos parece que esteja suficientemente evidenciada nos diversos textos da obra, alguns mesmo contraditórios com o propósito da mesma, nem tão-pouco está revelada nos dados quantitativos e nas análises qualitativas. Seria, obviamente, uma grande novidade historiográfica que mudaria diversas perspetivas políticas sobre o império e, por isso mesmo, pedia e merecia uma abordagem eminentemente estruturante.
José Subtil – Universidade Autónoma de Lisboa. E-mail: josemsubtil@gmail.com.
Um reino e suas repúblicas no Atlântico. Comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVI e XVII – FRAGOSO; MONTEIRO (LH)
FRAGOSO, João; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (Org). Um reino e suas repúblicas no Atlântico. Comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVI e XVII. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2017, 476 pp. Resenha de: VAINFAS, Ronaldo. Ler História, v.75, p. 275-279, 2019.
1 O livro organizado por João Fragoso e Nuno Gonçalo Monteiro recoloca a problemática do império marítimo português, em particular aquela dedicada a investigar as dinâmicas imperiais nos séculos XVII e XVIII. O título, é certo, evita a palavra império e adota uma fórmula original, “um reino e suas repúblicas no Atlântico”. O termo república, aliás, como bem sabem os especialistas, procura exprimir o que, na documentação da época, aparecia como conquistas ou domínios ultramarinos, raramente como colónias, exceto a partir do final do século XVIII. É opção interessante, pois além de mais ou menos frequente em documentos coevos, tal nomenclatura ilustra a perspectiva jurisdicional, uma vez focada nos sistemas e agentes da comunicação entre as diversas esferas de poder, desde as instituições administrativas do reino às agências locais, a exemplo das câmaras municipais, passando pelas governanças coloniais, fossem estados ou vice-reinos, sem prejuízo de outras instâncias de peso, como juizados vários, tribunais de segunda instância e corporações militares.
2 A obra se insere, portanto, na corrente revisionista da história portuguesa e ultramarina do Antigo Regime, embora também este conceito seja motivo de polêmica entre os historiadores, nos últimos vinte anos, quando aplicado às sociedades coloniais da época moderna. Polêmicas sobre a nomenclatura têm sido, de facto, muito intensas neste campo de estudos, e se, por vezes, exprimem divergências meramente nominalistas, outras vezes se relacionam a questões relevantes de ordem conceitual, tingidas por colorações políticas e ideológicas, em maior ou menor grau. Exceções à parte, as polêmicas deste campo de estudos me parecem cientificamente elevadas e se relacionam ao nó da questão. Trata-se, antes de tudo, de definir o estatuto das relações entre a coroa portuguesa e suas possessões marítimas. Trata-se, ainda, de compreender a dinâmica dessas relações que, obviamente, se modificaram ao longo dos séculos. Trata-se, em especial, de relacionar esta dinâmica com as diversas territorialidades, com as instâncias hierarquicamente graduadas de governança e com os agentes de poder em vários graus. Em uma fórmula banal : identificar quem mandava em quem, quando, onde e porquê ; e, sobretudo, como se comunicavam as diferentes esferas de poder, sobre quais temas, com que frequência, quem as protagonizava.
3 Claro está que o objeto de investigação em causa pressupõe a delimitação do todo e das partes. Da unidade e de seus componentes. Um reino e suas repúblicas é título sugestivo, como já disse, mas não pretende, quero crer, dar conta do imbróglio conceptual que a questão encerra. Diversos livros, seja os da historiografia tradicional, seja os da revisionista, recorrem à palavra reino para aludir à cabeça deste complexo sociopolítico, palavra que se reveza com coroa, monarquia, metrópole e império. A problemática de fundo reside nos nexos entre o centro e as periferias do mundo português, como sugeriu Russel-Wood, em texto clássico, embora o mesmo autor aponte que tais vínculos eram complexos, dinâmicos e relacionais. Determinada periferia poderia funcionar como centro de outras periferias do ponto de vista comercial, administrativo ou jurisdicional. O próprio Portugal, centro inconteste de suas conquistas ultramarinas, passou à órbita das monarquias secundárias da Europa após 1640, justamente na época em que o reino brigantino buscou incrementar seus mecanismos de controle, em especial sobre o Brasil e a África centro-ocidental.
4 Império ? Eis-nos diante de um conceito tremendamente complicador nas definições da unidade, decerto maior, dos dilemas relacionados às periferias. No livro em causa, evita-se o império no título, bem como na excelente apresentação dos autores sobre as pesquisas nele contidas. No prefácio assinado por António Manuel Hespanha, porém, “império português” é expressão usada sem hesitação, embora o autor a utilize exatamente para sublinhar o descentramento dele, considerado o “desenho de centros de decisão de vários níveis, interconectados segundo uma geometria variada…”. Um império fragmentado, descentralizado. Império sem unidade. Não é de estranhar que Hespanha assim o defina, sendo autor de obra matriz do revisionismo historiográfico português quanto ao caráter absolutista da monarquia, definindo-a como polissinodal, para sublinhar a pluralidade, quando não justaposição, das jurisdições decisórias até meados do século XVIII. Poucos estudos do livro adotam o império como referência e apenas um o estampa no título.
5 O conceito, ou apenas a expressão, de império português é aspecto central desta temática, considerada a trajetória de seu uso e a claudicação dos historiadores atuais em adotá-la. O livro em foco ilustra o dilema, embora prevaleça alguma parcimônia na utilização do termo, que perde, em menções, para a noção de reino. Mas, paradoxalmente, a restauração inovadora do conceito de império faz parte do revisionismo historiográfico das últimas décadas, seja do lado português, seja do brasileiro. Os organizadores se referem ao império a propósito da unidade que o mundo português teria eventualmente construído na época estudada : “no Setecentos, o termo ‘império’ parece ter tido uma utilização escassa, sobretudo literária, tornando-se mais frequënte em finais do século, também por influência da economia política”.
6 Estão certíssimos, se lembrarmos que D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro da coroa, foi quem praticamente cunhou o termo “império luso-brasileiro”, em sua memória de 1797. Considerando que, após a independência das colônias inglesas da América do Norte, o império português corria o risco de fragmentar-se, sustentou a necessidade de reformas que aliviassem a pressão, sobretudo fiscais, sobre os colonos do Brasil. Recorrendo ao pensamento dos fisiocratas e de Adam Smith, pretendeu reforçar a unidade das conquistas como um todo. Concebeu um império que apostasse nas horizontalidades territoriais, sem destroçar a verticalidade inerente a um império colonial. “Afrouxar os laços para manter o enlace”, assim Fernando Novais se referiu ao projeto setecentista do Conde de Linhares. Quase sessenta anos antes de D. Rodrigo, D. Luís da Cunha havia exposto tese semelhante, nas Instruções Inéditas a Marco António de Azevedo Coutinho, de 1736, que viu no Rio de Janeiro a vocação para encabeçar um império atlântico português, no lugar de Lisboa. Romero de Magalhães o definiu, por isso, como um “visionário radical”, embora fosse ele, D. Luís, um ilustrado calculista. Chegou D. Luís a escrever que, por ser “florentíssimo e bem povoado aquele imenso continente do Brasil”, deveria o rei de Portugal tomar o título de “imperador do Ocidente” e ali estabelecer-se. O historiador brasileiro Evaldo Cabral de Mello abriu com D. Luís da Cunha um texto intitulado “Antevisões imperiais”, publicado em Um imenso Portugal (2002). De sorte que Fragoso e Monteiro estão certos ao indicar que o conceito de império, em Portugal, foi uma formulação tardia. O império luso-brasileiro, ao concretizar-se nos primeiros anos do XIX, preludiou a emancipação política do Brasil, como afirmou Emília Vitti da Costa.
7 Na historiografia brasileira dos anos 1930-1940, empenhada em desvelar a identidade brasileira, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr. sequer mencionaram o império português. Estavam, os dois primeiros, empenhados em discutir o maior ou menor peso da cultura portuguesa na formação do país. Gilberto Freyre ao exaltar a plasticidade do português, embora realçando o triunfo das africanidades na identidade brasileira. Sérgio Buarque ao desmerecer o legado lusitano – predatório – mas reconhecendo que tudo, na formação histórica brasileira, foi adaptação maior ou menor da portugalidade. Caio Prado, por sua vez, marxista por vocação e formação, concentrou o foco nas contradições entre metrópole e colônia, ao destacar a exploração mercantil do Brasil em um sistema orquestrado pelo capital comercial europeu. Buscava as origens do subdesenvolvimento, do atraso e da pobreza brasileiras à luz do conceito leninista de imperialismo, ajustado para o período colonial. A mesma interpretação foi aggiornata nos anos 1970 por meio do conceito de Antigo Sistema Colonial, cunhado por Fernando Novais. Irrigou inúmeras pesquisas e livros didáticos brasileiros até o final do século passado.
8 Do lado português, o problema parece ser mais complexo. A noção de império colonial encorpou-se nas primeiras décadas do XX. Ainda na Ditadura Militar portuguesa (1926-1933), o ministro das colónias, Armindo Monteiro, defendeu a organização de um verdadeiro império, que Portugal não estruturara, apesar de possuir “um conjunto de parcelas espalhadas pelo mundo”. No Estado Novo esta ideia deslanchou. O própro Salazar publicou diversos textos em que celebrou a unidade do império português. Bastaria examinar as divisões e propósitos da Agência Geral das Colónias, fundada em 1924 e agigantada no salazarismo. Bastaria citar os eventos da Agência nos anos 1930, a exemplo do Congresso da Expansão Portuguesa no Mundo (1937). A Agência Geral das Colónias patrocinou centenas de publicações e criou colecções tipicamente colonialistas ou imperialistas, a exemplo de “Pelo império”.
9 É verdade que a Agência também publicou estudos de interesse, mas seu engajamento ideológico era indiscutivelmente salazarista, imperialista. Não admira que os historiadores à esquerda, como o grande Vitorino de Magalhães Godinho, jamais tenham utilizado o conceito de “império colonial”. Não admira que os historiadores formados ou consolidados após a “Revolução dos Cravos”, tenham seguido este caminho cético quanto à legitimidade do conceito de “império português”. Citemos a coleção História da Expansão Portuguesa, organizada por Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri a partir de 1998. O conceito de império serve de referência, quiçá eixo da obra, figurando no título de várias partes ou capítulos. Um império entendido em sentido abrangente, abrigando não apenas os fluxos mercantis, mas também as configurações políticas e culturais. Diria que a obra aprofunda no conteúdo, e alarga na temporalidade, o que Charles Boxer ofereceu no clássico O império marítimo português (1969). Porém, não obstante a excelência da colecção, os autores evitam discutir o conceito de império e o não explicitam no título, se é que chegaram a cogitar da hipótese.
10 A partir dos anos 1990, do lado de cá e de lá do Atlântico, os historiadores passaram a valorizar a perspectiva imperial de Boxer, que nada tinha que ver com os dilemas políticos portugueses ou brasileiros. Uma tentativa de, mutatis mutandis, pensar a experiência imperialista portuguesa à luz da britânica e da holandesa, por ele estudadas desde os anos 1950. A afirmação de Boxer de que as câmaras e as misericórdias foram pilares do império português tornou-se clássica, inspirando várias investigações. Um incentivo aos estudos dos poderes locais na configuração do império lusitano. Mas penso que os estudos sobre impérios coloniais na época moderna tiveram peso na recuperação do conceito de império, como no livro de Jack Greene, Peripheries and Center : Constitutional Development in the Extended Polities of the British Empire and the United States, 1607-1789 (1990).
11 A obra em análise evita o conceito de império, mas flerta com ele. O próprio Fragoso adotou, sem pejo, o conceito de “império”, quer no pioneiro O Antigo Regime nos trópicos (2001) quer em A trama das redes : política e negócios no império português (2010), ambos organizados em parceria com Maria de Fátima Gouvêa. Em Um reino e suas repúblicas, evita-se o império em favor de conceito novo, da lavra de Monteiro : monarquia pluricontinental. Conceito adequado à realidade factual, que deve ser a mais importante para os historiadores. No entanto, para polemizar, diria que a monarquia hispânica possuía perfil similar, não obstante John Elliot a ter definido como monarquia compósita. Pois quem haverá de duvidar que Castela encabeçava uma monarquia pluricontinental no mesmo período, com o trunfo de ter engolido o império português entre 1580 e 1640 ?
12 Em todo caso, os critérios adotados para delimitar os “períodos de comunicação” são muito inovadores (p. 27). Os organizadores multiplicam as fases e, ao mesmo tempo, alargam as perspectivas para a investigação das dinâmicas imperiais no Atlântico português pós-restauração. Isto porque se ancoram na empiria (fluxo e disponibilidade das fontes) ; atentam para as conjunturas políticas e econômicas portuguesas do período ; procuram destacar os aspectos relacionais entre os vasos comunicantes no Atlântico português em várias escalas de poder. Oferecem uma tipologia arguta das dimensões do poder : a do reino, a da conquista, a donatorial, a local, a privada ou doméstica. Reconhecem, ainda, que a pesquisa deixa quase de fora a dimensão doméstica de poder, exceto quanto à incidência de solicitações de mercês pelas elites coloniais à monarquia. Um paradoxo formidável, considerado que o exercício do poder, no âmbito doméstico, era decisivo na estruturação das relações sociopolíticas da monarquia pluricontinental.
13 Vale indagar se, por deixar à sombra a esfera do poder senhorial no Brasil ou a dos potentados africanos que organizavam o tráfico, a obra se preocupa apenas com a face formal da comunicação política. Não penso ser este o caso, sobretudo porque alguns capítulos tangenciam a dimensão privada do poder, ao desvendarem malhas locais, como no texto de Roberto Guedes sobre a câmara de Luanda. Em segundo lugar, porque o relativo eclipse da esfera doméstica de poder resulta não de qualquer parti pris, senão do que as fontes oferecem. Em terceiro, porque a esfera jurisdicional, privilegiada na obra, verticaliza a fisiologia política do império. Círculos de poder com ligames formais de comunicação. Círculos concêntricos ? Talvez não, considerado o compromisso teórico dos autores com o descentramento. Talvez sim, se admitida alguma centralidade da coroa. Dilemas à parte, estamos diante de um grande livro. Pesquisa financiada por várias top agências de fomento. Inovação no tratamento da problemática. Equilíbrio entre a informação quantitativa e a interpretação qualitativa, erudita. Aproveitamento à exaustão das fontes disponíveis, com destaque para as do Arquivo Histórico Ultramarino. Historiadores e historiadoras de ponta, nos dois lados do Atlântico. Paixão pelo ofício em cada um dos trabalhos da obra.
Ronaldo Vainfas – Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ-FFP) e Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil. E-mail: rvainfas@terra.com.br
Entangled Empires: the Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830 – CAÑIZARES-ESGUERRA (VH)
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Entangled Empires: the Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2018. 331 p. KALIL, Luis Guilherme. A Península e a Ilha: Ibéricos e ingleses no Atlântico dos séculos XVI ao XIX. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 67, Jan./ Abr. 2019.
Em sua investigação sobre os primeiros exploradores europeus do território norte-americano, Tony Horwitz (2010, p.16) afirma haver um “século perdido”, que iria de 1492 até 1620, com o desembarque do Mayflower. O vazio apontado pelo jornalista é ilustrado através da entrevista com um guarda-florestal de Plymouth, frequentemente questionado por turistas se este rochedo seria o local onde Colombo teria desembarcado no Novo Mundo.
Esta curiosa confusão de datas e personagens se relaciona com questões mais amplas acerca do passado colonial americano e dos impérios construídos por ingleses e ibéricos durante a Modernidade. A visão de uma experiência inglesa na América como algo único e isolado do restante do continente possui uma longa e variada trajetória marcada por aspectos como as rivalidades imperiais e os embates entre católicos e protestantes no período. Esse processo ganha força nos Estados Unidos independente através dos esforços de construção de um passado nacional que encontra nos puritanos ingleses o ponto de partida para o Destino Manifesto da nação. Já no século XX, essa perspectiva fomenta uma abordagem – há muito criticada pelos historiadores, mas ainda atraente em sua tipologia simplista, dicotômica e determinista – que identifica na América a existência de dois modelos opostos de colonização: exploração ou povoamento.
Ao longo de sua carreira, Jorge Cañizares-Esguerra vem dedicando grandes esforços na tentativa de negar o isolamento e historicizar a construção deste antagonismo que silencia as conexões, enfatizando que a trajetória do Império inglês – e, mais amplamente, da própria Modernidade – só seria compreensível se a experiência ibérica fosse colocada em primeiro plano. Nesse sentido, o autor enfatizou em obras anteriores o papel central do Império espanhol e de suas colônias americanas em alguns dos principais debates epistemológicos do século XVIII (2001), os vários pontos em comum entre conquistadores hispânicos e religiosos puritanos (2006) e a “dramática influência” das ideias, políticas e ações ibéricas nas colônias ultramarinas inglesas, marcadas pela inveja em relação à Espanha (Cañizares-Esguerra; Dixon, 2017). Em todos os casos, há um questionamento direto em relação aos recortes nacionais e imperiais e também às perspectivas tradicionais de Modernidade e de História Atlântica, que deixariam de lado a complexidade e a riqueza das trajetórias de pessoas, bens, ideias e escritos. Como alternativa, o historiador, em conjunto com outros pesquisadores (Gould, 2007), propõe a perspectiva de “Impérios Emaranhados” (2012), cujas trajetórias seriam impossíveis de serem compreendidas separadamente.
O presente livro é mais uma contribuição nessa direção. Resultado de um encontro organizado por Cañizares-Esguerra e seus orientandos na Universidade do Texas, em 2014, Entangled Empires visa, através de seus doze artigos, reforçar as críticas às abordagens nacionais ou imperiais através da análise de uma ampla gama de temas, documentos, personagens e regiões que se estendem do século XVI ao início do XIX. A ideia de um esforço conjunto em defesa da perspectiva de Impérios Emaranhados fica visível através não apenas de referências conceituais e bibliográficas comuns, mas também pelas recorrentes menções nos artigos a outros textos do mesmo livro, o que reforça o diálogo entre eles e a unidade da obra, permitindo conexões que escapam aos temas específicos de cada um dos autores.
Como exemplo, podemos citar os estudos de Mark Sheaves (Cap. 1) e de Christopher Heaney (Cap. 4), que destacam a fragilidade das identificações nacionais em relação a determinadas fontes históricas e personagens. No primeiro caso, o autor persegue a trajetória de ingleses como um comerciante e escritor que viveu em terras espanholas denominado nos documentos do período tanto como Pedro Sánchez quanto como Henry Hawks, a depender de seu local de publicação. Já Heaney analisa a tradução e adaptação para o inglês feita por Richard Eden de trechos das Décadas de Pedro Mártir de Anglería, identificando a influência da Utopia de Thomas More (que, por sua vez, foi influenciado pelas cartas de Américo Vespúcio) e a tentativa de, através dos escritos, inspirar os ingleses em direção ao Novo Mundo.
Outros capítulos ressaltam a atuação de grupos que transitavam entre a península, a ilha e o mundo atlântico. É o caso do artigo de Michael Guasco (Cap. 2), para quem os primeiros contatos dos ingleses com os africanos teriam sido pautados pela experiência ibérica anterior, da análise de Holly Snider (Cap. 5) a respeito dos judeus sefaraditas e de Christopher Schmidt-Nowara (Cap. 6) sobre a importância de alguns irlandeses para a expansão inglesa e suas múltiplas relações com os domínios ibéricos. Destacam-se ainda as contribuições de Bradley Dixon (Cap. 9), para quem a influência ibérica também foi fundamental para se compreender as expectativas e a atuação de determinados grupos indígenas em seus contatos com os ingleses, e de Kristie Flannery (Cap. 12), que altera o eixo de análise do Atlântico para o Pacífico, apontando a multiplicidade de relações existentes entre ingleses, espanhóis e nativos nas Filipinas durante a Guerra dos Sete Anos.
Em muitos capítulos, a referência aos impérios ibéricos presente no título da obra perde força para a abordagem mais específica das relações entre espanhóis e ingleses. Uma exceção é o trabalho de Benjamin Breen (Cap. 3), que destaca o papel central dos portugueses no comércio de “drogas” e na formação de redes comerciais e intelectuais. A decisão de concentrar a atenção no Atlântico anglo-ibérico traz ainda como consequência – algo reconhecido pelo próprio organizador em sua introdução (p. 3) – o pouco espaço dedicado a outros impérios, personagens e eventos fundamentais para a compreensão das questões que envolvem muitos dos artigos desta coletânea, como o caso da Revolução de Santo Domingo e, mais amplamente, da atuação francesa, holandesa, sueca, entre outras, no Novo Mundo, o que não só ampliaria a quantidade de impérios abordados, mas também aprofundaria o emaranhado entre eles.
Para além das possibilidades de ampliação do escopo de análise, que abrem espaço para outros esforços coletivos de pesquisa no futuro, Entangled Empires é uma importante contribuição no já longevo esforço de problematização do conceito de Império. Após percorrermos as trajetórias dos textos, produtos e personagens além dos debates intelectuais, negociações políticas e conflitos armados analisados pelos autores que participam desta coletânea, torna-se cada vez mais difícil identificarmos as especificidades e os limites há muito identificados entre os impérios construídos pelos ibéricos e ingleses.
1É interessante observarmos que a produção de obras coletivas em torno de uma proposta de análise – algo ainda raro dentro da historiografia brasileira – é muito comum nos Estados Unidos. Apenas como exemplo, limitando-nos a livros que alcançaram grande repercussão dentro das pesquisas sobre o continente americano durante o período colonial, podemos citar obras como Negotiated Empires (2002) e Indian Conquistadors (2007).
Referências
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. How to Write the History of the New World: Histories, Epistemologies, and Identities in the Eighteenth-Century Atlantic World. Stanford: Stanford University Press, 2001. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Puritan Conquistadors: Iberianizing the Atlantic, 1550-1700. Stanford: Stanford University Press, 2006. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Histórias emaranhadas: historiografias de fronteira em novas roupagens? In: FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira (org.). História da América: historiografia e interpretações. Ouro Preto: EDUFOP, 2012, p.14-39. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; DIXON, Bradley J. “O lapso do rei Henrique VII”: inveja imperial e a formação da América Britânica. In: CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira; BOHN MARTINS, Maria Cristina (orgs.). As Américas na Primeira Modernidade. Curitiba: Prismas, 2017, p. 205-243. [ Links ]
DANIELS, Christine; KENNEDY, Michael V. Negotiated Empires: Centers and Peripheries in the Americas, 1500-1820. New York; London: Routledge, 2002. [ Links ]
GOULD, Eliga H. Entangled Histories, Entangled Worlds: The English-Speaking Atlantic as a Spanish Periphery. American Historical Review, vol. 112, n. 3, p.764-786, 2007. [ Links ]
HORWITZ, Tony. Uma longa e estranha viagem: rotas dos exploradores norte-americanos. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. [ Links ]
MATTHEW, Laura; OUDIJK, Michel. Indian Conquistadors: Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica. Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2007 [ Links ]
Luis Guilherme Kalil – Departamento de História, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Av. Governador Roberto Silveira, s/n, Nova Iguaçu, RJ, 26.020-740, Brasil. lgkalil@yahoo.com.br.
O mais natural dos regimes Espinosa e a Democracia – AURÉLIO (CE)
Aurélio, D. P. (2014). O mais natural dos regimes. Espinosa e a Democracia. Lisboa: Temas e Debates/Círculo de Leitores. Resenha de: BRAGA, Luiz Carlos Montans. Uma tese radical: Espinosa e a Democracia. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.40, jan./jun., 2019
O termo radical, tal como ética, democracia, política, e tantos outros, pelo excesso de uso e vulgarização demasiada, ao ser trazido à discussão, merece ser precisado, para que, em meio ao caos semântico, inimigo maior da filosofia, signifique algo claro e distinto. De fato, certo senso comum associa a palavra radical àquele que é fundamentalista em algo; em geral, o indivíduo contrário à boa ordem social, aos bons costumes. Porém, o que a expressão deve significar nesta resenha tem a ver com seu sentido etimológico. Ou seja, radical é o que vai à raiz, ao fundamento.
E por que a tese espinosana acerca da democracia, tema protagonista do livro ora resenhado, é radical? Porque ousa ir à raiz ontológica da política, como o belo ensaio de Diogo Pires Aurélio mostra com cuidado demandado por uma filosofia que, durante aproximadamente três séculos, esteve sob a sombra de uma imagem equivocada que dela se produziu. De panteísta que nega a liberdade do homem a pensador maior da política e do direito – em tempos recentes –, o caminho das teses e textos espinosanos é um labirinto cujas primeiras saídas foram encontradas pelos estudos fundamentais de Antonio Negri (1998) 1 e Alexandre Ma – theron (1988) 2, os quais foram aprofundados por outros comentadores de peso, posteriormente, entre os quais, em terras brasileiras, Marilena Chaui (1999, 2003, 2016). Aurélio, é preciso salientar, compõe esta linhagem.
Uma, entre outras muitas, imagem equivocada que sombreou a compreensão das teses espinosanas está condensada no influente verbete Spinoza, de autoria de Pierre Bayle (1696). No verbete, as teses espinosanas são descritas como as de um panteísta e ateu de sistema, filosofia diabólica precisamente por ser de difícil refutação, dada sua costura com as linhas de aço da geometria. A tradição posterior, raciocinando a partir de premissas exteriores às da filosofia espinosana, só poderia, em uma filosofia em que tudo é necessário, encontrar absurdos e contradições insolúveis. De fato, se há apenas uma substância – Deus ou a natureza –, na qual os homens são modos finitos, isto é, intensidades de potência expressas pela substância em sua causalidade imanente e necessária, onde encontrar a liberdade do homem? Em que fissura da causalidade da substância haveria espaço para a ação livre, para o campo da ética e da política? Pois um dos paradoxos quase insolúveis que a tradição de leituras exponenciaria aos comentadores até muito recentemente 3 seria exatamente este: de que fio puxar a ética e a política em uma filosofia da necessidade? Em uma palavra: se tudo é determinado, resta saber qual a liberdade possível. Ou, de outro ponto de vista, como passar do infinito positivo da substância eterna aos modos finitos das existências dos homens sem compreender estes últimos como meros epifenômenos de Deus? Estas imagens acerca do autor influenciaram, por exemplo, Voltaire, passando por Hegel e, em paragens brasileiras, chegaram a Machado de Assis (2009, p. 242) em seu poema dedicado a Espinosa – e tiveram ainda fôlego largo durante o século 20. Quanto a Machado de Assis, o Espinosa que tinha em mente seria, eis uma hipótese, o do verbete de Bayle, a saber, o panteísta.
O que o belo ensaio de um dos mais eruditos e eminentes estudiosos contemporâneos de Espinosa mostra é precisamente a ligação radical entre ontologia e política. Daí, talvez, a importância maior de Espinosa em tempos opacos como os que se desenham. Se a ciência política de corte formal não diz muito sobre a política atual, talvez seja porque não tenha lentes para tanto. E Espinosa bem pode ser, tantos séculos depois, se bem desvendado e comentado, uma dessas lentes. Permite, por exemplo, para ir ao título do ensaio que ora se resenha, que se possa dizer, acerca da democracia, que não é o “menos mau dos regimes”, mas “o mais natural” (Aurélio, 2014, p. 9). Mudança aparentemente banal, mas que traz à cena algo esquecido das discussões políticas que mais têm mídia, a saber, a natureza humana. Espinosa, pela pena de Aurélio, é trazido à cena para que mostre exatamente sua inovação fundamental no campo da filosofia política, isto é, declarar, a partir de um ponto de visto ontológico, o encaixe preciso entre a natureza humana e este regime político, tão celebrado nos belos discursos de retórica vazia quanto aviltado em seu exercício. A democracia que se proclama como tal em discursos pomposos, com seus formalismos vazios e malandros – pois fintam o conceito para lhe retirar o que tem de substantivo –, não ousa ser radical como a proposta por Espinosa. Não ousa ser ontologicamente fundada.
O livro é uma reunião de ensaios – uns já publicados outros agora republicados com acréscimos e, ainda, alguns inéditos, apresentados, até o momento, apenas sob a forma de conferências –, os quais formam, segundo o autor, não um conjunto esparso de textos, mas um todo coerente, alinhavado (Aurélio, 2014, p. 11). São três as partes do livro, somadas a uma “Introdução”, cujo título aguça a curiosidade: Espinosa, Marx e a democracia . O que haveria de comum entre Marx e Espinosa? Muita coisa, como o leitor poderá ver, e das quais esta resenha adianta uma apenas: a tese de Marx, que ecoa ideias espinosanas, e projeta a democracia “para além da tradicional questão dos regimes políticos” (Aurélio, 2014, p. 34), para afirmá-la como “horizonte de refundação permanente do demos, quer fazendo alastrar o princípio da soberania popular a todas as esferas da sociedade, quer resistindo à tendência do poder para se impor como fecho absoluto e se tomar pela totalidade social” (Aurélio, 2014, p. 34). Eis a iguaria fina que o autor serve ao leitor como entrada ao livro. A primeira das três partes que seguem, por sua vez, é baseada na “Introdução” de Aurélio ao Tratado teológico-político (TTP), por ele traduzido e publicado no Brasil pela editora Martins Fontes (2003). Intitula-se TTP : Genealogia do Poder . Nesta parte, os temas próprios ao TTP são trabalhados com a minúcia de quem estuda Espinosa há muitos anos. Ou seja, a questão da profecia, das leis, do fundamento do Estado, do direito natural e sua permanência no estado civil, da liberdade de expressão como um dos pilares de uma república bem constituída, etc. A segunda parte tem como título “O império das paixões”, composta por Capítulos que tratam de temas especificamente políticos em Espinosa. Uma das teses de Aurélio nesta parte, muito recente e atual, analisada em filigrana, é a da relação imbricada entre afetos e política. A terceira e última parte, nomeada “ TP : Da multidão ao poder”, sistematiza esses temas políticos e lhes dá acabamento. Tal parte foi originalmente publicada como “Introdução”, escrita por Aurélio, à sua tradução do Tratado político (TP) 4, no Brasil publicada também pela editora Martins Fontes (Espinosa, 2009).
O livro traz como questão mais aguda a democracia em Espinosa, isto é, a inovadora visão do filósofo acerca do tema. Curiosamente, ainda que já explícito no TTP como o mais natural dos regimes, por ser aquele que mais satisfaz a natureza humana de potência para perseverar no ser, não pôde ser desdobrado no TP, Capítulo XI, dedicado precisamente à democracia e não concluído pelo autor em razão de sua morte. A questão a democracia em Espinosa, na verdade, ainda é um problema a ser investigado pelos comentadores. Tal problema é levantado por Aurélio no momento em que indaga como seria este regime quanto às instituições. É possível dizer que o essencial da democracia já estaria nos demais textos de Espinosa? Uma passagem do “Prefácio” do livro dá pistas do projeto espinosano quanto ao tema:
Entre governantes e governados há sempre uma brecha, uma feri – da permanente […]. O que distingue a democracia dos outros regimes é o facto de, por definição, ela contrariar a cicatrização dessa ferida, evitar que a desigualdade se instale como natural, mantendo acesa, […] a ideia de um querer da totalidade, que está na origem e é fundamento de todo o poder. Reside aí o projeto de Espinosa. Reside aí, porventura, a sua atualidade (AURÉLIO, 2014, p. 10)
O livro de Aurélio cuidará de desdobrar este projeto, não obstante o não findo Capítulo XI do TP – aliás, quanto a este tema, o autor expõe sua posição, bem como a de outros comentadores, como Antonio Negri (1985) 5 e Étienne Balibar (1985), os quais igualmente transitaram pela questão. Mas onde está, mais precisa e analiticamente, a radicalidade de Espinosa, apontada no início desta resenha? Aurélio a desdobra, e ela consiste no seguinte: a rigor, não há seres isolados, indivíduos – humanos ou não–, isolados. Quanto aos homens, são indivíduos constituídos por outros indivíduos, formando uma totalidade complexa. Nas palavras do autor: “O indivíduo é sempre um ser coletivo e complexo, um aglomerado de partes cujas naturezas se conjugam momentaneamente num todo em que as forças de sinal positivo, que tendem a preservá-lo na existência, são superiores às de sinal negativo, que tendem a desagregá-lo.” (AURÉLIO, 2014, p. 36). Tais indivíduos, humanos ou não, são modificações finitas da substância absolutamente infinita, a qual é o ponto fundante da ontologia espinosana. O que vem a seguir é que amarra a política, que lida com o poder, à ontologia espinosana. Escreve Aurélio, para concluir o desenho da tese que será protagonista de muitas páginas do ensaio: “É esta a ontologia, desenvolvida nas duas primeiras partes da Ética [cujos temas são, respectivamente, De Deus e Da natureza e origem da mente ], que serve de fundamento à antropologia e à política de Espinosa.” (AURÉLIO, 2014, p. 34). Ontologia uma vez que os homens, como modificações da substância única (Deus, ou seja, a natureza), modos finitos do pensamento e da extensão, intensidades parciais de potência advindas da potência absoluta, apenas se constituem como tal em razão e como partes desta potência fundante do real, eterna e infinita, causa sui (causa de si). Tese magistral, com desdobramentos em campos vários, ao amarrar uma teoria do ser à política, à ética e ao direito, sem olvidar as variações de potência próprias aos humanos, a saber, os afetos, derivando daí o fundamento dos corpos políticos e a tese relevante e inovadora do direito natural como prevalecente no estado civil, o qual é criado para preservá-lo. Vários conceitos se apresentarão como importantes à compreensão do mecanismo da política, desvelando e desenvolvendo a tese inicial da democracia como o mais natural dos regimes uma vez que, potência que são, os homens desejam governar e não ser governados.
Em vez de analisar cada passo da longa cadeia argumentativa do autor em cada parte do livro, o que tornaria esta resenha muito longa e talvez enfadonha, opta-se por analisar, a seguir, dois ou três fios que se ligam à tese geral do livro, explicitada nas linhas acima. No interior do tema geral Aurélio introduz uma série de autores cujos conceitos são postos a dialogar com os espinosanos, a se afastar ou se aproximar deles. Eis alguns desses movimentos, a seguir.
Maquiavel é um autor com o qual Espinosa dialoga explicitamente. Chama-o agudíssimo no TP (ESPINOSA, 2009, TP, v, 7, p. 46) 6 e o pressupõe em várias passagens. Este é um tema que Aurélio desdobra com maestria, a saber, o Maquiavel latente, bem como o explícito, que há nas análises da filosofia política espinosana. Há várias e elucidativas páginas acerca das semelhanças e diferenças entre os autores. Dentre as semelhanças, Aurélio chama a atenção para o fato de que ambos dão à multidão uma importância política significativa. Maquiavel teria sido o primeiro autor da filosofia política, e durante séculos o único, a pôr “em causa a imagem negativa vulgarmente associada à multidão” (AURÉLIO, 2014, p. 370). E, ademais, ela é capaz de ser politicamente mais sábia e estável que o príncipe, tese de Maquiavel presente nos Discorsi (MAQUIAVEL, 2007 D, I 58, pp. 66-172) 7 e n’ O Príncipe (MAQUIAVEL, 2017, p. IX, pp. 147-151) 8 . Para Espinosa, por seu turno, a liberdade política dos súditos-cidadãos, no estado civil, para dizer de modo sumário, tem como fiadora a multidão, tese presente em vários momentos do TP.
O Maquiavel dos Discorsi – bem como o de O Príncipe –, afirma Aurélio, explicita a tese da positividade da multidão e Espinosa a recupera e endossa, ao seu modo (AURÉLIO, 2014, p. 370 e seguintes). Não casualmente a multidão terá papel fundamental na argumentação exposta no TP, e o termo aparecerá várias vezes no correr do texto. Ela é o fundamento de uma república bem instituída e, nesse sentido, é a protagonista maior da política.
Há outro ponto de encontro entre os autores, a seguir apenas indicado, o qual é analisado por Aurélio:
Considerar, pois, a natureza como horizonte inultrapassável do político significa integrar o político num horizonte de conflitualidade e contingência, onde não obstante os homens se unem de forma mais ou menos duradoira, consoante os afetos comuns que estabilizam e predominam em dado momento. É aí, nesse preciso horizonte, que Espinosa se encontra com Maquiavel (AURÉLIO, 2014, p. 381).
Não aparece no livro ora resenhado, mas em outro estudo de Aurélio, uma diferença entre ambos que é digna de nota. Trata-se do fato de que em Maquiavel predominam os exemplos históricos que levam às teses políticas, ao passo que em Espinosa existe uma ontologia de fundo que informa e dá sustentação aos conceitos políticos. Tal tema se apresenta quando o autor analisa o conceito de virtude em ambos.Afirma Aurélio:
[…] as ocorrências do termo ‘virtude’ no TP adquirem um alcance completamente diferente do que possuiriam quando encaradas apenas como um reflexo da leitura de Maquiavel. À superfície, haverá, com certeza, alguma coincidência: […]. Tanto Maquiavel como Espinosa rejeitam a tese ciceroniana, geralmente aceite, segundo a qual a conveniência ou utilidade e a rectidão moral seriam inseparáveis [Cícero, De Officiis, II, III, 9, ed. The Loeb Clasical Library, 1970, p. 176 ]. Mas o primeiro chega a essa conclusão com base apenas num cotejo da experiência e da história, chamando a atenção para aqueles a quem a glória bafejou no passado, apesar de se lhe imputarem actos criminosos. […] Espinosa, raciocinando embora a partir de idêntica integração do indivíduo na trama de relações em que os seus actos ganham significado e podem ser valorizados, transfere, no entanto, o problema para a sistematicidade de uma ordem ontológica onde o confronto entre razão moral e razão política é subsumido (AURÉLIO, 2000, pp. 84 – 85).Outro autor que surge no ensaio, em muitos momentos como contraponto às teses espinosanas, é Hobbes. Espinosa possuía um exemplar do De Cive em sua biblioteca pessoal, e Hobbes é um autor cujas ideias foram amplamente debatidas no período maduro de Espinosa. Espinosa o leu, é certo, e na famosa Carta 50 afirma o que o diferenciaria do autor Inglês. Esse é um mote fortíssimo, muito bem analisado por Aurélio precisamente para desdobrar as diferenças entre ambos. Uma hipótese que aqui se levanta é: os conceitos contidos e pressupostos na filosofia política hobbesiana podem ser considerados vencedores na história das ideias, ao passo que os espinosanos ficaram nas sombras por muito tempo. Por exemplo, Aurélio desenvolve muito bem o tema da representação em Hobbes, bem como o do contrato, para mostrar como Espinosa propõe algo muito diverso. Em muitas passagens do ensaio, ambos são comparados para que se possa ver com maior clareza e distinção o que os une – temas comuns – e, especialmente, o muito que os separa.
O Capítulo VIII, constituinte da Segunda Parte do livro, pode dar margem a sadias polêmicas. Nele, Aurélio propõe uma aproximação entre Kelsen e Espinosa, especialmente quanto aos temas da norma jurídica e do Estado. Entre outras passagens ricas e ousadas, o autor escreve: “Se o analisarmos a partir desse seu caráter de absoluta imanência, não é difícil ver no Estado kelseniano um eco do imperium espinosano.” (AURÉLIO, 2014, p. 283). Tese tão ousada quanto, ao ver deste resenhista, de difícil sustentação. Pois se Espinosa propõe uma explicação da política fundada em redes de afetos e de potência – procurando, no limite, a sustentação real do direito natural de cada súdito-cidadão no estado civil –, Kelsen está muito mais preocupado com a fundação de uma ciência do direito que seja autônoma – ao menos é este o projeto de sua Teoria Pura do Direito (1998), obra na qual estão condensadas muitas de suas principais teses acerca do direito. E se é certo, como afirma Aurélio, que Kelsen é um crítico das doutrinas clássicas do jusnaturalismo – o mesmo se poderia dizer de Espinosa –, em nenhum momento, salvo melhor juízo, argumenta a favor de um direito que se identifique a potência. Ao invés, está sempre na chave do direito como dever-ser e na proposta de um direito que possa ser objeto de ciência autônoma, com objeto próprio, a saber, as normas validamente postas e constituintes do ordenamento jurídico. Espinosa parece estar em trilhos muito diversos. Veja-se sua tese da identificação do direito à potência, bem como a de que o direito do Estado tem seu fundamento na potência da multidão – conceito este, o de multidão, em que o tema dos afetos se apresenta como um dos pilares explicativos de sua constituição. Ora, esses temas não são objeto dos textos de Kelsen. Porém, o brilho do ensaísta está precisamente em desenvolver uma argumentação tão cerrada e tão convincente que faz o leitor pensar à revelia de suas convicções, a contrapelo de si mesmo – tarefa da filosofia. Eis um ponto a ser ressaltado, neste e em outros Capítulos: Aurélio ousa levar sua pena e seu talento ensaístico a territórios pouco frequentados.
A discordância acima indicada é bastante pontual e lateral. Com efeito, o fio principal do texto – e as análises de Aurélio – pode ser resumido como um brilhante e erudito ensaio acerca do mais natural dos regimes, a democracia, a tese radical de Espinosa. Neste ensaio de Aurélio, Espinosa é apresentado como filósofo num dos sentidos originais da ex – pressão, ou seja, o que leva à verdade como alétheia [ αλήθεια ], isto é, desvelamento ou desocultamento. Na filosofia política que propõe o autor holandês, e que Aurélio apresenta tão bem, há reviravoltas conceituais que levam à constituição de lentes polidas com extrema precisão. Espinosa faz o leitor que se apropria de seus conceitos enxergar o que antes era opa – cidade. E Aurélio é excelente mapa para o território da filosofia política espinosana – antes que escureça! Uma resenha deve insinuar coisas interessantes sem mostrar o essencial. Espera-se que o intento tenha sido alcançado, ou seja, que este texto seja convite ao leitor para palmilhar com a velocidade lenta da filosofia a bela geografia conceitual criada por Aurélio.
Notas
1 A primeira edição de L’anomalia selvaggia : potere e potenza in Baruch Spinoza é de 1981 .
2 Que é uma reimpressão do texto de 1969 (Matheron, 1988, p. I).
3 Como indicado acima, uma das primeiras leituras que rompe com este estado de coisas é a de Matheron, de 1969 (Matheron,1988), e depois a de Negri, publicada pela primeira vez em 1981 (Negri, 1998) .
4 Agraciada, em 2009, com o prêmio de Tradução Científica e Técnica em Língua Portuguesa, atribuído pela União Latina em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal.
5 Traduzido no Brasil em: Negri, A. (2016). Espinosa subversivo e outros escritos. Tradução de Herivelto Pereira de Souza. São Paulo: Autêntica, pp. 46 – 85.
6 Em romano o capítulo, em arábico o parágrafo -Espinosa, 2009.
7 Em romano o Livro, em arábico o Capítulo – Maquiavel, 2007.
8 Em romano o Capítulo – Maquiavel, 2017
Referências
AURÉLIO, D. P. (2000). Imaginação e Poder: Estudo sobre a Filosofia Política de Espinosa. Lisboa: Edições Colibri.
_______. (2014) O mais natural dos regimes. Espinosa e a Democracia. Lisboa: Temas e Debates/Círculo de Leitores.
ASSIS, M. (2009). A poesia completa de Machado de Assis. Rutzkaya dos Reis (Org.). São Paulo: Nankin/Edusp.
BALIBAR, E . (1985) Spinoza et la politique . Paris: puf .
BAYLE, P . (1696) Dictionnaire historique et critique. Article Spinoza . Disponível em: < http://www.spinozaetnous.org/telechargements/Commentaires/ Bayle/Bayle_Spinoza.pdf >. Acesso: 15 dez. 2017.
CHAUI, M . (1999) A nervura do real: Imanência e liberdade em Espinosa. Vol. I : Imanência. São Paulo: Companhia das Letras.
_______. (2003) Política em Espinosa . São Paulo: Companhia das Letras.
_______. (2016) A nervura do real : Imanência e liberdade em Espinosa. Vol. II : Liberdade São Paulo: Companhia das Letras.
ESPINOSA, (2003) Tratado teológico-político .Tradução de Diogo Pires Aurélio. São Paulo: Martins Fontes.
_______. (2009) Tratado político. Tradução de Diogo Pires Aurélio. São Paulo: Martins Fontes.
KELSEN, H. (1998) Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes.
MAQUIAVEL, (2007) Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio . Tradução MF . São Paulo: Martins Fontes.
_______. (2017) O Príncipe. Tradução de Diogo Pires Aurélio. São Paulo: Editora 34.
MATHERON, A. (1988) Individu et communauté chez Spinoza . Paris: Les Édi – tions de Minuit.
NEGRI, A . (1998) L’anomalia selvaggia : potere e potenza in Baruch Spinoza (publicado com Spinoza Sovversivo e Democrazia Ed eternità in Spinoza). Roma: DeriveApprodi.
_______. (1985) Reliquia desiderantur: congettura per una de fi nizione del concetto di democrazia nell’ultimo Spinoza. In: Studia Spinozana I, n. 8, pp. 143-181.
Luiz Carlos Montans Braga – Professor Universidade Estadual de Feira de Santana. E-mail: lcmbraga@usfs.br
300 años: masonerías y masones, 1717-2017 – ESQUIVEL et al (RE)
ESQUIVEL, Ricardo Martínez; POZUELO, Yván; ARAGÓN, Rogelio (Ed). 300 años: masonerías y masones, 1717-2017. Cinco volúmenes: Migraciones, Silencios, Artes, Exclusión y Cosmopolitismo. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017-2018. Resenha de: MARCO ANTONIO, García Robles. Revista Estudios, v.37, Diciembre 2018-Mayo 2019.
Desde la investigación histórica, desentrañar las sociabilidades de los masones permite agregar una capa de comprensión o explicación a las narraciones consideradas como canónicas o inobjetables. No es que hubiera omisiones intencionales en los seguidores de Clío; más bien, estaban en desarrollo las herramientas para interpretar las afiliaciones a los ritos masónicos existentes en el país o lo más frecuente, se disponía de escasa o nula información al respecto, lo que, de hecho, sigue siendo uno de los principales retos para los historiadores por la pérdida de archivos o el difícil acceso a los que existen.
Con relación a los cinco volúmenes de 300 años: Masonerías y masones (1717-2017),1 disponibles en formato electrónico,2 sin duda podemos afirmar que es la única iniciativa académica de esta dimensión en Iberoamérica, quizás con alguna competencia en el mundo anglosajón. Se trata para empezar, de la reedición de años de trabajo de una revista científica internacional, arbitrada e indexada con sede en la Universidad de Costa Rica, la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC+). Es de destacar la selección y actualización de artículos bajo ejes temáticos, la traducción de textos publicados en otros idiomas, además del diseño y las gestiones propias de la labor editorial, a cargo de Ricardo Martínez Esquivel, Yván Pozuelo Andrés y Rogelio Aragón.
Quizás una de las principales aportaciones de la serie, es el desmonte de mitos históricos, teorías de la conspiración, aclaración de información errónea o incluso, de las leyendas propaladas por las propias logias alrededor del mundo. Por supuesto, también se observan las aportaciones de la francmasonería en diversos ámbitos o mejor dicho, de algunos y algunas de sus integrantes, como parte fundamental en la transición del antiguo al nuevo régimen; aunque también este orden de carácter iniciático pueda entenderse más bien como un fenómeno paralelo o consecuencia de la modernidad.
Aunque quisiéramos, no disponemos del espacio para comentar los 44 artículos de la serie, además de las introducciones a cada libro, hechas por un colaborador diferente, que por sí mismas también revisten aportaciones adicionales. Así pues, señalaremos algunas de las aportaciones de cada ejemplar, con la advertencia de que en ocasiones se trata de verdaderos spoilers del contenido, lo que esperamos también sea una invitación para adquirirlos y leerlos.
Así pues, en el tomo I, Migraciones, señala José Antonio Ferrer Benimeli, que la promulgación de la Constitución de Cádiz consumó la invención del mito masónico-liberal, donde, pro-franceses, radicales, etc., se constituyeron en enemigos del trono y el altar. Señala el decano de la investigación masónica:
En este tránsito del antiguo al nuevo régimen, del absolutismo al liberalismo, de la tradición al reformismo o a la modernidad, el espacio masónico cobró una inusitada importancia a ambos lados del Atlántico cuando en realidad hoy día nos replanteamos el protagonismo que en gran parte está todavía por demostrar.3
En ese mismo sentido, el investigador español califica como leyenda la pertenencia a la masonería de la mayor parte de los próceres independentistas de América, incluyendo México, surgida en parte por la propaganda inicial anti-insurgente, como la citada por él en la Contestación del fray José Ximeno, del colegio de crucíferos de Querétero, al manifiesto del señor Hidalgo del año 1811, donde se acusa a Hidalgo de haber recibido de sus “hermanos los francmasones” la “perniciosa” idea de la igualdad que disolvía las diferencias que daban orden a la sociedad y generaban la anarquía, de donde concluía que Hildago era o libertino, o materialista, o apóstata de la religión, o todo junto, y por lo tanto francmasón como Napoleón, su amo.4
Por su parte, María Eugenia Vázquez Semadeni, en “Del mar a la política. Masonería en Nueva España/México, 1816-1823”, coincide en que no está demostrada la existencia de logias masónicas en el siglo XVIII en el actual territorio mexicano, además de cuestionar el mito fundacional de la masonería mexicana con el relato de la logia en la calle de las Ratas en la capital novohispana en 1806.5 Empero, documenta la existencia de talleres masónicos en Luisiana en 1793 con apoyo francés y norteamericano, aunque posteriormente este territorio es devuelto a Francia, quien lo vende a Estados Unidos. Luego refiere que surgida una gran logia en el nuevo estado del vecino país, otorga carta patente para fundar logias en Veracruz en 1816, al año siguiente en Campeche y en 1820 en Yucatán.6
En cuanto al tomo II, Silencios, abre magistralmente con el artículo de Vázquez Semadeni, “La teoría de la conspiración masónica en Nueva España/México, 1738-1949”, que parte de la idea de los detractores de esta forma de sociabilidad en el sentido de que existe un plan masónico para dominar el mundo. Nos dice la autora:
La teoría de la conspiración puede definirse como la creencia de que una organización formada por individuos o grupos actúa subrepticiamente para alcanzar un fin malévolo. En un sentido más amplio, las teorías de la conspiración consideran que la historia está controlada por fuerza malignas o incluso demoniacas.7
Explica la masonóloga que estas especulaciones generalmente están vinculadas a la Iglesia católica, gobiernos monárquicos y grupos conservadores. Otro de los asuntos que alentó la teoría de la conspiración, aún vigente para los no historiadores de profesión, es la liga de algunos insurgentes con sociedades secretas como la de los “Caballeros racionales”, cuyas ramificaciones desde Sudamérica fueron descubiertas en México, pero que los investigadores desestiman como masonería.
Por su parte, Felipe Santiago del Solar, en “Secreto y sociedades secretas en el mundo hispánico en la crisis del antiguo régimen”,8 clarifica algunas de las “leyendas negras” sobre la masonería, como lo relacionado con los “Iluminados de Baviera” o las logias “Lautaro”, que si bien, usaban estructuras y métodos similares a la masonería, perseguían otros fines, políticos o revolucionarios.
El tercer tomo reviste particular interés para los estudiosos de la literatura, la música y las creaciones visuales, pues está dedicado a las Artes. Por ejemplo, Andrew Pink, en “‘Cuando cantan’: la interpretación de canciones en las logias inglesas del siglo XVIII”, aborda el uso informal y ceremonial de la música en los talleres masónicos.9 En temas conexos se encuentran los artículos “Y la lira volvió a sonar: breve estudio sobre las relaciones semánticas entre música y masonería” de Fernando Anaya Gámez;10 y “La tercera columna: la música como herramienta mediática de la masonería en la Venezuela del siglo XIX” de Juan de Dios López Maya.11
David Marín López, en “Arte y masonería: consideraciones metodológicas para su estudio”,12 plantea un concepto de trabajo para analizar las creaciones artísticas vinculadas con la masonería. Se trata el de “estética masónica”, aunque se trata de una categoría relativamente debatible. Empero, constituye un ensayo que da pauta a la creación de un modelo de interpretación, que necesariamente tendrá que ir de la mano una contextualización de los realizadores, los comitentes, los usos, etc.
Un texto de gran erudición es “La masonería en la literatura. Una panorámica general” de José Antonio Ferrer Benimeli,13 que, en términos sintéticos, enlista una considerable cantidad de títulos y autores, que el propia autor clasifica en cuatro apartados:
- Literatos de renombre que al mismo tiempo fueron masones pero no reflejan directamente su compromiso con la masonería en sus escritos literarios.
- Masones que sí manifiestan su dualismo masónico-literario.
- Estudios críticos sobre dichos autores y sus obras.
- Autores no masones que aluden a la masonería en sus obras y que incluso la elevan a categoría de protagonista.14
Por cierto, podríamos incluir en la categoría tercera, aunque se trate de un texto académico, el de Yván Pozuelo Andrés, quien en “Kipling y su sorprendente primera novela”,15 analiza la obra El Hombre que quiso ser Rey, quizás más conocida por su versión cinematográfica con el actor Sean Connery como protagonista. En el artículo, el investigador español aborda la biografía del escritor indio, sus escritos relacionados con la masonería, e incluso, el debate si trabajos como El libro de la selva, tienen un trasfondo masónico, que él descarta, pero que otros investigadores sí observamos, como el paralelismo entre el perfil de algunos personajes y los grados de la masonería simbólica (aprendiz, compañero y maestro).
El cuarto tomo, Exclusión, tiene como principal enfoque el estudio histórico de la masonería desde el género. Como dice el autor del texto introductorio, Guillermo de los Reyes, “la integración de las mujeres en la sociabilidad masónica creo un gran conflicto con la intolerancia de ciertas masonerías, particularmente las de tradición anglosajona”, que permanece y que podría definirse como “tolerante intolerante” o “fraternidad sin sororidad”.16
De este mismo investigador de la Universidad de Houston, escrito junto con Paul J. Rich, extraigo un fragmento de su texto “Problemática racial, de sexualidad y de género: encrucijadas de la masonería norteamericana en el siglo XXI”, que proporciona referencias de la existencia de mujeres masonas antes de la fecha emblemática de 1717, que se tiene como el punto de inicio de la masonería moderna, inglesa y masculina:
Existe un registro de 1408 en el que los masones que acababan de ser invitados juraban obediencia al “maestre o dama o cualquier otro masón dirigente”. En los registros de la logia de la capilla de María de Edimburgo, con fecha de 1683, la logia estaba presidida por una dama o señora. Los registros de la Gran Logia de York en 1693 hablan acerca de iniciados masculinos y femeninos.17
Adicionalmente, este tomo resulta de gran interés por las aportaciones de investigadoras de varias universidades del mundo, que llevan a desmontar la visión de una predominancia masculina en la sociabilidad de estudio. Aquí viene perfectamente al caso una cita de Maria Deraismes, fundadora de la gran logia francesa mixta “Le Droit Humaine” (El Derecho Humano). Ante la pregunta en su iniciación en 1882, ¿cuál es vuestro objetivo al entrar en la francmasonería?, respondió: “…poner fin al prejuicio que ha excluido a las mujeres, pues tengo el firme espíritu de que gracias a su admisión podrá complementarse en el seno de las logias una obra de mejora general de las conciencias”.18
Por último, con respecto al tomo V, Cosmopolitismo. La introducción de este número a cargo de Ricardo Martínez Esquivel, posee un tono un tanto irónico y nostálgico de la cultura popular, que no se contrapone al rigor académico de la historia. El también director de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña de la Universidad de Costa Rica, nos recuerda los imaginarios mediáticos que nos remiten a la práctica masónica, como la hermandad de los “búfalos mojados” en los Picapiedra, la logia de los “magios” (stonecutters) en los Simpson, donde Homero, el famoso personaje de la icónica serie, es iniciado; o el rito de los “cefalópodos” en Bob Esponja, a los que se podrían añadir más ejemplos no mencionados, tanto de cartoons clásicos, como de emisiones contemporáneas de dibujos animados, con amplia audiencia.
La masonería es un fenómeno global, que se extendió a muchas latitudes del mundo desde su institucionalización en el Londres de 1717. Así, Margaret C. Jacob, en “La ilustración radical y la masonería”,19 comenta el detonante de la emigración protestante a Inglaterra y Holanda, por la intolerancia religiosa francesa y otros países católicos, así como los escritos y prácticas producidos en ese contexto. Quizá haya que mencionar que los redactores de las Constituciones de los Francmasones en 1723, James Anderson y Jean Théophile Désaguliers, eran precisamente protestantes.
Pierre-Yves Beaurepaire, en “Sociabilidad y masonería. Propuestas para una historia de las prácticas sociales y culturales en el siglo de las luces”,20 plantea un estudio de la masonería desde las prácticas de sus miembros, basado en teóricos como Maurice Agulhon, George Simmel, Jürgen Habermas y otros, que ven en los masones a nuevas formas de convivencia en la sociedad burguesa europeas.
Jessica Harland-Jacobs, en “Fraternidad global: masonería, imperios y globalización”,21 reflexiona sobre la rápida expansión que tuvo la masonería especulativa moderna, y cómo esta fue un factor del fenómeno que ahora conocemos como globalización, incluyendo la construcción de redes internacionales, el uso de cartas de presentación que se convirtieron en el antecedente del pasaporte, y otras cuestiones aparejadas a las prácticas comerciales, de colonialismo y militares.
Ricardo Martínez Esquivel, en “Imperialismos, masones y masonerías en China (1842-1911),”22 realizó un detallada análisis sobre la implantación de la sociabilidad masónica en el país asiático. Esta temática se vincula con la emergencia de algunas logias de inmigrantes chinos en países como México y los Estados Unidos de América, asunto del que recientemente ha surgido evidencia documental de gran interés y que con certeza dará lugar a nuevas investigaciones y escritos.
El artículo con el que cierra el tomo V es por demás interesante, Andrew Prescott, con “En busca del Apple Tree: una revisión de los primeros años de la masonería inglesa”,23 pone en entredicho la fecha fundacional de la institución teóricamente tricentenaria, para ubicarla con mayor probabilidad en 1821, ello a partir de la búsqueda de la famosa taberna donde se celebró la primera reunión de la Gran Logia de Londres, así como de las biografías y testimonios de la época.
La serie bibliográfica 300 años: Masonerías y masones (1717-2017), además de un lenguaje accesible, integra en cada número una sección iconográfica y fotográfica, con imágenes que complementan a la perfección los temas vertidos en sus páginas, además de brindar elementos para continuar con la indagación sobre la historia de la masonería.
Adicionalmente, para las personas interesadas en el estudio histórico del fenómeno masónico, se presentan entreveradas en los escritos, las pautas teórico-metodológicas que se siguieron para lograr los productos académicos de alta calidad. En algunos casos, se invita a proseguir con trabajos multi o transdisciplinarios, como la “lectura” o interpretación de objetos decorativos o parafernalia masónica en la reconstrucción de un momento específico en la vida de una logia, o incluso, en la biografía de un iniciado.
En la lectura anticipamos polémica, sorpresas, erudición y claro, disfrute intelectual. Con certeza, algunas versiones contenidas en las páginas de la serie conmemorativa no gustarán a las personas iniciadas en algún rito masónico o incluso, de los “altos cuerpos” de algunas obediencias, como tampoco serán del aprecio de los todavía existentes detractores de esta sociabilidad. En todo caso, creo que serán valoradas por las y los amantes de la verdad histórica, que nunca deja de estar en construcción.
Notas
1 Ricardo Martínez Esquivel, Yván Pozuelo Andrés y Rogelio Aragón (editores). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017) (México: Palabra de Clío, 2017 y 2018).
2 Pueden descargase gratuitamente en: www.palabradeclio.com.mx
3 José Antonio Ferrer Benimeli, “Utopía y realidad del liberalismo masónico. De las cortes de Cádiz a la Independencia de México”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo I, Migraciones (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 12-13.
4 Ferrer, “Utopía y realidad…”, p. 21.
5 María Eugenia Vázquez Semadeni, “Del mar a la política. Masonería en Nueva España/México, 1816-1823”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo I, Migraciones (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 128-130.
6 Vázquez, “Del mar a la política”, pp. 131-133.
7 María Eugenia Vázquez Semadeni, “La teoría de la conspiración masónica en Nueva España/México, 1738-1949”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo II, Silencios (México: Palabra de Clío, 2017), p. 9.
8 Felipe Santiago del Solar, Secreto y sociedades secretas en el mundo hispánico en la crisis del antiguo régimen”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo II, Silencios (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 150-167.
9 Andrew Pink, “‘Cuando cantan’: la interpretación de canciones en las logias inglesas del siglo XVIII”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 9-18.
10 Fernando Anaya Gámez, “Y la lira volvió a sonar: breve estudio sobre las relaciones semánticas entre música y masonería”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 19-39.
11 Juan de Dios López Maya, “La tercera columna: la música como herramienta mediática de la masonería en la Venezuela del siglo XIX”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 40-60.
12 David Marín López, “Arte y masonería: consideraciones metodológicas para su estudio”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 71-84.
13 José Antonio Ferrer Benimeli, “La masonería en la literatura. Una panorámica general”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 110-128.
14 Ferrer, “La masonería en la literatura”, p. 128.
15 Yván Pozuelo Andrés, “Kipling y su sorprendente primera novela”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 129-157.
18 María José Lacalzada de Mateo, citada en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo IV, Exclusión (México: Palabra de Clío, 2017), p. 90.
19 Margaret C. Jacob, “La ilustración radical y la masonería”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo V, Cosmopolitismo (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 9-21.
20 Pierre-Yves Beaurepaire, en “Sociabilidad y masonería. Propuestas para una historia de las prácticas sociales y culturales en el siglo de las luces”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo V, Cosmopolitismo (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 22-30.
21 Jessica Harland-Jacobs, “Fraternidad global: masonería, imperios y globalización”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo V, Cosmopolitismo (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 65-81.
22 Ricardo Martínez Esquivel, “Imperialismos, masones y masonerías en China (1842-1911)”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo V, Cosmopolitismo (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 94-119.
23 Andrew Prescott, “En busca del Apple Tree: una revisión de los primeros años de la masonería inglesa”, 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo V, Cosmopolitismo (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 168-191.
Marco Antonio García Robles – Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. E-mail: marcogarciarobles@gmail.com
A Malinche dos cronistas – JOSÉ (FH)
JOSÉ, Maria Emília Granduque. A Malinche dos cronistas. Curitiba: Editora Prismas, 2016. 158 p. Resenha de: SILVA, Rodrigo Henrique Ferreira da. A Malinche do Século XVI. Faces da História, Assis, v.5, n.2, p.316-321, jul.dez., 2018.
A utilização da crônica e de outros textos semelhantes é de suma importância para os estudos coloniais sobre a América. O uso de tais documentos é um campo aberto que começou a ter mais atenção no Brasil nas duas últimas décadas. Além das fontes de arquivos e cultura material, os trabalhos sobre o período colonial se enriquecem com as crônicas, pois cada espaço do continente americano teve seus próprios cronistas, desde os primeiros contatos entre europeus e indígenas, passando pelo processo de conquista, colonização e catequese. A obra aqui resenhada, A Malinche dos cronistas, da historiadora Maria Emília Granduque José, insere-se nesse crescimento de pesquisas que tomam por corpus documental essas crônicas.
A proposta do livro visa preencher uma lacuna em relação aos estudos da história da conquista espanhola sobre as populações indígenas astecas, entre os anos de 1519 e 1521, no atual território do México. Diante dos atores desse evento, uma das personagens destacou-se entre os próprios pares e foi reinterpretada durante longo tempo na historiografia dedicada à conquista espanhola. Trata-se de Malinche, uma índia intérprete que se envolveu e participou desse momento da conquista.
Ao tratá-la como principal objeto de pesquisa, Maria Emília José tem por objetivo consultar os relatos que versam sobre a conquista espanhola do México para analisar o que os próprios cronistas narraram sobre a indígena e qual a imagem que esses homens produziram dela em seus textos escritos no século XVI. Dito isso, a intenção da autora não é propor a busca de um retrato mais verdadeiro, mas sim, analisar a perspectiva desses diferentes cronistas na própria época da conquista, o que não significa ser um registro mais confiável sobre a Malinche em relação aos documentos de séculos posteriores. O estudo em questão contribui no preenchimento da lacuna do tema abordado e, mais especificamente, a participação da Malinche nesse evento. “Saber o que esses cronistas disseram sobre ela é saber um pouco mais sobre o encontro dos espanhóis com os nativos mexicanos e, assim, sobre a conquista do império de Montezuma […]” (JOSÉ, 2016, p. 85).
O livro é composto por uma apresentação, duas partes com quatro tópicos na primeira e sete na segunda, além de um prefácio escrito pelo historiador Leandro Karnal, e palavras finais. É na apresentação e nas palavras finais que a proposta da historiadora justifica-se ao cotejar as correntes do pensamento mexicano mais expressivas dos séculos XIX e XX, que, inclusive, são bem distantes das construídas pelos contemporâneos quinhentistas, mesmo em relação à representação de Malinche.
A primeira delas refere-se ao discurso nacionalista dos primórdios da independência do país, na primeira metade do século XIX. Na intenção de estabelecer uma identidade mexicana, tais autores releram essas crônicas e consideraram a indígena como a grande culpada pela queda do império asteca ao colaborar com Cortés e seus soldados espanhóis e a consequente situação colonial do México. Com isso, nas obras de temática indigenista, “Malinche aparece como uma anti-heroína que vende seu povo aos invasores externos durante a conquista espanhola […]” (JOSÉ, 2016, p. 147). Ou, como afirma Karnal no prefácio da obra, ela seria uma personalidade contraditória por não ter desenvolvido a “consciência étnica”, um conceito europeu e essencialista no sentido de nação de indígena do Oitocentos. Se a intérprete é personificada como um símbolo de traição à pátria, os expoentes do nacionalismo buscam nos governantes astecas – como Cuauhtemoc – a expressão do herói nacional para representar os mexicanos contra os invasores espanhóis.
No entanto, podemos identificar, ainda nos séculos XIX e XX, o enfoque hispanista, que buscou, na escrita, a construção de uma imagem positiva da Malinche ao destacá-la como uma das figuras mais importantes da conquista, sendo esta um feito benéfico na formação de toda a estrutura social e política do México. Além disso, “Malinche aparece, nessa versão, como uma valiosa colaboradora para a obra religiosa e civilizacional promovida pelos conquistadores” (JOSÉ, 2016, p. 148). Por fim, existe uma terceira corrente, a mestiça, que busca conciliar o elemento indígena e espanhol ao usar a mestiçagem como um fator de coesão da nação mexicana. Logo, a intérprete é lida como a “madre da pátria” por gerar o primeiro mestiço mexicano, fruto de sua relação com Cortés, e simbolizar a união do espanhol com o indígena.
Os autores oitocentistas e novecentistas que se propuseram a analisar a figura da Malinche partiram das crônicas quinhentistas para ampararem suas teses e desenvolverem as variadas interpretações da índia, de acordo com seus contextos históricos. Entretanto, Matthew Restall aponta que “quase todos esses elementos são muito reveladores da história mexicana moderna – mas não da Conquista em si […]” (RESTALL, 2006, p. 157), o que faz com que Maria Emília José busque nesses mesmos homens do século XVI os seus relatos sobre a Malinche. São eles: os próprios soldados do momento da conquista, Hernán Cortés e Bernal Díaz; Francisco de Gómara, em 1552; o religioso Bernardino de Sahagún, em 1575; e também os cronistas mestiços Diego Munhoz Camargo, durante 1584-1585, e Alvarado Tezozomoc, em 1598.
Ao verificar nesses diversos textos as informações transmitidas sobre a Malinche, a historiadora sustenta em seu livro uma tese de que os escritos dos cronistas não são coincidentes no que se refere à origem, ao modo como a intérprete chegou até Cortés e ao seu desfecho após o término da conquista aqui retratada, até pelo fato desses homens partirem de lugares diferentes no registro de suas narrativas, já que há crônicas de conteúdos religiosos e outras mais apegadas a questões militares. Por outro lado, a autora mostra na obra que “as impressões legadas por esses narradores acerca da personagem são formadas muito mais por semelhanças do que diferenças” (JOSÉ, 2016, p. 20), e mesmo no caso dos cronistas mestiços, as anotações são equivalentes às dos espanhóis e “suas opiniões acabam se complementando, ou melhor, ajudam a construir uma mesma imagem da parceira de Cortés” (JOSÉ, 2016, p. 21).
Como dito anteriormente, o livro se estrutura em duas partes. Ao considerar o documento da crônica como um suporte textual para armazenar o registro do encontro entre espanhóis e indígenas e as percepções da Malinche, a proposta da primeira parte concentra-se na discussão do processo de formação dessas narrativas, o gênero cronístico e seus autores; mais adiante, analisam-se os motivos e razões da escrita dos textos, levando em consideração os propósitos e interesses pessoais de cada cronista e as leituras e ideias compartilhadas na época que orientaram os olhares sobre os acontecimentos.
A historiografia atual da escrita da crônica segue um caráter inter ou transcultural da produção histórica, devido à suposta dificuldade em generalizar a obra como sendo espanhola, indígena ou mestiça em sentido étnico; ou seja, a produção cronística não necessariamente representa a origem étnica de seu autor, pois cada texto é visto como interlocução particular de um contexto específico, da interação entre tradições distintas e a disposição de diferentes opções e possibilidades segundo o público alvo. Um cronista pode ser indígena de origem, mas socialmente pode pertencer a qualquer grupo pelo fluxo e refluxo constante de informações e ideias; tudo procede das configurações culturais resultantes da produção de significações por interesses, alianças e cumplicidades (LEVIN ROJO; NAVARRETE; INOUE OKUBO, 2007). Como afirma Inoue Okubo, na discussão epistemológica, pode-se reconhecer as três denominações – espanhóis, índios e mestiços – como provisórias apenas para facilitar a compreensão, mas nunca como absolutas. Essa é a linha historiográfica que Maria Emília José segue ao tratar da questão da crônica e dos homens quinhentistas que utiliza como exemplos: Sahagún é um espanhol religioso que usou elementos indígenas para conhecer o passado mexica; Muñoz Camargo é um mestiço que se valeu de elementos europeus na narrativa sobre Tlaxcala. “Ambos os relatos foram o resultado de uma interação cultural nascida do contexto histórico em comum, vivenciado e atuado tanto por indígenas quanto por espanhóis” (JOSÉ, 2016, p. 39).
“A especificidade dos autores envolvidos com essa escrita também configura uma característica dessas crônicas” (JOSÉ, 2016, p. 39). Seus propósitos pessoais em registrar um texto que reafirme seus interesses na América estão interligados, segundo a autora, com o próprio contexto histórico do período: são homens renascentistas em busca de honrarias (valores caros no mundo ibérico), glórias, fama, títulos e todo tipo de recompensas do rei a fim de eternizarem seus nomes na história e servirem de exemplos para as gerações futuras. O renascimento, especialmente o espanhol, coloca em tensão as hipóteses dos antigos gregos com a nova realidade americana. As referências dos cronistas ainda se respaldam nos clássicos antigos e medievais,2 mas algumas teses consolidadas são contestadas pelos seus novos feitos com as navegações e descobertas marítimas; conhecimentos que os povos antigos não obtiveram. Com isso, era preciso igualar os antigos e superá-los com os novos conteúdos e feitos, o que justifica as constantes disputas envolvendo os diferentes pontos de vista defendidos pelos cronistas acerca das novidades. “É dessa forma, pois, que o afã por escrever um texto inovador ou produzir uma obra única caracterizou o cronista espanhol desse contexto” (JOSÉ, 2016, p. 46-47).
Outra referência fundamental e talvez a mais expressiva entre elas, é a premissa religiosa bíblica que conduziu as visões e os olhares desses homens dentro de uma concepção providencialista do mundo.
“Como se vê, o tom pessoal do cronista teve um peso considerável no momento da escrita, de modo que a necessidade de se inserir na história da conquista o fez criar outra ordem para os eventos” (JOSÉ, 2016, p. 76). Com toda a discussão feita em torno da produção cronística, Maria Emília José adentra na segunda parte do livro e analisa a construção da memória dos atores da conquista pela crônica, enfaticamente a Malinche, como foi vista por esses cronistas do século XVI e retratada em seus supracitados relatos.
A história da conquista dos povos astecas pelos espanhóis e outros aliados indígenas foi marcada pelo problema da comunicação. Para que Cortés e seus soldados conseguissem dialogar com os diversos nativos foi preciso a colaboração de intérpretes que entendessem as várias línguas em contato, como o maia, o náhuatl e outros dialetos locais, além do castelhano. Alguns índios capturados por guerra costumavam burlar e distorcer as informações aos espanhóis por animosidade e os induziam ao erro, sendo, com isso, ocultados das crônicas. Entretanto, as exceções foram os intérpretes Aguilar e, principalmente, a Malinche, lembrada em muitos relatos da conquista, mesmo que de forma limitada. É por essa peculiaridade percebida nas crônicas e por outros pontos notáveis revelados pelos cronistas que motivou a autora a estudar seu objeto de pesquisa: o olhar construído sobre a Malinche na própria época dos Quinhentos.
Malinche teria sido enviada de presente junto a outras dezenove mulheres aos espanhóis pelos índios de Tabasco como recompensa por perder a guerra,3 com a intenção de servi-los nos afazeres domésticos, sendo batizadas e repartidas entre os melhores soldados. As mulheres pertencentes à linhagem nobre, normalmente filhas dos senhores principais, eram entregues com a finalidade de se tornarem esposas dos novos aliados – o caso de Malinche –, e as demais, sendo escravas, deveriam servir em diferentes funções a seus novos donos. Há divergências das narrativas sobre o local de origem de Malinche e o modo como foi entregue aos índios de Tabasco, mas, todas em geral reconhecem sua condição que passou por diversas províncias até chegar a Tabasco. Os cronistas Bernal Díaz e Gómara sugerem que o conhecimento linguístico de Malinche se deve à convivência com diferentes grupos durante os anos em que foi tratada como escrava por essas outras populações, o que pode ter contribuído para o aprendizado das línguas faladas na região e que permitiram a comunicação com boa parte dos nativos, e com os hispânicos, posteriormente.
O aparecimento de Malinche foi importante para intermediar os diálogos que serviram de negociações de alianças com os senhores de Tlaxcala e o contato entre Cortés e Montezuma, agindo em benefício dos conquistadores por julgar adequado para os seus objetivos, ao contrário de outros índios intérpretes. O respeito e admiração conquistados faz com que Malinche seja vista como a “lengua de Cortés” e alcance uma posição de destaque entre os espanhóis: é reconhecida como senhora nobre e exemplar, sendo até chamada de “doña Marina”.4 Toda essa “ponte comunicativa” possibilitada pelas habilidades linguísticas e persuasivas de Malinche a coloca como uma típica faraute, a intérprete responsável pelo trânsito das mensagens.
Talvez por isso nossa personagem tenha ganhado certo destaque nas crônicas […]. A tarefa exercida de intermediar a comunicação entre tais culturas distantes, a partir da constituição de uma fala comum a ambas, pode ser percebida nas páginas escritas pelos diferentes testemunhos da conquista.
É uma imagem construída tanto pelas crônicas aqui consultadas como pelos códices indígenas produzidos nessa época, especialmente o Códice Florentino, que traz cenas de Malinche em pé, à frente dos conquistadores, negociando pontualmente com os naturais (JOSÉ, 2016, p. 120).
Diante dessas situações, Maria Emília José afirma a boa imagem de Malinche nas crônicas quinhentistas, tendo seu lugar nos discursos realizados durante a conquista e nas décadas posteriores. Mesmo com a divergência de informações no que se refere a algumas particularidades de Malinche, seja pelos distintos interesses desses narradores com a escrita, seja pelo confronto de dados sobre a personagem, “[…] não alterou, no entanto, o consenso entre os cronistas sobre a sua relevante contribuição como tradutora nos diálogos estabelecidos durante a conquista” (JOSÉ, 2016, p. 141). Portanto, uma imagem da Malinche como figura central na comunicação e papel protagonista desse evento histórico, mesmo com poucas menções; bem diferente das visões historiográficas posteriores mencionadas no início da resenha.
O livro de Maria Emília José traz grande contribuição para os estudos da história da conquista, pois trata sistematicamente de uma personagem histórica indispensável para os sucessos dos espanhóis e aliados indígenas, e como a índia intérprete foi retratada por um seleto grupo de cronistas do século XVI – uma importante lacuna que necessitava ser preenchida. A autora também se propõe a analisar as representações históricas de Malinche na historiografia moderna mexicana, com destaque às correntes nacionalista, hispânica e mestiça. A obra também possibilita pensar outras questões da conquista no que se refere à participação da Malinche inclusive no campo de estudos sobre gênero, atualmente em expansão na área de estudos históricos.
Notas
2 Maria Emília José menciona as que seriam as principais referências que amparam a escrita dos homens quinhentistas: a busca pelas maravilhas do Oriente relatadas por Marco Polo e Mandeville; os mitos antigos dos antepassados, como o das guerreiras Amazonas e a terra dos Gigantes; a literatura cavalheiresca, responsável por ensinar os modos e condutas de agir dos heróis para buscar a honra e a glória.
3 A doação de mulheres era uma prática comum entre os nativos em situação de guerra, tanto para estabelecer alianças com os adversários como para estreitar laços de amizade.
4 É importante ressaltar que Malinche passa a ser chamada de Marina após receber o batismo cristão.
Já a expressão “doña” possuía um grande peso social por ter origem nobre ou ter prestígio reconhecido.
Referências
INOUE OKUBO, Yukitaka. Crónicas indígenas: una reconsideración sobre la historiografia novohispana temprana. In: LEVIN ROJO, Danna; NAVARRETE LINARES, Federico (Orgs.). Indios, mestizos y españoles: Interculturalidad e historiografia en la Nueva España. México: Universidad Autónoma Metropolitana & IIH – UNAM, 2007. p.55-96.
JOSÉ, Maria Emília Granduque. A Malinche dos cronistas. Curitiba: Editora Prismas, 2016.
RESTALL, Matthew. As palavras perdidas de La Malinche: o mito da (falha na) comunicação. In: RESTALL, Matthew. Sete mitos da conquista espanhola. Trad. Cristiana de Assis Serra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
Rodrigo Henrique Ferreira da Silva – Doutorando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr.Luiz Estevam de Oliveira Fernandes. E-mail: silvarhf@gmail.com.
[IF]Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal | Gilberto Freyre
Gilberto Freyre, autor da obra a qual é objeto de análise do presente trabalho, era graduado em Ciências Sociais e Artes nos Estados Unidos. Ficou muito conhecido, no Brasil e no mundo, após escrever Casa Grande & Senzala, publicado em 1933, razão de algumas inovações que a obra trouxe para campos das ciências humanas como a antropologia, sociologia e a história1. A pesquisa que originou a obra Casa Grande & Senzala iniciou em Lisboa, no ano de 1930. Depois de o autor estabelecer-se por um tempo na Bahia, conhecer parte do continente africano (Dacar e Senegal), e rumar para Lisboa.
O caráter inovador que Casa Grande & Senzala detinha dentro do campo historiográfico resultou da análise de alguns tipos de fonte que Freyre utilizou para compor sua obra. Tais fontes não eram utilizadas anteriormente por historiadores no Brasil. Algumas fontes empregadas por Freyre em sua obra são: manuscritos; documentos oficiais (guias e almanaques regionais, diários oficiais, publicações de prefeituras); e pessoais (diários de senhores de engenho, álbuns de famílias); litogravuras; fotografias; mapas; plantas de casas e engenhos; – entre outros documentos oficiais que teve acesso em arquivos nacionais lusos e brasileiros. O conhecimento adquirido através de entrevistas e conversas sobre o cotidiano dos brasileiros durante o período pesquisado auxiliou o autor durante a escrita de sua obra. Explorou muito bem os materiais os quais teve acesso, e modificou a historiografia brasileira ao utilizar a oralidade como fonte histórica. Leia Mais
Donne ai margini. Tre vite del XVII secolo – DAVIS (BC)
DAVIS, Natalie Zemon. Donne ai margini. Tre vite del XVII secolo. Bari: Laterza, 1996. 372p. Resenha de: COCILOVO, Cristina. Il Bollettino di Clio, n.9, p.70-72, feb., 2018.
Tre donne introdotte da un’intervista impossibile, che le costringe a prender vita in un libro e a confrontarsi, loro così lontane nella religione (rispettivamente ebraica, cattolica, luterana). Ma al dunque, grazie alla caparbietà dell’autrice Natalie Zemon Davis, riescono nella simulazione a trovare il fondamento della loro identità comune: l’affermazione della loro autonomia, del loro talento, della loro intraprendenza. Eccezionale per un’epoca caratterizzata dal “silenzio” delle donne, dall’assenza di loro tracce, nella ricostruzione selettiva della storiografia ufficiale.
Glikl Bas Yehudah Leib, ebrea askenazita cioè di origine tedesca, a differenza delle altre donne del suo tempo non disdegna il lavoro. Nonostante una numerosa famiglia, collabora con l’attività dell’amato marito, commerciante di gioielli e prestatore di denaro, che a seconda del momento può portare a vistosi arricchimenti come a repentine rovine. Glikl non dà al denaro valore in sé. Non desidera vivere nel lusso. Come la maggior parte degli ebrei abita in una casa d’affitto, non potendo per legge possedere proprietà. Per lei il valore assoluto è l’onore, l’essere considerata degna di rispetto, lei come la sua famiglia. Sappiamo tutto questo da una autobiografia articolata in ben sette libri, in cui Glikl alterna la narrazione della sua vita a vere e proprie parabole, che hanno lo scopo di far comprendere i valori positivi della solidarietà, dell’amore, il senso della sofferenza. Una donna di grande cultura teologica e tecnico – commerciale, rispettata per la sua acutezza nel gestire questioni finanziarie e insieme profondamente religiosa e giusta. Sebbene lei e la sua famiglia abbiano talvolta subito le conseguenze di persecuzioni antiebraiche, che li costringono a trasferimenti forzati, accetta la sofferenza, mai si ribella a Dio che muto e immobile non interviene. Semmai lo interroga e con rassegnata accettazione e cerca di ricominciare ex novo.
Marie de l’Incarnation, se si può considerare per il nostro tempo personaggio singolare, per non dire psichicamente disturbato, è invece perfettamente inquadrabile nell’epoca della Controriforma. Ispirata fin da giovane dalla vocazione divina, trascorre la vita secondo due passioni apparentemente poco conciliabili: un forte trasporto per la vita mistica e una spiccata capacità organizzativa del quotidiano. Divenuta vedova precocemente, percepisce il potente richiamo del misticismo come altre “sante” dell’epoca, che trasfigurano in estasi religiosa le pulsioni del proprio corpo, ma nel contempo gestisce con molta maestria, quasi con piglio imprenditoriale, l’azienda commerciale della sorella e del cognato, che la ospitano insieme al figlioletto. Per il resto della sua vita vivrà questa difficile dicotomia. A circa trent’anni decide di prendere i voti come suor Orsolina, separandosi dal figlio adolescente e disperato. Vive in clausura, mortificando con sofferenze fisiche il suo corpo secondo l’esempio di Teresa d’Avila, finché non ha l’occasione di poter educare al pensiero cristiano i “selvaggi” del Nuovo Mondo. Si trasferisce in Canada, dove lavora con efficientismo invidiabile nelle difficili condizioni di una Missione delle suore Orsoline. Qui lei, che rifiutava il suo corpo, si accosta alla corporeità degli altri e tocca, cura, pulisce, insegna, impara le lingue locali, converte indios in un’opera pastorale a tutto campo. Soprattutto ha una ultra decennale corrispondenza con il figlio Claude, che a sua volta aveva preso i voti, e scrive testi religiosi per le genti locali nella loro lingua e scrive anche la sua autobiografia. Il figlio raccoglierà con devozione gli scritti della madre, ma li correggerà adattandone il linguaggio ingenuo allo stile sospettoso della Chiesa dell’epoca, per pubblicarli in un’opera postuma, “Vie”, dove però non inserisce gli scritti teologici di Marie in lingua irochese, algonchina e urone, utilizzati nella sua azione pastorale in Quebec.
Nonostante gli attacchi di misticismo e autoflagellazione, Marie ha un aspetto che la avvicina alla nostra sensibilità, per la relazione che ha creato con i “selvaggi”. Il suo scopo non è quello di emarginarli, ma di includerli nel mondo dei cristiani, in una visione universalistica, secondo cui non esiste differenza fra esseri umani, se questi abbracciano la parola di Cristo. Marie, mentre cerca di convertirli, educa gli indios al rispetto dell’igiene, della lettura e della scrittura. Qualora essi fuggano per l’innato desiderio di libertà di vivere nella natura, lontano da un convento di clausura, Marie li comprende e li perdona, riscoprendo il ruolo di madre generosa, che non aveva saputo assumere con il figlio al momento dell’abbandono.
Maria Sibylla Merian, luterana, originaria di Francoforte, figlia d’arte di un famoso incisore, non visse una vita familiare e borghese, come le sue condizioni le consentivano, allineandosi così alle stranezze delle altre due donne del libro. Si trasferì nel corso della vita in diversi luoghi, in seguito a scelte di vita radicali. La sua vita si potrebbe definire una metamorfosi, mimando il titolo della sua opera più famosa “Metamorfosi degli insetti del Suriname”, una raccolta di incisioni artistico-scientifiche che rappresentano la stupefacente natura tropicale. Acquisita fin da giovane una certa notorietà, grazie al suo talento di incisore1, diventa famosa dopo la pubblicazione nel 1679 del libro in due volumi “I bruchi. Le meravigliose metamorfosi dei bruchi“, in cui affianca a un centinaio di splendide incisioni di bruchi e insetti, descrizioni basate sulle sensazioni soggettive provate nell’osservazione degli aspetti naturali. Nell’organizzazione dei libri, rifiutò ogni criterio classificatorio, ritenendolo inadeguato. Non seleziona i viventi distinguendoli in catalogazioni di piante, bruchi e insetti; la sua osservazione ruota attorno a una foglia di cui si nutrono simultaneamente bruchi ed altri insetti, mentre le crisalidi si trasformano in farfalle. Evidenzia la vitalità delle relazioni fra gli esseri di un medesimo habitat. Tuttavia la sua visione della natura è profondamente religiosa, perché vi individua la straordinaria onnipotenza divina.
Morto il padre, probabilmente in crisi con il marito, si separa e sceglie di andare a vivere con le due figlie in Frisia, presso la comunità luterana dei Labadisti, che praticavano una fratellanza mistica. Qui rinuncia a ogni bene terreno e tronca le relazioni con l’esterno. Dopo pochi anni vissuti come cristallizzati in quella realtà, ecco la metamorfosi di Maria. L’eccessiva mortificazione, il distacco dalle cose del mondo e della natura, persino il ripudio del suo orgoglio di creatrice di oggetti artistici la spingono a un nuovo cambiamento.
Abbandona la comunità e si trasferisce ad Amsterdam per ricostruire la vita sua e delle figlie, ritornando all’arte incisoria, intraprendendo la strada dell’insegnamento e costruendosi una solida vita borghese, in piena autonomia di scelte anche economiche. Grazie poi al genero, che commercia con le colonie del Suriname, incuriosita dalla ricchezza di vita di quei luoghi, vi si trasferisce per due anni con la figlia minore.
In seguito a quella esperienza, pubblicò la sua opera più originale “Metamorfosi”, in cui riaffermò la sua visione della natura come un insieme di relazioni dinamiche tra viventi, che mutano nel tempo e a seconda del luogo in cui si realizzano. Consultò, senza i pregiudizi coloniali del tempo, indios e schiavi neri, che le diedero preziose indicazioni sulle caratteristiche di piante e animali del luogo, oltre alle loro abitudini di vita. Informazioni che riportò nel libro, anticipando aspetti delle attuali ecologia e antropologia. Tornata in patria, ottenne fama e riconoscimenti.
Che cosa hanno in comune queste tre donne così diverse tra loro, vissute in un periodo storico che condannava al silenzio le figure femminili? La cultura innanzitutto. Tutte e tre abitanti di città hanno realizzato importanti opere nel loro campo specifico con una cultura libera da schemi. Tutte e tre hanno superato radicali cambiamenti, hanno impostato un rapporto profondo con la divinità che prospettava una vita migliore, per superarla e trovare riscatto nel lavoro. Tutte e tre erano esperte contabili, avevano indubbio talento per gli aspetti organizzativi del lavoro e non mancavano di spirito d’avventura.
Ma vivevano ai margini. In che senso? Perché lontane dal potere politico ed economico, perché la loro era una cultura da autodidatta, non costruita nelle accademie. Grazie alla loro intraprendenza riuscirono però a dare significato originale alle loro opere.
Cosa ci resta di loro? L’autobiografia di Glikl ebbe diverse edizioni e una certa diffusione nel mondo ebraico, finché non fu dichiarato libro “velenoso” dal nazismo. Fortunatamente l’autrice ne ha ritrovato una copia alla biblioteca di Berlino.
Le opere in lingua algonchina, irochese e urone di Marie forse andarono disperse dai missionari che si avventurarono all’ovest. Invece è rimasto come testo di riferimento per le Orsoline la sua “Vie” curata dal figlio.
Maria Sibylla ebbe più fortuna. Le sue opere vennero utilizzate e citate da Linneo e la sua raccolta postuma di incisioni fu acquistata da Pietro il grande. Oggi fa bella mostra di sé nella Kunstkammer dell’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo, mentre il suo libro delle Metamorfosi è considerato patrimonio nazionale dal Suriname.
Le storie ritrovate delle tre donne potrebbero rientrare nella storia scolastica per ricostruire quadri d’insieme: la vita di ebrei askenaziti in Germania, il rapporto contorto con la religione controriformista di sante in estasi mistica, le relazioni contraddittorie con le genti del Nuovo Mondo, la faticosa affermazione del metodo d’osservazione scientifica.
Per gli studenti il libro costituisce probabilmente una lettura impegnativa, ma in un laboratorio storico di 17/18enni può essere interessante delineare temi come quelli accennati attraverso la costruzione di tre biografie femminili. Potrebbe diventare un’operazione capace di dare una luce diversa a queste tematiche e insieme di valorizzare i contributi ignorati di tre grandi donne del passato.
[Notas]1 Significativo che in italiano non esista la versione femminile del termine incisore.
Cristina Cocilovo
[IF]300 años: masonerías y masones, 1717-2017 – ESQUIVEL et al (ME)
ESQUIVEL, Ricardo Martínez; POZUELO, Yván; ARAGÓN, Rogelio (Ed). 300 años: masonerías y masones, 1717-2017. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017. Resenha de: LIRA, Salvador. El teorema de la hermandad: dissertaciones a 300 años: masonerías y masones (1717-2017). Melancolia, v. 3 p. 190-198, 2018.
- El Rizoma y el Teorema
Hace ya tiempo de la propuesta del concepto filosófico del Rizoma y la nueva muerte del Edipo ensayado por los autores Gilles Deleuze y Felix Guattari. En resumidas cuentas, la imagen del Rizoma –como superestructura o bien la ausencia y por tanto la ruptura de la estructura– se adelantó a su época, tanto por las posibles redes o interconexiones, como por sí el proceso de la comunicación-conocimiento, que desafió al concepto del árbol de Porfirio. Las nuevas tecnologías y las denominadas “redes sociales” –como si un libro o una sonata no lo fueran– hacen más asequible las posibles conexiones que componen al Rizoma, de allí su adelanto en una era actual que nos asume y abruma por la infinitud de la conexión y la huella rastreable.
En este sentido, según Deleuze y Gauttari, las sociedades se construyen por núcleos, por redes de asociación. A este conjunto le denominaron El Teorema de la Amistad, en la explicación de redes árboles o estructuras jerárquicas. Así argumentan1:
[…] “si en una sociedad dos individuos cualquiera tienen precisamente un amigo común, entonces siempre existirá un individuo que será amigo de todos los otros” (como dicen Rosenstiehl y Petitot, ¿quién es el amigo en común: “el amigo universal de esta sociedad de parejas: maestro, confesor, médico? –ideas que por otro lado no tienen nada que ver con los axiomas de partida–“, el amigo del género humano, o bien el filósofo tal y como aparece en el pensamiento clásico, incluso si representa la unidad abortada que no vale más que su propia ausencia o de su subjetividad, al decir: Yo no sé nada, No soy nada”). A este respecto los autores [Rosenstiehl y Petitot ] hablan de teoremas de dictadura. Éste es el principio de árboles raíces, o la salida, la solución de raicillas, la estructura del Poder. (Deleuze y Gauttari, 2009:50.)El Teorema de la Amistad supone entonces el encuentro Universal de los individuos, pues no debe olvidarse que tal palabra deviene de Un-Verso, es decir, un solo giro, movimiento. El asunto de este punto radica en primero la posibilidad de que alguien se sienta parte de la red, de la superestructura. Lo segundo, la suposición de quién es el “Amigo Visible-Invisible”, el principio del árbol, la raíz, esto es el Principio del Poder.
Suposiciones han sido muchas, en tanto las posibilidades filosóficas, ficcionales, imaginarias y en sí el entendimiento del poder, por cuanto se han reflexionado las Edades del Mundo. Los cortes temporales, distribuidos por una búsqueda e intención que recae en la propia historiografía universal, tienen que ver en específico con la manera de conceptualizar los modos de vida y las superestructuras.
De tal modo, cuando la estructura era el árbol de Porfirio, la voz en el imaginario colectivo era el soberano, situación radicada en el periodo de la Edad Moderna. Como posibles disgregadores lo eran piratas, bucaneros, entre otros. El siglo XX demostró que no hay individuo sin capital, el mercado tiene toda posibilidad. El siglo XXI integra una supercomunicación con alter-egos sin superposición. La ficción, que no mito, funciona como bloques en las construcciones del poder. De allí, a manera de suposición, los juicios y chivos expiatorios al creador del Libro de Caras o el señalamiento político de La mafia del Poder.
El siglo XIX asumió el fin de las estructuras “absolutistas” y dio paso a las superestructuras construidas por la democracia, término también resemantizado. Con el todavía cariz de la emblemática y sus raíces herméticas y neoplatónicas, fue una asociación, asumida por sí y por otros de Liberal, la que ocupó ese rango de la estructura del poder: la Masonería como red, el Teorema de la Hermandad-Amistad.
Más allá de las posibles ideas de dominación, comprobadas o no, la masonería como organización fue la primera superestructura en modelo de Rizoma, que dio la impresión de unidad universal, al menos en ambos lados trasatlánticos del Occidente. Si alguien es amigo de alguien más, en las múltiples redes de la teoría de Deleuze y Gauttari, la masonería bajo el principio de Fraternidad otorgó en la impresión la pertenencia de una red superior. No era es necesario el Reconocimiento o en sus términos Regularidad, lo que importa es la pertenencia.
De allí, las ficciones en torno a la red y a la estructura han estados ligadas en los propios y extraños, afines y detractores. La historiografía en torno a la masonería es diversa, con altibajos. Tan disímil como la ya nueva forma de enunciarla en plural, Masonerías, debido a sus múltiples acciones y formulaciones. Ninguna superestructura ha durado más tiempo en el espacio común del diálogo como otra, incluso en los tiempos actuales tan vertiginosos, ni mucho menos con discursos que aún legitiman prácticas, para bien o para mal, en la formación de producciones.
Ahí su singular naturaleza. Ahí, la base del Teorema de la Hermanad.
- Estudiar la Estructura, 300 años: Masonerías y Masones
300 años: Masonerías y Masones (1717-2017) es un conjunto de estudios, reunidos en cinco tomos temáticos, que tiene como intención el análisis, la reflexión y la presentación de estudios sobre fenómenos culturales, sociales, políticos y artísticos bajo el cariz temático de la Francmasonería. No se trata en sí de un estudio unificado, por el contrario, es, si se permite la metáfora, un abanico de cinco terminales, de los cuales cada uno abre otras múltiples posibilidades.
Prudente es abogar la riqueza metodológica con que los autores recogieron las obras que componen el compendio de volúmenes. Se parte de una distinción con respecto a la historiografía masónica, entre los pro y anti masones que han formulado un compendio de historias –las más ficcionales– sin rigor. De allí que el libro más allá de ser un compendio de estudios es en sí un proceso de la Masonología, con las posibilidades que el término acuñado ya hace tiempo conviene.
Además, reafirma un quehacer con respecto al entendimiento y construcción de las Historiografías. De hecho, ese es el rasgo fundamental inicial con el que los editores de los volúmenes partieron: la firme convicción de formar procesos historiográficos, dependiendo de su perspectiva teórica como la micro historia, la interconexión de Carmagnani, la Historia Cultural, la Historia Política, la Historia con profundidad de Estudios de Género o la Historia del Arte.
Los cinco volúmenes son una reunión de la actividad de la red de investigadores agrupados o con algún tipo de relación en torno a la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC) y también cabe decirse del colectivo de trabajo en relación al Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME). La mayoría de los autores que presentan en el volumen actual, su desarrollo académico y producción de investigación puede comprobarse en las múltiples ediciones y publicaciones promovidas por los centros y redes antedichos.
El alcance temporal pudiera acaso servir de conmemoración al inicio de la Masonería especulativa en 1717. Los propios editores derogan el encasillamiento, pues su visión fundamental es alejarse de la Historia de Bronce o de Lata que ha envuelto a la producción historiográfica. Es por tanto, también un ejercicio metodológico ejemplar, pues el oficio de historiar en sumas cuentas no se queda en las primeras tientas en las ideas de las fuentes. Se trata de contrastar, medir, alimentar, proporcionar y comparar.
Los cinco volúmenes que componen la serie son los siguientes:
- Migraciones.
- Silencios.
III. Artes.
- Exclusión.
- Cosmopolitismo.
Cabe resaltar que cada tomo tiene una independencia con respecto al concierto en sí del conjunto de libros. De hecho, como se ha indicado antes, se nota el tipo de lecturas y trabajos que se han alimentado alrededor de REMLAC y el CEMEH.
Por tal motivo, el tomo I “Silencios” es el que presenta mayores alcances, solidez de las fuentes e interconexión de perspectivas y datos. En este se retoman las ideas de imperialismo, modernidad, utopía, sociabilidad y “mito” (que en realidad es ficción, pues el contenido mítico refiere a una práctica simbólica, con tintes verificables en el imaginario colectivo, no es por tanto sinónimo de mentira). Asedios entre Europa y América, enmarcados por fechas ahora conmemorativas, siendo en sí el conjunto de procesos históricos de los cuales la red y el Teorema se ponen en juego.
El estudio de la masonería ha tenido que ver con el estudio de las Independencias en Latinoamérica. Si de entender procesos históricos se trata, es evidente que las conmemoraciones de los Bicentenarios (en todos los países latinoamericanos) otorgaron posibilidades de reflexión. De esto también fueron parte los estudios en torno a las Masonerías, de allí que se pueda notar una generación de investigadores, quienes todos ellos alcanzaron posgrados entre el 2005-2017 con temas de masonería y atendiendo a su estudio con miradas teóricas más frescas, acordes a las generaciones de Historiadores del siglo XXI. Dicho sea de paso, con una generación previa apuntalada por investigadores como José Ferrer Benimeli o Carlos Stein quienes abrieron el abanico de posibilidades para estudiar este fenómeno con rigor investigativo, sin que las vísceras y su sangre-bilis fueran la tinta del historiador.
Por esto es significativo que sea José Ferrer Benimeli quien abra el volumen con el estudio en torno a las sociabilidades desde los conflictos hispánicos en 1808 hasta la consumación independentista del Imperio del Anáhuac. Sus vaivenes y fuentes trastocan diferentes perspectivas. Es interesante el rescate de la Oda Masónica, de la que comenta el autor es de pertenencia a una logia española afrancesada en 1812. Esto porque se nota una adaptación de procesos y medios a modos hispánicos, la oda que se propone está en heptasílabos con versos pareados átonos, una forma por demás hispánica del Antiguo Régimen. Entonces, el mismo verso da cuenta del proceso de recepción y fortuna (Ferrer Benimeli, 2017a).
El tomo uno va desde este punto histórico, trastoca latitudes de todo el continente americano y cierra con la presencia “civil” en los Estados Unidos de América. Hay una cuestión que quizá sea posible para un estudio global –pues es sabido que Ricardo Martínez Esquivel lo ha trabajado desde Centroamérica, el Pacífico y Oriente–, las redes francmasónicas con paso del mar.
El tomo II “Silencios” y el Tomo V “Cosmopolitismos” son la muestra de una serie de trabajos “novedosos” por cuanto las temáticas que se han podido abrir con respecto a los primeros estudios de este milenio. Del Tomo II, “Silencios”, el objetivo es estudiar el discurso antimasónico, una veta relevante en cuanto a que también es un fenómeno histórico, desde sus fuentes, hasta sus soportes. Es quizá la visión de esta nueva historiografía que se ha propuesto tal generación. Así argumenta Rogelio Aragón:
En fechas recientes los historiadores profesionales han aprendido a revalorar esos textos de temática histórica, escritos más con pasión que con erudición, para a partir de ellos reconstruir el proceso mediante el cual ciertos sectores y grupos han interpretado y explicado la historia. –y, sin temor a equivocarme, el tema de la masonería es probablemente el que más ha inspirado a escritores de todas las tendencias a abordarlo con pasión desmedida, a favor y en contra, a través de los medios disponibles según la época: impresos y electrónicos, virtuales y físicos (2017b:6).
Los vaivenes de María Eugenia Vázquez Semanedi otorgan una visión en el debate de las ideas y también de los estereotipos, como sujetos históricos (2017b). La sola discusión ya supone, aunque el interlocutor no tenga ni idea de las bases epistemológicas, el discurso programable del fondo y la forma.
Del tomo V, “Cosmopolitismo”, la intención es entregar un perfil abierto. Se trata en sí del estudio de los productos de la red. Por ello su reunión quizá con el único tema y el juicio. Por ejemplo, aún quedan pendientes los estudios de rituales funerarios de la masonería “global” y unipersonal, así como una historia comparada. El texto de Jeffrey Tyssens con la conmemoración del rey Leopoldo de Sajonia es singular al momento de las conmemoraciones fúnebres de otros soberanos europeos y americanos (2017e). Entonces, desde sus propias bases simbólicas, se propicia que la Masonería no es una, que el símbolo es interpretado en varios sentidos y que incluso la captación de “Hermanos” no siempre ha tenido un proceso igual. Son por ello el caso de los proyectos, de la globalización y la regionalización con sus fuertes tensiones.
El tomo IV, “Exclusión” si bien lo comentan los mismos editores busca tener una continuidad temática con respecto a los Estudios de Género y la Masonería, aunque con ciertos vacíos. Esto es porque el estudio que se presenta en este tema apenas se está abriendo, con pasos muy sólidos. La historia de la masonería femenina en largo aliento aún no ha sido abordada. Lo interesante es entender cómo esta idea de la masonería femenina no siempre estuvo relacionada o detrás de los movimientos feministas, sobretodo en la participación política. El trabajo de Julio Martínez García sobre la prensa, la mujer y la masonería en el siglo XIX y XX muestran tal desarticulación de ideas, a priori atenidas a un solo proceso.
Más aún, el caso del siglo XX es enigmático en esta cuestión. En el norte de México, y en las perspectivas de la microhistoria, en Zacatecas, los grupos de participación femenina en los sesenta y setenta, que ocuparon puestos de elección popular, fueron en sí las fundadoras y proclives de las logias femeninas de los noventa, esto es una conformación a la inversa de lo que podría alguien suponer. Proceso por cierto aún por estudiarse.
El tomo III, “Artes”, es quizá la que ofrece una serie de balances claroscuros. Sí se encuentran las canciones y la música, relevante en cualquier ritual de los siglos XVIII, XIX y principios del XX. También la literatura, sobre todo por el Estado de la Cuestión que ofrece Ferrer Benimeli sobre los estudios filológicos y la masonería, así como el análisis de algunas novelas con ciertos íconos de la fraternidad. Del ensayo de Ferrer Benimeli, viene ad hoc mencionar una tipología de estudio:
- Literatos de renombre que al mismo tiempo fueron masones pero que no reflejan directamente su compromiso con la masonería en sus escritos literarios.
- Masones que sí manifiestan su dualismo masónico-literario.
- Estudios críticos sobre dichos autores y sus obras.
- Autores no masones que aluden a la masonería en sus obras y que incluso la elevan a categoría de protagonista. (2017c:128.)
Directriz y forma que deja abierta para un proyecto de antología, seria, de autores masones o con temática masónica en Latinoamérica y específicamente en México. Incluso en la reunión de los antimasones.
No obstante, es preciso –que no abre todo libro con tinte académico– poner en ciernes ciertos conceptos. El ensayo de David Martín López con respecto a la teorización del “estilo o estética masónica” muestra una serie de elementos que bien pueden destacar por la intención de recuperar e interpretar lo que es quizá más característico de la masonería: sus símbolos. Se coincide en la siguiente cita:
Descifrar y apreciar, por tanto, el carácter masónico en una obra de arte requiere de una serie de precauciones metodológicas y analíticas que deben partir de un profundo conocimiento y un estudio multidisciplinar. Muchas veces, desde la perspectiva del historiador, del receptor de la obra, del ciudadano y hasta incluso del masón, se ha podido pensar, subrayar de manera inexacta y apostillar una curiosa manifestación artística de cualquier índole como masónica, sin entrar en su finalidad o estética. (2017c:74.)
En efecto, no se ha generado aún una historiografía de arte con tema masónico sólida, sencillamente porque el tema la masonería ha estado en el mayor de los casos por encima de la técnica misma, a su soporte o a su motriz del autor, o bien porque la única fuente que se consulta son algunos documentos promasónicos. El problema radica en el símbolo y en la emblemática, de la que la masonería retoma sus productos, tiene ese hálito de las múltiples asociaciones. El ejemplo ya lo había puesto Umberto Eco con la sobreinterpretación que hizo en el siglo XIX sobre si comprobaba que Dante Alighieri era masón y que La Divina Comedia era el camino de paso para los grados filosóficos Rosacruces del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (1997).
Aún falta entender el puente simbólico entre la emblemática del XVIII y el XIX, de la que la masonería forja una serie de íconos con referencias de interpretación específica. Así, permitiría por ejemplo el estudio íntegro del retrato de Estado de Masones, no como una invención propia de las logias en el poder, sino como una continuidad del Retrato de Estado iniciada por Tiziano en el siglo XVI y la célebre silla bicéfala sobre la que se sitúa Carlos V.
- Las raíces del Teorema
La red que teorizaron Deleuze y Gauttari, en los procesos de la intercomunicación, han quedado abiertos y demostrados por las nuevas formas de comunicación. El Teorema de la Amistad y en sí el Teorema de la Hermandad proveen una serie de pasos en la manera no sólo de entender el presente, sino el pasado.
Los debates y diálogos que abre la serie 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017) evidentemente dejan una constancia de sociabilidades en pleno debate. La cuestión del “Secreto” –también debatida en los presentes libros– ha sido argumentada como un discurso unificador que tiene un punto clímax en los procesos históricos.
Las temáticas están abiertas en el trasluz de los investigadores que, lejos ya de afianzar una filiación o desprecio, muestran un balance crítico en la medida del hombre y sus circunstancias. Las masonerías en su momento abrieron el debate, incluso sobre su funcionalidad como grupo social o red dentro de una superestructura rizomática.
Sirva entonces que esta nueva red confirme nuevos debates historiográficos continuos, saberes que entretejen las sociabilidades en apoyo de las nuevas fórmulas de interacción y sentido.
- Bibliografía
DELEUZE, G. & GAUTTARI, F. (2009). Rizoma. Ciudad de México, México. Distribuciones Fontamara, S. A.
ECO, U. (1997). Interpretación y sobreinterpretación. Madrid, España. Cambridge University Prees.
MARTÍNEZ ESQUIVEL, R., et all. (2017a). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo I. Migraciones. Ciudad de México, México. Editorial Palabra de Clío, A. C.
__________. (2017b). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo II. Silencios. Ciudad de México, México. Editorial Palabra de Clío, A. C.
__________. (2017c). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo III. Artes. Ciudad de México, México. Editorial Palabra de Clío, A. C.
__________. (2017d). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo IV. Exclusión. Ciudad de México, México. Editorial Palabra de Clío, A. C.
__________. (2017e). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo V. Cosmopolitismo. Ciudad de México, México. Editorial Palabra de Clío, A. C.
Notas
1 Cita que viene en Rizoma de Gilles Delleuze y Félix Gauttari. Pierre Rosenstiehl y Jean Petito (1974), “Automate asocial et systemes acentrés”, en Communications, núm, 22. Sobre el teorema de la amistad, cfr. H. S. Wilf, The Friendship Theorem in Combinatorial Mathematics, Welsh Academic Press; y sobre un teorema del mismo tipo, llamado de indecisión colectiva. (Deleuze y Gauttari, 2009:50.)
Salvador Lira – Doctorado en Estudios Novohispanos. Universidad Autónoma de Zacatecas . Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas. E-mail: slira7687@gmail.com
Índios cristãos / Almir D. Carvalho Júnior
Há muito que tardava, mas, finalmente, foi publicado, em meados do ano passado, o livro “Índios cristãos: poder, magia e religião na Amazônia colonial”, da autoria do professor Amir Diniz de Carvalho Júnior. De fato, a tese de doutoramento da qual a obra é resultado já havia sido defendida no ano de 2005, na Universidade de Campinas (UNICAMP)1. De certo modo, esta demora surpreende, se levarmos em conta a grande relevância que a pesquisa tem para a Historiografia Indígena e do Indigenismo no Brasil e, de forma mais específica, na Amazônia. Resta a esperar que o formato de livro contribua a tornar o estudo ainda mais conhecido no meio acadêmico!
O autor, professor lotado na Faculdade de História e credenciado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em Manaus, começa a apresentação de seu livro com a observação de que “toda criação é solitária”. Pode-se questionar esta afirmação, visto que Almir Diniz de Carvalho Júnior construiu seu estudo, à toda evidência, enquanto pesquisador bem conectado e inserido em uma rede com outros pesquisadores e pesquisadoras que, como ele, trabalharam e trabalham o protagonismo de indígenas na época colonial. Nesta rede, composta, em grande parte, de historiadores e antropólogos, seu orientador de tese, o já falecido John Manuel Monteiro – à memória do qual o livro é dedicado – ocupa um lugar central, além de Maria Regina Celestino de Almeida, que fez o prefácio, Marta Amoroso, Manuela Carneiro da Cunha, João Pacheco de Oliveira Filho, Ronaldo Vainfas, entre outros e outras. Todos eles e elas são prógonos conhecidos da Nova História Indígena e marcaram, como se percebe ao longo da leitura, as reflexões de Almir Diniz de Carvalho Júnior.
Como já indica o título da obra, os “índios cristãos” estão no cerne da pesquisa do autor. Não se trata, como ele deixa claro logo no início (pp. 21-29), de uma categoria supostamente compacta e genérica de subalternos, atrelados ao projeto de cunho colonial salvacionista. Ao contrário, ele se propõe a analisar sujeitos históricos que, apesar das relações e classificações assimétricas nas quais foram enquadrados, participaram da construção do universo colonial, dentro do qual conseguiram formar e ocupar espaços próprios. A partir desses espaços os índios engendraram, por meio de complexas mediações e negociações, práticas culturais, referências sociossimbólicas e balizas identitárias novas. O autor realça, sobretudo, a dimensão sociossimbólica, como o apontam os termos “poder”, “magia” e “religião”, que, por sinal, constam no subtítulo. Neste sentido, Almir Diniz de Carvalho Júnior consegue conjugar, em termos metodológicos, uma análise criteriosa das múltiplas fontes – que vão de crônicas missionárias a processos inquisitoriais – com o recurso a relevantes investigações antropológicas acerca das cosmologias indígenas.
O livro consiste – como também a tese – em três partes que, por sua vez, estão subdivididas em com um número variável de capítulos. A primeira parte (pp. 39-108) aborda, em dois capítulos, as complexas relações entre os colonizadores portugueses e os povos indígenas no espaço amazônico. No primeiro capítulo, aprofunda-se o processo de implantação e consolidação do projeto colonial e, no segundo, a instalação da rede de missões sob as orientações do padre Antônio Vieira. Em ambos os contextos, os índios não são tratados como meros figurinos, mas agentes centrais. Assim, o autor dá destaque à revolta dos Tupinambá, ocorrida na Capitania do Maranhão, em 1617-1619, logo no início da colonização, como também à reação dos índios da aldeia de Maracanã, lugar estratégico onde se situaram as importantes salinas no litoral do Grão-Pará, à prisão do principal Lopo de Souza, em 1660- 1661. Ambos os eventos apontam os impactos diretos de lideranças indígenas no processo da aplicação das políticas colonizadora e evangelizadora. Embora não tenha sido o objetivo da pesquisa, mas faltou, talvez, abordar também, paralelamente a estes aspectos etnossociais, a questão do espaço em sua dimensão geoétnica e geopolítica. Assim, teria sido interessante trabalhar a Amazônia dos séculos XVII e XVIII enquanto “fronteira”, que, conforme uma definição fornecida por Hal Langfur, seria:
aquela área geográfica remota da sociedade já estabelecida [ou em vias de se estabelecer], mas central para os povos indígenas, onde uma consolidação ainda não foi assegurada e onde ainda paira uma dúvida sobre o desfecho dos encontros culturais multiétnicos2.
A segunda parte (pp. 111-257), mais extensa, pois composta de quatro capítulos, versa tanto sobre os métodos aplicados pelos padres para doutrinar os índios quanto sobre as estratégias usadas pelos últimos ao se reconstituírem como “grupos étnicos autônomos”, incorporando, neste processo, padrões culturais barroco-cristãos. Desta feita, o terceiro capítulo, retoma o tema da centralidade dos grupos Tupinambá no contexto da colonização e evangelização; por sinal, um tópico muito defendido pelo autor. Neste contexto, é oportuno apontar pesquisas mais recentes que tendem a frisar a complexa mobilidade de grupos indígenas de troncos etnolinguísticos não tupi no vale amazônica em torno da chegada dos portugueses. Assim, a tese do pesquisador Pablo Ibáñez Bonillo chama a atenção a “sistemas regionais multiétnicos”, em razão das presenças (no plural) de falantes de idiomas aruaque e caribe, principalmente, no estuário e no curso inferior do rio Amazonas, relativizando, de certa forma, a suposta predominância tupinambá3. O quarto capítulo aprofunda o projeto de “conversão”, levado a cabo, sobretudo, pelos jesuítas, conforme diretrizes exatas e, também, pragmáticas. Neste contexto, o autor lança mão de duas fontes fundamentais acerca da presença e atuação inaciana na Amazônia: a crônica do padre luxemburguês João Felipe Bettendorff, redigido na última década do século XVII, e os tratados do padre português João Daniel, escritos no terceiro quartel do século seguinte. É com base nesta documentação que Almir Diniz de Carvalho Júnior delineia, de forma nítida e envolvente, a peculiaridade das práticas de missionação na colônia setentrional da América portuguesa. A análise teria ficado mais completa com a inclusão da rica correspondência interna dos inacianos, arquivada no Archivum Romanum Societatis Iesu em Roma4. O fato de esta ter sido escrita, em grande parte, em latim dificulta, infelizmente, o acesso de muitos autores às informações nela contidas. Estas fontes são interessantes, pois, em geral, não reproduzem o estilo marcadamente edificante e moralizante das crônicas, tratando de questões polêmicas ou de dificuldades experimentadas com mais franqueza. O quinto capítulo, que constitui, por assim dizer, o miolo da obra, é diretamente dedicado aos “índios cristãos”. Estes são descritos e analisados como sujeitos inseridos no universo colonial do qual são partícipes – mas, salvaguardando seus interesses –, enquanto principais, pilotos e remeiros, artesãos de diferentes ofícios e, também, guerreiros. Atenta-se igualmente aos “meninos” e às “mulheres” indígenas, o que não é de se admirar, pois ambos os grupos recebem destaque nas crônicas pelo fato de seus integrantes terem sido percebidos pelos missionários como mais acessíveis aos objetivos e pretensões de seu projeto salvacionista. Este capítulo demonstra, de forma “plástica”, o que o autor entende por “índios cristãos”, conceito que, com já mencionamos, foi elucidado no início do livro. Neste contexto, merece menção que refere, por diversas vezes, ao termo de “índios coloniais”, formulado, há quarenta e cinco anos, por Karen Spalding em relação à colonização hispânica5. Embora não cite o nome desta historiadora, Almir Diniz de Carvalho Júnior segue, mesmo em outras circunstâncias e com base em outras experiências, a pista lançada por ela. Enfim, o sexto capítulo, que já constitui uma transição para a terceira parte, apresenta os mesmos “índios cristãos” enquanto praticantes de diversos rituais considerados heterodoxos, resultantes do contato entre suas tradições e cosmovisões xamânicas – ou, como detalha o autor, tupinambá – com os dogmas ensinados e as liturgias encenadas no âmbito das missões.
Finalmente, a terceira parte (pp. 261-320) enfoca, em dois capítulos, os índios cristãos e as “heresias” geradas por eles nas suas interações com o universo católico ibero-barroco, tanto em sua dimensão disciplinadora/institucional como inspiradora/vivencial. Neste sentido, o sétimo capítulo familiariza o leitor com a organização e o funcionamento do Tribunal da Inquisição de Lisboa, que atuava na Amazônia desde meados do século XVII mediante um sistema de captação de denúncias6. Para compreender esta instituição e seu agenciamento na colônia, o autor coloca uma tônica especial na elucidação tanto da concepção erudita quanto da mentalidade popular acerca da magia e feitiçaria na cultura portuguesa da época. Faltou, talvez, neste capítulo um maior aprofundamento da percepção desses fenômenos por parte das autoridades locais e dos moradores do Grão-Pará, visto que o universo de crenças e práticas heterodoxas trazido da Europa se reconfigurou, também por iniciativa dos próprios “brancos”, no contato com as religiosidades indígenas. Implicitamente, isso fica evidente no oitavo, e último, capítulo que aborda casos concretos, bem apresentados e analisados, que envolvem “feiticeiros” e, sobretudo, “feiticeiras” indígenas. Comparando a interpretação inquisitorial, tal como ela transparece nas fontes, com as lógicas próprias do universo simbólico xamânico, estabelecidas por pesquisas de cunho antropológico, Almir Diniz de Carvalho Júnior conclui que as heresias eram “formas autônomas de novas práticas culturais”, engendradas não tanto numa postura de resistência, mas, antes, para fornecer sentido ao mundo ao qual foram forçados a inserir-se. Como já antes, na apresentação dos diferentes grupos de índios cristãos, também neste último capítulo, o autor permite, mediante o aprofundamento de diversos casos e personagens de feiticeiros e feiticeiras, mergulhar no universo ameríndio colonial. Com efeito, o emprego de uma linguagem clara e envolvente parece dar vida às índias Sabina, Suzana e Ludovina que, mesmo taxadas como “feiticeiras” ou “bruxas”, circularam amplamente pela sociedade colonial de seu tempo. Neste contexto, convém lembrar que – e a farta documentação inquisitorial o demonstra – os desvios morais e doutrinais dos “brancos” estiveram muito mais na mira dos oficiais da Inquisição do que os dos índios, mamelucos, cafuzos ou negros, mesmo quando esses eram cristãos. Para aprofundar este aspecto, teria sido interessante dialogar com as pesquisas recentes do historiador Yllan de Mattos, cujos trabalhos, aliás, enfocam a atuação inquisitorial na Amazônia colonial7.
Dito tudo isso, fica óbvio o quanto o livro de Almir Diniz de Carvalho Júnior se destaca por dar visibilidade aos indígenas e suas múltiplas (re)ações dentro das conjunturas e conjecturas que marcaram o processo de colonização do Estado do Maranhão e Grão-Pará. Este processo, em muitos aspectos, diferiu das dinâmicas colônias aplicadas na colônia-irmã mais ao sul, o Estado do Brasil, sendo que a evidência da peculiaridade da colônia amazônica, com seu grande contingente de povos indígenas – seja nas missões, seja nos sertões – constitui outro aspecto significativo da obra a ser retido.
Quanto à agência e ao protagonismo dos índios, o autor, ao examiná-los sob um prisma multifacetário, supera a visão binômica que, durante muito tempo, viu o índio, em primeiro lugar, como indivíduo oprimido e vitimado. A (re)leitura criteriosa feita nas entrelinhas das fontes coloniais deixou evidente o quanto os documentos, embora redigidos com um olhar unilateral – pois sempre imbuído do ensejo do respectivo autor de comprovar o suposto sucesso do projeto da colonização ou missionação – falam necessariamente do índio e trazem, assim, à tona suas práticas culturais heterodoxas e suas negociações ambíguas. Em última análise, estas agências “imprevistas” forçaram os missionários a abrir mão de suas pretendias ortodoxias para, num patamar ortoprático, poder se comunicar, mesmo incompletamente, com seus catecúmenos e neófitos indígenas8.
Enfim, vale ressaltar que a pesquisa Almir Diniz de Carvalho Júnior é uma contribuição fundamental para a Historiografia acerca da Amazônia Colonial, que, nos últimos anos, conheceu um crescimento significativo, sobretudo devido à consolidação dos Programas de Pós-Graduação em História em diversas universidades da região. A leitura da obra é, assim, imprescindível não só para aqueles e aquelas que pesquisam, academicamente, as agências indígenas na fase colonial, mas também para todos e todas que procuram entender mais a fundo o devir das populações e culturas tradicionais da Amazônia que, de uma forma ou outra, descendem e/ou emanam dos sujeitos analisados por Almir Diniz de Carvalho Júnior.
Notas
1 O título da tese foi “Índios cristãos: a conversão dos gentios na Amazônia Portuguesa (1653-1769)”. O autor jádivulgou antes, o resultado de sua pesquisa de doutoramento sob forma de artigo científico: CARVALHOJÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos no cotidiano das colônias do Norte (séculos XVII e XVIII). Revista deHistória. São Paulo, 2013, vol. 168, fasc. 1, pp. 69-99.
2 LANGFUR, Hal. The Forbidden Lands: Colonial Identity, Frontier Violence, and the Persistence of Brazil’s Eastern Indians, 1750-1830. Stanford: Stanford University Press, 2006, p. 5. Tradução do inglês pelo autor da resenha.
3 BONILLO, Pablo Ibáñez. La conquista portuguesa del estuario amazónico: identidad, guerra, frontera. Tese de doutorado, História e Estudos Humanísticos: Europa, América, Arte e Línguas, Departamento de Geografia, História e Filosofia, Universidad Pablo de Olavide, Sevilha, 2015, pp. 120-147. Em co-tutela com a University of Saint Andrews, Reino Unido.
4 No Archivum Romanum Societatis Iesu, os documentos referentes à Missão e, a partir de 1727, Vice-Província do Maranhão encontram-se, principalmente, nos códices Bras. 3/II, 9 e 25-28.
5 SPALDING, Karen. The Colonial Indian: Past and Future Research Perspectives. Latin American Research Review. Pittsburgh, 1972, v. 7, n. 1, pp. 47-76.
6 Neste sentido, os “Cadernos do Promotor”, arquivados no Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa, e muito citado Almir Diniz de Carvalho Júnior, são importantes.
7 MATTOS, Yllan de. A última Inquisição: os meios de ação e o funcionamento do Santo Ofício no Grão-Pará pombalino, 1750-1774. Jundiaí: Paco Editorial, 2012; MATTOS, Yllan de & MUNIZ, Pollyanna Mendonça (Orgs.). Inquisição e justiça eclesiástica. Junidaí: Paco Editorial, 2013.
8 Quanto à alteração da ortodoxia em “ortoprática” no processo de missionação, ver GASBARRO, Nicola. Missões: a civilização cristã em ação. In: MONTERO, Paula (Org.). Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006, pp. 71-77.
Karl Heinz Arenz – Professor da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará (UFPA).
CARVALHO JÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos: Poder, magia e religião na Amazônia colonial. Coritiba: Editora CRV, 2017, 355p. Resenha de: ARENZ, Karl Heinz. Canoa do Tempo, Manaus, v.10, n.1, p.216-221, 2018. Acessar publicação original. [IF]
A liturgia escolar na idade moderna – BOTO (RBHE)
BOTO, Carlota A liturgia escolar na idade moderna. CAMPINAS, SP: PAPIRUS. Dóris Bittencourt Almeida Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 2017. Resenha de: Almeida, D. B. A liturgia escolar na Idade Moderna. Revista Brasileira de História da Educação, n.18(48) 2018.
“A escola é a sua existência. E, portanto, a escola é sua história […] para pensar na escola que desejamos, é necessário meditar na escola que recebemos” (p. 23). É a partir dessas palavras que Carlota Boto faz um convite ao leitor a ingressar em outra temporalidade e aprofundar os conhecimentos acerca da constituição do processo de escolarização, como fenômeno social que marca os séculos XVI e XVII, no continente europeu.
Ao mobilizar uma vasta quantidade de autores, clássicos e contemporâneos, a autora produz um texto que contempla dois atributos: densidade teórica e generosidade acadêmica. Preocupada constantemente em didatizar, a pesquisadora, aos poucos, mas em um crescente, esclarece ao leitor como emerge na Europa um novo modelo de escola, “[…] com uma fisionomia própria, que a diferencia de suas antecessoras” (p. 21). O livro destina-se a todos os interessados em história da educação, sobretudo, a estudantes e professores, envolvidos com o ensino/aprendizagem/pesquisa nesse campo de conhecimento.
Ainda na introdução, apresentam-se, para além dos objetivos, preceitos teóricos e metodológicos presentes na obra, como se pode notar na referência a Norbert Elias, no sentido de aproximar o discurso pedagógico à construção de um modelo civilizador europeu, entre os séculos XV a XVII. Metodologicamente, o texto se constitui por meio de revisões bibliográficas, estudo de textos de autores clássicos no período estudado.
O livro está dividido em seis capítulos, inicia pela reflexão acerca do contexto europeu renascentista que fomentou o advento do livro impresso e a constituição de um conceito moderno para a infância. Na sequência, uma discussão acerca do processo civilizador, engendrado na Europa, atrelado a uma nova concepção que se delineava referente à educação escolarizada. Nesse sentido, tematiza-se o pensamento pedagógico, preconizado por Erasmo, Montaigne, Vives e Comenius, considerando-se as afinidades entre todos eles. Por fim, apresentam-se os colégios jesuíticos e as escolas lassalistas, emblemas de muitos preceitos da educação escolar, dos quais somos herdeiros.
Em termos contextuais, a autora demonstra as condições que permitiram a emergência da modernidade europeia. Discute a relação entre escola, Reforma Protestante e cultura escrita. Importa lembrar que um dos princípios da Reforma Protestante era a leitura das Escrituras, que não mais passaria pela clivagem de qualquer mediador. O advento da cultura impressa também imprimiu alterações em relação aos modos de apreender o mundo, por meio de crescente formação de novas comunidades leitoras. O aumento de leitores, atrelado ao desenvolvimento da cultura impressa, paulatinamente, teve profunda ressonância no modelo de escola que se instituía, tendo em vista que o ensino se colocava entre duas práticas: a oralidade, herança do passado medieval, e a escrita, que representa a modernidade.
Ainda sobre o cenário europeu, o livro reconhece as inter-relações entre a gênese do capitalismo comercial, princípios de secularização e regulação de costumes. Todas essas são evidências que conduzem a uma maior privacidade nos estilos de viver, afetando diretamente os conceitos de família nuclear e os entendimentos que se tinha a respeito da criança. Mesmo ainda não se conhecendo em profundidade as singularidades da criança, percebiam-se suas diferenças em relação aos adultos e essas percepções inscrevem-se nesse ambiente da Europa dos séculos XVI e XVII.
Nessa perspectiva, enfatiza-se que a família moderna não dispunha de instrumentos para educar, sozinha, as gerações mais jovens. A escola, como instituição educativa, constitui-se como lugar intermediário entre família e escola, legitima-se e passa a ser solicitada pelas populações de diferentes países da Europa, a ela caberá “[…] instruir, formar, educar” (p. 21). E é assim que, em vários países da Europa, multiplicaram-se os colégios, assumindo significados distintos na modernidade. No passado, entre os séculos XIII e XIV, eram espécies de asilo para estudantes pobres, mantidos, sobretudo, por ordens religiosas. No início do século XV, passam a ter caráter formativo, mantendo um rigoroso sistema disciplina, aliando instrução e moralização, tendo como referências a proteção à criança, por meio do isolamento do convívio comunitário.
Constituída sobre dois pilares, ensinar saberes e formar comportamentos, a nova escola tem na produção de civilidades um eixo forte de sustentação, atrelado ao movimento humanista que se fortalecia a partir do século XVI, valorizando as individualidades, em um processo singular de secularização da vida humana. Assim, à educação, em uma perspectiva moderna, cumpriria produzir, transmitir e reproduzir determinado padrão cultural e intelectual das pessoas, por isso a importância do refinamento dos costumes, atrelado a determinado modo de ser europeu. É possível dizer que a cultura da escola moderna do Ocidente é imediatamente conectada ao processo civilizador.
De acordo com Boto, “[…] há uma pedagogia da escrita na Renascença” (p. 80), o reconhecimento das especificidades da criança faz emergir os manuais de civilidade, desde o século XVI que circulavam em larga escala, prescreviam e regravam os cuidados com essa infância, até então praticamente desconhecida, sob a máxima “[…] educar os filhos, torná-los civis” (p. 85). Entretanto não passa despercebido pela autora o fato de que, apesar do alargamento da ideia de infância, apenas algumas crianças serão atingidas por tal sentimento, filhas de nobres e burgueses, “[…] havia outra criança, aquela que é identificada ao povoe para a qual não há proteção” (p. 51).
Inúmeros foram os tratados que, sob o gênero de civilidade, tiveram lugar na produção impressa. O tratado de Erasmo, A civilidade pueril, foi o primeiro texto da era moderna dirigido às crianças, diretamente voltado à formação civil e às boas maneiras e que evidencia o surgimento da moderna sensibilidade social da infância.
Outro pensador a quem é dado destaque no livro é Montaigne. Entre seus postulados, condena o fato de o ensino das atitudes estar secundário em relação ao ensino de outros saberes. Sobre a didática de seu tempo, afirma que o aprendizado precisaria ter significados, “[…] saber de cor não é saber” (p. 81), a competência livresca, para ele, pode servir de ornamento, mas não de fundamentos. Defende a importância de um preceptor, destacado pela civilidade, mais do que por sua competência intelectual.
Na sequência, a autora inclui o pensamento de Vives, um dos poucos humanistas a se preocupar com a formação dos comportamentos e da instrução na perspectiva do ensino coletivo. Este acreditava no valor intrínseco das práticas de escolarização, quando a maior parte dos humanistas ainda condenava o ensino coletivo como algo que corromperia os costumes.
Considerado precursor de Comenius na sistematização dos métodos de ensino, censurava a escola de seu tempo, por não conseguir acompanhar o desenvolvimento da cultura letrada. Afirmou que “[…] pouco era ensinado, quase nada era aprendido” (p. 133). Enfatizava a necessidade de se fertilizar a memória com o exercício, bem como a importância do método, que confere significados ao processo de ensinar. Para Vives, o segredo do aprendizado estaria posto na capacidade de anotar as informações ministradas pelo mestre ou as informações colhidas no livro durante a aula.
Além disso, antecipava a ideia do edifício escolar construído para fins pedagógicos, como ícone do moderno conceito de escola. Discutia as condições arquitetônicas necessárias para o prédio escolar, tendo como características a vigilância e o isolamento. Por fim, ainda cabe lembrar que, para Vives, educar e ensinar eram habilidades que requeriam o conhecer os estudantes, bem como o conhecimento da matéria a ser ensinada. Sua obra abordava o cotidiano da escolarização, defendia o aprendizado pela imitação, daí a importância do exemplo de pais e mestres. Entusiasta do lugar progressista que a escola ocupava no tabuleiro social, dizia que lá também era lugar de fazer amigos. Considerava imprescindível observar comparativamente produções escritas do mesmo aluno em épocas diferentes para avaliar o desenvolvimento do seu aprendizado. Seguindo as ideias da produção de civilidades, afirmava que a escola era a instituição precípua para habilitar o sujeito a portar-se bem em sociedade.
Chega-se, então, ao século XVII, e os escritos de Boto realçam o pensamento de Ratke e de Comenius, pela relevância de ambos nas concepções de escola, sobretudo da didática. Ratke, precursor de Comenius, antecipa em 40 anos a idealização de uma escola para todos, pautada em um ensino coletivo. Assim como fez Vives e como fará Comenius posteriormente, Ratke desenvolve uma percepção das escolas de seu tempo, pautada em uma série de questionamentos. Procura compreender por que eram diminutas as iniciativas em prol da escolarização, por que as escolas que existiam não tinham sucesso e por que havia tanta evasão escolar. Acredita que boa parte desses problemas seria sanada se houvesse maior preocupação com os métodos de ensinar.
E, finalmente, Comenius comparece no texto, considerando as reflexões de seus antecessores, sistematiza o conceito de um saber estritamente pedagógico, materializado com a Didática magna. Para ele, “[…] o método era a chave para a escolarização moderna” (p. 186). Imbuído de princípios cartesianos de acumulação progressiva de conhecimentos, afirma a importância do encadeamento dos conteúdos, partindo do simples até atingir maior complexidade. Valendo-se da metáfora do relógio, prevê um reordenamento do tempo e do espaço escolar, assim, os alunos seriam divididos em classes conforme níveis de aprendizagem e as matérias, distribuídas por horários. É um precursor do método simultâneo, declara que o “[…] professor deveria imitar o Sol” (p. 188), e, assim, irradiar-se igualmente sobre todos os seus alunos. Critica aos exercícios de memorização que não viessem acompanhados pela prévia compreensão. É contrario ao excesso de horas na escola, acreditando que o exagero do tempo escolar acarreta perda da concentração. Desse modo, pode-se dizer que Comenius confere determinada precisão à vida escolar, por meio da colocação de regras claras que deveriam ser internalizadas por discentes e docentes.
O texto avança e apresenta concepções dos colégios jesuíticos, no século XVI, e das escolas para crianças pobres concebidas por La Salle, em fins do século XVII. Em comum, os discursos dessas instituições, que disciplinam o saber, modelam corpos e mentes, como produtos do pensamento pedagógico anteriormente discutido no livro. A autora afirma que os colégios jesuíticos constituem referência para pensar a acepção de colégio que ainda há hoje, e o modelo lassalista constitui iniciativa pioneira para projetar aquilo que tempos depois seria denominado de escola primária.
Entre os objetivos primordiais dos colégios jesuíticos, estava o de formar uma elite letrada, eram, portanto, instituições destinadas às camadas sociais superiores, preocupadas em adquirir uma cultura geral. As aulas eram organizadas em explicações teóricas e em disputas, desdobradas em preleção, repetição, declamação, memorização e imitações literárias. Como princípios básicos, a subtração do tempo de convívio familiar, a ambientação em um espaço especificamente pedagógico, tendo-se em vista que os colégios eram geralmente internatos. Pretendia-se criar uma espécie de ambiente purificado, marcado pela vigilância no sentido de moldar os estudantes. O primeiro colégio jesuítico estabeleceu-se na cidade de Messina, em 1548, teve como inspiração os métodos de ensino da Universidade de Paris, pautados na preleção e repetição. Em 1599, sistematiza-se o Ratio studiorum, por influência de Erasmo e Vives, sobretudo, constitui-se em um programa escolar, pautado na ordem e na divisão dos estudos. É o produto de dezenas de anos de debates, um texto produzido a partir da recolha do que se acreditava serem as experiências de ensino bem-sucedidas.
Com relação às escolas dos Irmãos das Escolas Cristãs, liderados por La Salle, explica-se que foram iniciativas originais para as crianças do povo, raras naquela temporalidade. Tratava-se de um projeto de ensino elementar para as camadas populares, entretanto atraiu crianças de outras camadas sociais. Denominadas escolas de caridade, fundamentadas nos ensinamentos de leitura, escrita e cálculo, concebiam o princípio da simultaneidade e sucessão do ensino. Assim, primeiro se aprendia a ler, só depois as crianças seriam apresentadas à escrita, sendo primeira a letra bastão e depois a cursiva. Por último, os cálculos. Todos esses ensinamentos aconteceriam em meio a um ambiente permeado pela catequese e civilidade. Boto explica que, diante da falta de conhecimento de como ensinar tudo a todos, procurou-se separar grupos de alunos liderados por monitores mais avançados, essa prática seria o embrião do ensino mútuo, método de ensino desenvolvido posteriormente. Em termos da liturgia escolar, valorizava-se o silêncio que reverenciava, ao mesmo tempo, Deus e a instituição. A escola colocava-se como um local intermediário da vida: entre os assuntos mundanos e os divinos estaria a essência do conhecimento.
O livro se encaminha para o final, e sua autora produz uma reflexão acerca da quase invisibilidade das transformações que acontecem nos processos de escolarização, no passado e no presente. A escola moderna cria, em alguma medida, seu ritual de organização, trabalhando simultaneamente saberes e valores, estabelecendo rotinas, disciplina, hábitos de civilidade, permeados de racionalização. Reforça a tese da inscrição da instituição escolar no processo de construção do Estado moderno. Alerta para a construção desse novo lugar social ocupado pela escolarização, em uma Europa que se urbaniza sob a égide do capitalismo comercial, da Reforma Protestante e do advento da cultura impressa. Nesse sentido, a escola é a instituição que se dá a ver como lugar primeiro do cultivo da racionalidade e da civilidade.
Para concluir, desafia o leitor a problematizar a escola contemporânea, conduz a pensar naquilo que pode parece natural a todos nós, sujeitos escolarizados, mas que carrega marcas da historicidade dos processos educativos. A liturgia escolar, que comporta ritualidades, é tramada pela autora, ao longo das páginas desse livro. Por meio de uma apropriação de sentidos do texto, que se traduz na resenha, pretende-se incitar o leitor a ir além dessas palavras e desenvolver a leitura da obra em questão. Encerramos, como iniciamos, trazendo as palavras de Carlota Boto, “[…] é preciso mudar o que estiver obsoleto. É preciso preservar o que considerar valoroso. É fundamental haver o fortalecimento de projetos políticos-pedagógicos democráticos. A transformação desejada é obra dos próprios agentes envolvidos na instituição escolar” (p. 293).
Notas
1. B Almeida foi responsável pela concepção, delineamento, análise e interpretação dos dados; redação do manuscrito, revisão crítica do conteúdo e aprovação da versão final a ser publicada.
Dóris Bittencourt Almeida – Doutora em Educação, Professora Associada I de História da Educação da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFRGS. E-mail: almeida.doris@gmail.com
Catholic orientalism: Empire, Indian knowledge (16th-18th centuries) – XAVIER; ŽUPANOV (RH-USP)
XAVIER, Ângela Barreto; ŽUPANOV, Inês G.. Catholic orientalism. Empire, Indian knowledge (16th-18th centuries). Nova Deli: Oxford University Press, 2015. 416 pp. Resenha de: GONÇALVES, Margareth Almeida. “Orientalismos” e arquivos esquecidos da época moderna. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
Catholic orientalism, publicado 37 anos após a edição princeps Orientalism por Edward Said, é um livro seminal aos estudos sobre a construção da(s) alteridade(s) indiana(s) na primeira mundialização ocidental através da grade do catolicismo, percorrendo percursos de teoria e metodologia distintos do pensador palestino. A contribuição de Catholic orientalism insere-se no amplo esteio de estudos críticos das últimas décadas à perspectiva saideana de imutabilidade e congelamento das relações de dominação. Tal abordagem ignora tanto as ambivalências das relações de poder quanto o componente de agência do “dominando”, sucessivamente subtraído da análise no complexo quadro dos processos de circulação e apropriação de conhecimento e informação dos encontros culturais. Das páginas de Catholic orientalism adquirem espessura epistemológica os repertórios de escrita do primeiro orientalismo, na ideia de construção e imaginação europeias sobre o Oriente por um dossel do catolicismo de Portugal e Roma papal na Época Moderna. Trata-se de uma renovação às análises da produção de saberes sobre a Índia, propiciadora de inflexões ao campo de conhecimento da historiografia do Império português, com desdobramentos mais amplos no rompimento de consensos reducionistas das conexões entre Ocidente e Oriente providos pelas versões do orientalismo francês e anglo-saxônico do final dos Setecentos. O conceito de “orientalismo católico” introduzido pelas autoras, Ângela Barreto Xavier e Inês Županov, evoca da invisibilidade um vasto arquivo documental de saberes e de práticas de conhecimento compostos no âmbito do Império português sobre a Índia. Esse conjunto de saberes foi remetido ao esquecimento no triunfo das abordagens atravessadas pelo crivo da razão da ciência moderna, paradigma dominante a partir do século XVIII. Redesenhar o mapa dos saberes católicos – os lugares de produção e as operações escriturárias – configurados em escala global à Época Moderna organiza as três seções de Catholic orientalism, em que sobressaem sensíveis percursos intelectuais por vasta historiografia, na combinação de sofisticado debate teórico e de metodologias heterodoxas das perspetivas foucaultinas e da chamada “grounded theory”. Entre os séculos XVI e XVIII, perscrutam-se grades de conhecimento e relações de poder sobre a Índia simultaneamente nas perspetivas do micro e macro, do local e global, por meio dos roteiros do catolicismo. De maneira distinta dos orientalismos dos Oitocentos, o orientalismo católico caracteriza-se pela natureza fracionada das instituições, dos conhecimentos e arquivos assinalados pela dispersão da produção. A fragmentação contribuiu ao apagamento de corpora dos conhecimentos orientalistas produzidos pelo catolicismo imperial de Portugal e igualmente da Roma papalina, importante centro produtor de abordagens sobre o Oriente na crescente sistematização de saberes asiáticos na fundação da congregação de Propaganda Fide, em 1622, com irradiações nos Seiscentos e séculos ulteriores. O livro propõe uma periodização do catolicismo entre os séculos XVI e XVIII, balizamentos entre os capítulos primeiro e oitavo. Uma das inúmeras qualidades da estrutura do livro está no eixo comparativo da análise seja com os espaços do Atlântico português, seja com a América espanhola. Destaca-se, por sua vez, em oferecer excelentes insights a futuras investigações e estudos de caso em torno do que podemos denominar intuitivamente de um “americanismo católico”, em desdobramentos a perspectivas já trilhadas por Serge Gruzinski e Jorge Cañizares-Esguerra, ambos citados em segmentos variados do livro.
Dentre a vasta produção das autoras, marcada por um acúmulo de investigação e erudição, salientam-se as obras sobre os jesuítas e franciscanos na Índia, respectivamente Disputed missions: Jesuit experiments and Brahmanical knowledge in seventeenth century India (1999) de Inês Županov, e A invenção de Goa: poder imperial e conversões culturais nos séculos XVI e XVII (2008) de Ângela Barreto Xavier. Catholic orientalism resulta da interlocução desafiante entre duas imponentes especialistas de presenças portuguesa, italiana e francesa na Ásia à Época Moderna, em que ganha o leitor, constantemente desafiado pelo fluxo narrativo vertiginoso de intensa pesquisa e interlocuções historiográficas cerradas.
A primeira seção, Imperial itineraries, consta de três capítulos. O primeiro, Making India classic: exotic and oriental, reflete as condições de emergência de saberes sobre a Índia por uma geração dos Quinhentos que orientalizou a Índia e fabricou Portugal mimetizado na Antiguidade romana. Duas categorias fulcrais à formação de corpora escriturários da Índia na primeira Época Moderna são expostas: orientalismo e classicismo. Delineia-se a imaginação cultural e política de Portugal no Oriente no eixo de similitude entre Portugal e o Império romano – a apropriação e ressignificação da Antiguidade pela expansão marítima, o protagonismo dos portugueses e a simbologia da nova Idade de Ouro. Tal conexão articula João de Barros (1496-1570), o Lívio português, e João de Castro (1500-48), o Cipião africano, ao universo dos Quinhentos. A associação entre o humanista, feitor da Casa da Índia, e o vice-rei do Estado da Índia permite às autoras a análise fecunda de conexões entre texto e imagética, como na referência à invenção da Índia na composição de Ásia na prodigiosa tapeçaria em estilo flamengo, ilustrando a vitória no segundo cerco de Diu (1546) e a entrada triunfal de João de Castro em Goa, atualmente no Kunsthistorisches Museum em Viena.
A formulação de modalidades de compreensão e narração sobre o sul asiático no século XVI estriba um primeiro período assinalado pela fragmentação da informação, em que predominam o controle e a hegemonia dos agentes das comunidades locais. A segunda metade dos Quinhentos distingue-se pela expansiva relevância política e a complexidade da produção de conhecimento sobre a Índia em compilações como o tratado de Garcia de Orta (Os colóquios dos simples e drogas da Índia, 1563), a geografia de Fernão Vaz Dourado (Atlas, 1571), as narrativas históricas de Fernão Lopes de Castanheda (História do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, 1551) em ampliação do legado de João de Barros (Da Asia, 1552). Incluem-se ainda o poema épico de Camões (Os Lusíadas, 1578) e o relato de aventuras de Fernão Mendes Pinto (Peregrinaçam, primeira edição em 1664).
O segundo capítulo, Empire and the village, avança na análise da montagem de uma ciência da administração, suporte das práticas de governança. Na esteira das abordagens de Christopher Barly e Bernard S. Cohn para o Império britânico destaca-se a gênese da formulação de conhecimentos específicos da prática de governação na formação de uma proto-burocracia de funcionários, em que as autoras oferecem uma revisão à historiografia sobre a Índia na Alta Idade Moderna e a produção do que denominam conhecimento útil e pragmático. Assinalam o papel das populações nativas na produção de uma ciência da administração nos espaços coloniais na Índia. São abundantes as informações propiciadas por fontes como o Foral de Mexia de 1526 no mapeamento da população e dos territórios goeses, suprindo o centro do Império de informações obtidas da interação entre colonizados e agentes régios. O capítulo tangencia políticas de governo dos vice-reis, no exemplo de d. João de Castro (1545-1548) que, na esteira do governador Martim Afonso de Souza (1542-1545), articulou poder político e construção de memória, geradora de saberes sobre os territórios. Anteriores às imagens publicadas pelo insigne livro do neerlandês Jan Huygen van Linschoten (1563-1611) ao final do século XVI, as ilustrações de variados costumes das partes dos mundos portugueses além do cabo da Boa Esperança que constam do Codex Casanatense foram produzidas durante o governo de d. João de Castro, desvelando um manancial de surpreendente colorido dos súditos orientais do monarca português. Outros conjuntos documentais relevantes integram o arquivo colonial entre os quais a compilação da comunicação entre autoridade régia e o vice-rei em Goa, que compõe o Livro das Monções, no recurso ao vocábulo de alusão aos circuitos sazonais que condicionaram os deslocamentos entre Ásia e o Atlântico dos Quinhentos ao século XVIII. A riqueza do volume de fontes, embora disperso, da primeira mundialização europeia combina a escala local à global nos processos de decision-making imperial. A primeira seção do livro encerra a ampliação da análise do Império dos trópicos no foco dos atores em ação na posse da natureza na enunciação de uma história natural: médicos, mercadores e missionários.
O terceiro capítulo, Natural history: physicians, merchants, and missionaries, inicia pela menção ao médico cristão novo Garcia Orta em um percurso através de obras variadas que projetam o acúmulo de conhecimento sobre a natureza dos espaços do Leste por meio da disciplina de história natural conformando o mapeamento dos lugares de produção e dos produtores de saberes de botânica, farmacologia, das artes médicas de curar. Incluem-se conhecimentos relacionados à história natural que integraram interesses fragmentados de flora e fauna locais, como também de drogas e especiarias medicinais aplicadas a doenças. Esses escritos projetam tópicas semelhantes aos da literatura de viagem identificada à presença portuguesa na Ásia e Brasil. Xavier e Županov incluem a parte do Atlântico e da América portuguesa na montagem de arquivos de história natural em que a concepção de utilidade foi central no modus operandi português; adquire curso a positivação da experiência direta.
Catholic meridian, título do segundo segmento do livro, unifica três capítulos na consolidação de regimes de saberes do catolicismo acerca da sociedade e religiões locais pelos poderes interativos e competitivos de disputa de conhecimento e território entre monarquias ibéricas, papado e a França. Distribuídos pelos centros emissores da rede de missionários, os agentes foram jesuítas, franciscanos e religiosos vinculados à ação da Propaganda Fide. Segundo as autoras, o orientalismo católico transformou-se em uma entidade compósita e cosmopolita no ambiente de disputas da Europa católica no sul da Ásia.
Em Religion and civility in “Brahmanism”: Jesuit experiments, quarto capítulo e primeiro da segunda unidade, o protagonismo está nos missionários da Companhia de Jesus, em que a produção discursiva segmenta religião e ritos civis. A longa tradição dos jesuítas na valorização do estudo das línguas locais concretizou-se na produção de gramáticas e vocabulários. A opção jesuítica pelo “diálogo cultural” através de uma estratégia evangelizadora fundada no método da acomodação influiu sobremaneira a redefinição da idolatria pelo traço civilizacional indiano, defendida por alguns jesuítas nos episódios da controvérsia dos ritos malabares. A interação com os especialistas religiosos indianos intervém nas etnografias e descrições do corpus textual jesuítico. De acordo com Xavier e Županov, a controvérsia dos ritos e costumes no sul da Índia constitui um dos momentos fundadores do orientalismo católico como “ciência do outro” no manejo dos interesses europeus. Também a metodologia dos missionários católicos, expurgada dos fins soteriológicos, aproxima-se dos preceitos de sustentação científica do orientalismo britânico desenvolvido pela Asian Society em Calcutá, fundada nos moldes da Royal Society de Londres por William Jones (1726-1794).
Franciscan orientalism é o título do capítulo seguinte, nos termos das autoras, um guia do orientalismo franciscano nos séculos XVII e XVIII. Embora disperso e não unificado como o corpus documental jesuítico, centralizado em Roma, o arquivo escriturário franciscano manifesta extraordinária fortuna de textos de corografia e história, em que o preceito teológico e de letramento do medievo de valorização do contato com o mundo natural e das práticas de coleta perdura em obras escritas por franciscanos da Índia. Segundo as autoras, as práticas e os regimes de escrita orientalistas implicados nas obras de franciscanos amoldaram a construção da Índia portuguesa. O percurso através de bibliotecas diversas de franciscanos em Lisboa desvela acervos de manuscritos e impressos do orientalismo franciscano em coleções de títulos de línguas orientais, documentos sobre a Índia em memórias, textos de filosofia, história, “ciências”, que apontam para um diverso cânone orientalista. Por sua vez, os franciscanos da Índia representam perspectivas crioulas que vindicaram com tenacidade o pertencimento ao Império português. Conquista espiritual do Oriente (1636), tratado em três volumes de Paulo da Trindade (1570-1651), franciscano macaense da província de São Tomé da Índia da Regular Observância, inscreve-se no repertório da escrita de uma história geral da ordem e incorpora ademais a tese da anterioridade dos frades menores na Ásia frente aos jesuítas e a concomitante defesa de autonomia dos franciscanos da Índia em relação aos do Reino. Nesse mesmo horizonte intelectual, está Relação defensiva dos filhos da Índia oriental (1640) de frei Miguel da Purificação, confrade de Paulo Trindade. Originário de Tarapor na Índia, Purificação, em périplo globalizado, frequentou a cúria romana de Urbano VIII e a corte Habsburgo de Filipe IV nos anos de 1630. Note-se no capítulo a variedade da escrita franciscana no pertencimento a distintas comunidades imaginárias de conhecimento dirigidas por sua vez a audiências diferentes. Muitas formas de pensar e tematizar o orientalismo. A associação entre orientalismo e imperialismo português observa um traço indelével do regime da escrita franciscana de poder. Diferenças entre a escrita de leigos e religiosos, de obras produzidas na metrópole e na colônia e das formas de apropriação das tradições grega e romana forjam parâmetros do repertório escriturário não somente de franciscanos, mas extensivo ao espectro textual dos orientalismos na historiografia da Época Moderna.
O sexto capítulo encerra a segunda parte do livro no percurso por inúmeras gramáticas, vocabulários produzidos por traduções de missionários jesuítas e franciscanos. As autoras exploram a variedade e riqueza de trabalho linguístico seminal ao orientalismo católico, posteriormente base dos novos orientalismos francês e britânico.
A terceira e última seção – Contested knowledge – reúne dois capítulos que analisam a consolidação da dominação imperial portuguesa e a fase derradeira do primeiro orientalismo. O sétimo capítulo discorre acerca das disputas pelo lugar de ancestralidade do cristianismo na Índia entre as elites locais brâmane e charodo, na condição de descendentes únicos de Noé e do rei Gaspar, um dos três reis magos da tradição cristã. Nas primeiras décadas dos Setecentos, na trilha fundadora do que as autoras designam por “orientalismo de dentro”, inaugurada anteriormente por Mateus de Castro (1594-1677) no breve tratado Espelho de brâmanes – a notável expressão da voz bramânica -, ampliam-se os escritos redigidos por membros emergentes do clero nativo nos exemplos de Auréola dos índios (1702) de Antônio João José Frias e na letra de Leonardo Paes no Promptuario de deffinições indicas (1713). No mesmo diapasão de um regime de escrita orientalista de autoria dos grupos nativos situa-se o tratado Espada de David contra o Golias do bramanismo (c. 1710) de João da Cunha Jacques que exalta o contributo dos charodos à Índia cristã. A singularidade desses grupos desponta no controle da linguagem do colonizador, alentando escritas imaginativas que atendem interesses de grupos de estratos superiores nativos. Na argumentação do capítulo, destaca-se a relevância atribuída ao componente de agência aos grupos superiores autóctones no fortalecimento das posições internas da hierarquia de poderes locais na perpetuação da dominação imperial portuguesa.
O oitavo capítulo, Archives and the end of Catholic orientalism, expõe a fase derradeira do orientalismo católico. As autoras delineiam três itinerários do conhecimento orientalista no ocaso do século XVIII. Por breve período, Roma tornou-se o centro do orientalismo católico europeu – destaca-se a análise do percurso da produção intelectual do carmelita descalço croata Paulinus a S. Bartholomaeo (1748-1806). Um segundo itinerário tem por foco a constituição do orientalismo por Paris em que cabe atentar ao lugar dos acervos jesuítas na Índia francesa de Pondicherry no mercado de obras sobre o Oriente no período anterior à supressão da Companhia de Jesus entre 1759, em Portugal, e 1773, afinal em Roma, arquivos que assinalam a fundação dos estudos de indologia na França. E, o terceiro itinerário, da Índia e Londres britânicas, em que o orientalismo católico, misturado e baseado no conhecimento local, foi apropriado e invisibilizado pela nova composição imperialista.
O epílogo do livro encerra o opróbio do orientalismo católico no recurso a uma análise fina e densa da cidade de Goa do vice-reinado de Francisco de Assis de Távora (1750-1754). Viceja-se o ápice do esplendor da corte do marquês de Távora em Goa e do anúncio paradoxal do declínio do orientalismo católico. A presença de tópicas em torno de Alexandre o Grande no imaginário português repete-se no universo goês, uma espécie do que as autoras nomeiam de “novo totemismo”. A conclusão de Catholic orientalism, na reflexão da conexão entre orientalismo e o universo da ópera à época dos Távora em Goa – exibição das peças operísticas Tragédia de Poro e Adolonimo de Sidonia durante as festas de aclamação do rei d. José I em dezembro de 1751 na cidade de Goa -, persevera no registro a Edward Said, agora em Cultura e imperialismo. O futuro drama dos Távora, condenados por regicídio e executados em 1759, constitui uma metáfora da agonia do Portugal pré-moderno durante o consulado pombalino e pari passu ao deslocamento do orientalismo português dos séculos anteriores à pecha de saber menor, contestado.
À glosa de encerramento da leitura, nos defrontamos com um livro da envergadura de um clássico, de leitura inescapável aos estudos sobre a Índia em que o catolicismo foi parte insuperável na produção do Oriente na Europa e do Oriente filtrado pelo catolicismo dos indianos na Época Moderna. Há muito que aprender na análise primorosa de Xavier e Županov em perspectiva que evita estereótipos e amplia sobremaneira horizontes através de debates sobre os impérios ibéricos, o papado e a produção de saberes sobre a Índia na Época Moderna, sombreados pelos orientalismos francês e britânico do final dos Setecentos e século XIX.
Referências
XAVIER, Ângela Barreto & ŽUPANOV, Inês G. Catholic orientalism. Empire, Indian knowledge (16th-18th centuries). Nova Deli: Oxford University Press, 2015, 416 p. [ Links ]
1Resenha do livro: XAVIER, Ângela Barreto & ŽUPANOV, Inês G.Catholic orientalism. Empire, Indian knowledge (16th-18th centuries). Nova Deli: Oxford University Press, 2015, 416 p.
Margareth Almeida Gonçalves – Margareth de Almeida Gonçalves é doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj, 2002). É professora associada do Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História – PPHR da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E-mail: mdagoncalves@gmail.com.
An Agrarian History of Portugal, 1000-2000: Economic Development on the European Frontier – FREIRE (LH)
FREIRE, Dulce; LAINS, Pedro (Eds). An Agrarian History of Portugal, 1000-2000: Economic Development on the European Frontier. Leiden/Boston: Brill, 2017, 347 pp. Resenha de: RIBEIRO, Ana Sofia. Ler História, v.72, p.227-231, 2018.
1 Dulce Freire e Pedro Lains, investigadores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, coordenaram a publicação da primeira síntese da história agrária portuguesa vista a partir de uma perspectiva de longa duração. A obra cobre um vasto período cronológico, desde cerca do ano 1000 até ao ano 2000, ou mais exactamente desde os tempos da reconquista cristã da Península Ibérica e do movimento que viria a resultar na independência de Portugal face ao reino de Leão e Castela até ao século XXI. Esta monografia colectiva de 347 páginas estende-se por nove capítulos, uma introdução e um apêndice muito útil de figuras, que incluem, por exemplo, mapas ou gráficos. Além dos editores, outros nove historiadores participam nesta publicação, sendo a maioria vinculada a universidades de Lisboa. Os editores procuram neste volume participar no que chamam de “renovação da história económica europeia”, propondo a inclusão do caso português no debate sobre os diferentes padrões e ritmos do crescimento económico europeu ao longo do tempo, variáveis em que se sustenta a historiografia corrente para a explicação da divergência do desenvolvimento económico entre o centro e as periferias do continente europeu (p. 1).
2 Partindo da ideia (preestabelecida?) da existência de um atraso português crónico e do seu padrão divergente de desenvolvimento (p. 3), este livro pretende (re)interpretar as características macroeconómicas do crescimento da produtividade e do produto agrícolas portugueses na longa duração, comparando-os com um cenário internacional mais vasto e integrando-os no desenvolvimento de outros sectores de actividade da economia nacional. Para isso, cada um dos nove capítulos analisa seis variáveis: (1) evolução demográfica e urbanização; (2) regimes de exploração e propriedade da terra; (3) padrões de povoamento e fixação à terra e produto agrícola; (4) mercados interno e externo; (5) mudanças tecnológicas; e (6) políticas relacionadas com a economia rural. Os nove capítulos encontram-se distribuídos por três partes, organizadas numa abordagem cronológica tradicional: a Idade Média, a época moderna, e a contemporaneidade, respectivamente. Uma quarta parte é constituída por um capítulo de reflexão e balanço sobre os resultados da actividade agrícola portuguesa no último milénio.
3 Contudo, esta divisão torna-se aqui e ali um pouco artificial, uma vez que os ritmos de evolução agrícola não se compadecem, frequentemente, com os cortes artificiais com que nós, historiadores, recorrentemente nos orientamos. Por exemplo, o corte cronológico feito exactamente em 1500, entre os capítulos 2 e 3 parece algo forçado por dois motivos. O primeiro, prende-se com uma série de continuidades e até de alguma redundância de conteúdos quanto a algumas das características da agricultura portuguesa, sendo a distinção mais relevante a introdução, ainda que limitada, das novas culturas ultramarinas e dos novos mercados facultados pela integração nos circuitos da economia colonial, pós-1500. Em segundo lugar, o próprio capítulo 6, “Gross Agricultural Output: a quantitative, unified perspective, 1500-1850”, revela uma acentuada diminuição no produto interno agrícola durante a década de 1520 (fig. 6.1, p. 187). Na realidade, este pode ser um dos novos dados deste livro e o corte entre capítulos faria mais sentido nesta cronologia. Por outro lado, parece aqui faltar um primeiro capítulo relativo à evolução das estruturas ambientais que suportaram o desenvolvimento da agricultura portuguesa: características climáticas, possibilidades químicas dos solos, recursos orográficos e hidrográficos. Um capítulo interdisciplinar escrito por geógrafos, engenheiros agrónomos, geólogos e especialistas climáticos poderia constituir uma grande mais-valia nesta obra, revendo e actualizando o valioso trabalho de Orlando Ribeiro1 e conferindo uma nova contribuição científica que orientaria o conhecimento histórico em geral e o trabalho deste volume, em particular.
4 É impossível sintetizar o conteúdo de cada capítulo nestas breves linhas. Por isso, esta recensão centrar-se-á nas grandes conclusões e equilíbrios da obra. Este livro é muito mais do que uma síntese do vasto número de monografias sobre o passado agrário português. Alguns capítulos partiram de uma análise mais detalhada da historiografia referente a cada período, mas conferindo uma consistência nacional que faltava, devido ao facto de muitos destes trabalhos se focarem em realidades locais ou regionais. Esta tarefa é bem conseguida no capítulo 2, da autoria de Ana Maria Rodrigues, referente aos impactos da Peste Negra na produtividade agrícola e nos mecanismos de recuperação emergentes após a epidemia. Também Margarida Sobral Neto, no capítulo 4, faz um excelente cenário da agricultura portuguesa desde 1620, debatendo sustentadamente a existência verdadeira de uma crise da agricultura portuguesa no complexo século XVII. Outros capítulos tentam reutilizar anteriores abordagens sub-sectoriais para elaborar séries econométricas mais detalhadas sobre o produto agrícola e a produtividade, assim como sobre o papel e o impacto do sector agrário no contexto geral da economia. Isto torna-se evidentemente possível na época estatística da contemporaneidade, entre 1820 e 2000. Os capítulos 7 e 8, da autoria de Amélia Branco e Ester Gomes da Silva, Luciano Amaral e Dulce Freire, representam mais do que uma abordagem quantitativa, uma vez que explicações qualitativas são necessárias para a compreensão dos cenários apontados. Além de constituírem uma boa ferramenta de trabalho e estudo para um público académico, pela sua proximidade cronológica, estes capítulos são uma boa base de consulta para os que tomam decisões no presente.
5 Mas são dois os capítulos que mais novidades trazem para este campo de investigação histórica. O primeiro, “The Reconquista and its Legacy, 1000-1348” (capítulo 1), de António Castro Henriques, deve-se tornar um capítulo de referência na historiografia medieval portuguesa a curto prazo. Ele não só é essencial para a compreensão do desenvolvimento agrário medieval português, mas também para a percepção do quão determinantes foram as características dos diferentes ritmos da Reconquista, no território que se tornaria Portugal, para a evolução do desenvolvimento agrícola. Eles estabeleceram as distintas estruturas de direitos de propriedade, os diferentes modelos de exploração da terra, os distintos regimes de plantação e de cultura, assim como ajudaram a condicionar as estratégias de diferentes instituições que tiveram a seu cargo a tarefa de povoar e desenvolver o território. Este período marcará indelevelmente as diferenças entre o norte e o sul do país, a forte persistência do regime senhorial de exploração da terra até bastante tarde, as preferências regionais entre monocultura ou policultura, entre as distintas adaptações do sector à agricultura de mercado ou à pecuária ou ainda à agricultura de subsistência, ainda tão presente em algumas regiões do país.
6 O segundo capítulo que saliento é o de Jaime Reis, o acima mencionado capítulo 6. Pela primeira vez, retrata a evolução do produto agrícola bruto em Portugal em época pré-estatística (1500-1850). Ainda que possa haver alguma cautela sobre a modelização desta informação e da representatividade da amostra documental, este é um grande avanço para a historiografia económica moderna portuguesa. Permite destacar um instável século XVI, um mais estável mas mais estagnado século XVII, e um crescimento assinalável no século XVIII, até cerca de 1740. Depois de 1757, o produto agrícola cresce até 1772, começando a decrescer até ao final das Invasões Francesas. Os fenómenos de setecentos estão bem contextualizados no capítulo anterior, de José Vicente Serrão. A queda das remessas do ouro brasileiro, as alterações políticas entre reinados e o envolvimento de Portugal em conflitos internacionais afectaram a produtividade agrícola, assim como condicionaram o acesso aos mercados de exportação tão importantes para o crescimento da primeira metade da centúria. Acredito que a segunda parte da obra, referente ao período moderno, ganharia se esta abordagem quantitativa (cap. 6) surgisse antes dos capítulos mais qualitativos (3, 4 e 5), pois salientaria a sua complementaridade. Estes explicam detalhadamente a evolução apresentada no capítulo 6. Esta é uma experiência que gostaria de sugerir ao leitor.
7 O volume termina com o capítulo 9, “Agriculture and Economic Development on the European Frontier 1000-2000”, da autoria de Pedro Lains, que se afigura muito além de uma súmula das conclusões anteriores. Depois de observar as grandes fases de crescimento da agricultura portuguesa, conclui que, na realidade, esta teve um crescimento lento, mas contínuo, ao longo do segundo milénio. As grandes inovações neste sector, ainda que chegando normalmente atrasadas e entrando com menos intensidade de que em outros países europeus, foram introduzidas, ainda que sem nenhum movimento disruptivo. Lains argumenta que esta evolução “bem sucedida” da agricultura portuguesa foi sobretudo impulsionada pela conjuntura interna de cada período (condicionantes ambientais, demográficas, de capacidade de investimento), embora reconheça que a “globalização e o crescimento das relações económicas internacionais” foram também relevantes na performance da agricultura nacional (p. 307).
8 Está já provado como o império não teve um impacto muito relevante na economia portuguesa,2 e é já conhecimento consolidado como o ouro foi crucial para o desenvolvimento da agricultura de mercado no século XVIII, em Portugal, mas acredito que as contingências históricas internacionais foram determinantes para o aumento das exportações agrícolas portuguesas, modificando mercados, procura e oferta. Falta ainda avaliar o peso das exportações no consumo total de produtos agrícolas portugueses, que estudos recentes já indiciam.3 O autor compara ainda a realidade portuguesa com a de outros espaços europeus, contestando as teorias da “divergência” ou da “pequena divergência”4 entre os ritmos de desenvolvimento agrícolas do norte e do sul da Europa, nomeadamente desde o século XVI. Comparando as taxas de crescimento do produto agrícola, o capítulo prova que Portugal seguiu as mesmas tendências da maioria dos países europeus, e que os casos da Holanda e da Inglaterra são excepcionais. Esta nova abordagem necessita ainda de um maior debate nacional e internacional entre historiadores económicos e também entre os especialistas em história rural. Esta recensão procura difundir estes resultados e promover tal discussão. Por exemplo, são os dados dos diferentes países compatíveis para serem comparados, nomeadamente no que toca ao período pré-estatístico?
9 Ainda que os diferentes autores da obra venham de diferentes escolas historiográficas – uns com formação puramente de história e outros de formação em economia –, e que tenham escolhido abordagens mais ou menos inovadoras, este volume apresenta uma forte consistência e coesão. Por um lado, todos os autores tentaram respeitar uma grelha de inquérito comum composta pelas seis variáveis acima descritas; por outro lado, os autores remeteram frequentemente para outros capítulos da obra, fazendo notar um esforço colectivo e um cuidado de contínuo conhecimento do trabalho simultâneo dos colegas. O livro foi pensado e preparado como um todo e não como uma soma de contribuições individuais, um processo difícil de implementar neste tipo de publicação. A obra é um excelente manual para o estudo do desenvolvimento da agricultura portuguesa para um público académico, não só nacional, mas também internacional. Uma vez que foi publicada em inglês, permite uma futura abordagem comparativa, em que o cenário português pode ser considerado. Ainda que tenha sido orientado para participar nos actuais debates sobre o fenómeno da divergência económica liderada pelo mundo ocidental,5 o livro acrescenta valor à historiografia portuguesa sobre a temática. Partindo de uma síntese, propõe novas interrogações e abordagens, assim como coloca a agricultura portuguesa em perspectiva face a outros espaços europeus, entrando em contradição com a ideia prevalente de um desenvolvimento agrário baseado na tradição e num atraso crónico.
Notas
1 Orlando Ribeiro, Portugal. O Mediterrâneo e o Atlântico: estudo geográfico. Lisboa: Letra Livre, (…)
2 Leonor Freire Costa, Nuno Palma, Jaime Reis, “The great escape? The contribution of the empire to (…)
3 Cristina Moreira, Jari Eloranta, “Importance of «weak» states during conflicts: Portuguese trade (…)
4 Robert Allen, “Economic structure and agricultural productivity in Europe, 1300-1800”. European R (…)5 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World Economy (…)
Ana Sofia Ribeiro – Universidade de Évora, Portugal. E-mail: asvribeiro@uevora.pt
Spinoza como educador – RABENORT (CE)
RABENORT, William. Spinoza como educador. Pref. Juliana Merçon; introd. Trad. Bras. Fernando Bonadia de Oliveira; tradução para o português GT Benedictus de Spinoza; coordenação Emanuel Angelo da Rocha Fragoso/Francisca Juliana Barros Sousa Lima. – 1.Ed. – Fortaleza: EdUECE, 2016. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.38, jan./jun., 2018.
O mesmo interesse pedagógico despertado pela filosofia de Espinosa na primeira década do século passado, período em que William Louis Rabenort publica “ Espinosa como educador ”(Spinoza as educator), reaparece aqui no Brasil no presente momento. A tradução realizada pelo Coletivo GT Benedictus de Spinoza, sob a coordenação do Prof. Emanuel Angelo da Rocha Fragoso e da Profa. Francisca Juliana Barros Sousa Lima, tem como objetivo reconstituir esse primeiro encontro das ideias de Espinosa com o campo da educação. É bem verdade que o filósofo do “infinito atual” ou do Deus sive Natura desperta um interesse mais pela profundidade e rigor de sua ontologia e a agudeza de sua análise política, do que propriamente de sua relação com a pedagogia ou escritos sobre a educação. Entretanto, é a própria filosofia de Espinosa que nos faz perceber que essas divisões de ciências ou saberes, na verdade, não se põem. Tudo o que existe, existe necessariamente e todas as relações existentes se conectam e se interconectam umas às outras, num turbilhão de causalidade que tem como único fundamento a substância absolutamente infinita. Sendo assim, se a educação não pode ser pensada sem relacioná-la à política, por que não pensar estes campos do conhecimento imersos numa ontologia do necessário? A maestria com que Rabenort conduz o leitor, interconectando a ontologia, a política e a educação em Espinosa, faz do seu livro uma obra necessária para os professores de filosofia e pedagogos repensarem os caminhos da educação. A tradução de Rabenort que vem a lume, e que tem como objetivo essencial contribuir para a elaboração de uma teoria da educação em Espinosa, talvez seja o início da percepção da importância da sua filosofia também para os educadores.
Em seu primeiro capítulo, intitulado “A possibilidade da Educação”, Rabenort confessa que em suas obras Espinosa não se preocupou explicitamente nem com a educação nem com as crianças. Entretanto, Rabenort chama a atenção para o fato de que a educação precisa ser pensada num âmbito maior que aquele circunscrito pela infância: “A educação é mais ampla do que a infância e o interesse de Espinosa deve ter sido pelos adultos.” (Rabenort, 2016, p.65 66). Não seria mais coerente educar os adultos para que posteriormente houvesse a possibilidade de os adultos educarem as crianças e jovens? Apesar de afirmar a incapacidade do vulgo para questões filosóficas, Rabenort nos convence de que Espinosa atesta a possibilidade de educação pela relação que manteve com seus amigos e correspondentes. É através da atitude pessoal do filósofo que podemos perceber a importância da educação implicada em seu sistema filosófico, já que Espinosa não deu um tratamento sistemático ou explícito para a educação.
Na filosofia de Espinosa os conceitos de necessidade e impossibilidade têm um significado universal, pois eles se aplicam a Deus e ao todo da natureza na qual o homem é apenas uma partícula. Sendo assim, é através dos conceitos de possibilidade e contingência, que possuem significado apenas para a existência humana, que devemos pensar a possibilidade de educação do homem numa doutrina construída a partir da ideia de necessidade: “A educação, até agora, está posta além da interferência humana. O professor deve ir com a maré, cujo fluxo é determinado pela configuração do universo” (Rabenort, 2016, p. 79). Visto que a capacidade de conhecimento do homem é limitada, o conhecimento absoluto e eterno é contrário à natureza humana.
No segundo capítulo, intitulado “Os elementos da Natureza Hu mana”, Rabenort introduz o leitor aos principais conceitos de Espinosa em relação ao lugar dos seres humanos como parte da Natureza sujeitos às leis de causa e efeito. Ele esclarece como são definidos os conceitos de essência, existência, causalidade, substância, atributos, a relação entre a mente e o corpo, além de enfatizar a importância que o corpo possui na filosofia espinosana destacando sua concepção de imaginação, memória e modos de conhecimento. Diferentemente de toda a tradição filosófica, para Espinosa não há abismo entre a mente e o corpo: ambos são a expressão de atributos que são diferentes mas que constituem a essência de uma mesma substância, isto é, Deus.
No terceiro capítulo, intitulado “A supremacia do intelecto”, Rabenort realiza o estudo da atividade natural do pensamento, a maneira como ele opera e a relação do pensamento com o seu objeto e conteúdo. A complexa teoria do conhecimento em Espinosa é analisada em sua distinção entre ideias adequadas (razão/intuição) e as ideias inadequadas (imaginação). O pedagogo enfatiza a importância da formação das noções comuns em Espinosa como base do raciocínio de todos os homens, visto que tais noções integram dentro de seu sistema o limiar entre imaginação e razão. Sem dúvida, na filosofia de Espinosa há uma semelhança entre raciocínio e causalidade, pois “nomear uma causa é oferecer uma razão” (RABENORT, 2016, p. 136) . A experiência nos fornece o conhecimento das coisas finitas existentes enquanto a razão faz perceber as coisas sub quadam species eternitatis .
O quarto capítulo é dedicado a pensar “As complicações de personalidade” que, segundo Rabenort, constituem a base da teoria política de Espinosa. Como bem analisa em seu livro, as diferenças de personalidade entre os homens são causadas por causas externas, as quais modificam seus respectivos desejos, já que estes são a essência do homem. Assim, a composição das forças externas que moldam a afetividade e que causam as diferenças de personalidade e disputas entre os homens prejudicam a possibilidade de sua união. Entretanto, Espinosa concorda com a definição de que o homem é um ser social, visto que a teoria educacional implícita na obra de Espinosa nos conduz à percepção de que nada é mais útil ao homem do que outro homem. Tanto a política quando a educação devem nos conduzir a essa compreensão: “o homem é um Deus para o homem”.
É apenas no último capítulo, “Os critérios da educação”, que Rabenort analisa de fato o problema da educação na filosofia de Espinosa. Pelo fato do homem ser um membro da sociedade, ele não existe isoladamente, mas em cooperação e harmonia com outros como ele. Rabenort propõe a tese de que Espinosa foi verdadeiramente tanto um professor quanto filósofo. É através da distinção entre experiência e razão, como duas formas de consciência, que podemos classificar o processo educacional em Espinosa. A base do currículo seria composta pela prioridade que Espinosa outorga aos dois itens da experiência: as relações sociais e a preservação da vida e da saúde. A habilidade política é entendida como o primeiro desejo que a educação deveria estimular. Porém, o curriculum, propriamente dito, é o próprio professor, pois ele tem a aptidão em auxiliar os homens para o exercício de seu poder racional: “O professor é a pessoa a quem é delegada, em razão da aptidão especial para a tarefa, a função da sociedade, que consiste em ajudar os homens a exercerem o seu poder de forma racional” (Rabenort, 2016, p. 186 – 187) . Apenas o conhecimento da experiência não é suficiente para tornar o homem consciente de si, será necessário conduzir os homens ao entendimento da união que existe entre a mente e a natureza inteira. Como vimos, o homem possui naturalmente a predisposição para a sociabilidade e desenvolvimento da razão; sendo assim, o professor deve apenas desenvolver o fortalecimento que a certeza racional pode proporcionar. Rabenort alerta que tanto a razão quanto a intuição (insight), embora também envolvam cooperação, devem ser o exercício da energia humana autoiniciada e autocontrolada: “A educação, para merecer esse nome, deve ser autoeducação (self-education).” (Rabenort, 2016, p. 201) . Portanto, o obra de Espinosa contempla a atividade essencial da educação que nada mais é do que o ensinar e o aprender entre homens que se dedicam ao conhecimento da Natureza. Numa sociedade em que os homens cada vez mais desenvolvem aversão à política e a desvalorização dos professores, esta obra torna-se fundamental.
Referências
RABENORT, William (2016). Spinoza como educador. Pref. Juliana Merçon; introd. Trad. Bras. Fernando Bonadia de Oliveira; tradução para o português Coletivo GT Benedictus de Spinoza; coordenação Emanuel Angelo da Rocha Fragoso/Francisca Juliana Barros Sousa Lima. – 1. Ed. – Fortaleza: Eduece, 2016.
Juarez Lopes Rodrigues – Doutorando Universidade de São Paulo. E-mail: juarez.rodrigues@usp.br
How the West Came to Rule: the Geopolitical Origins of Capitalism | Alexander Anievas e Kerem Nisancioglu
This ambitious book covers over six hundred years of global history and offers a specifically ‘geo-political’ correction to a Marxist understanding of the emergence of capitalism. The book has extensive chapters on the Mongolian Empires, the clash between Hapsburgs and Ottomans, the impact of the Black Death , the turn to slave plantations of the Americas and the profits of British rule in India. While developing a critique of traditional Marxist accounts, they uphold both Marx’s concept of ‘primitive accumulation’ and what they call the ‘classical’ narratives of successive ‘bourgeois revolutions’ , each helping to confirm a capitalist dynamic and the ‘Rise of the West’. According to the ‘consequentialist’ doctrine they espouse the nature of revolutions is set by their results rather than their agents. The authors structure much of their narrative around a critique of ‘Eurocentrism’, which they see as conferring an unjustified salience and superiority on western institutions and a failure to register the weight of geo-political advantages and handicaps. The authors supply a new narrative that reworks the ‘transition debate’, Trotsky’s theory of ‘uneven and combined development’ and a concept of the ‘international’ derived from International Relations, all of this from an avowedly ‘anti-capitalist’ standpoint.
The book develops a historical materialist approach but does not suppose that human history is an orderly march of successive modes of production, each born out of the contradictions of their predecessors. While their critique is welcome so is their refusal to throw out the baby with the bath water. The elaboration of theoretical models of social relations, and the identification of characteristic tensions within them, is an essential part of making sense of history. The book takes seriously the task of identifying the succession of structures and struggles that enabled capitalism to embody and promote increasingly generalized and pervasive commodification.
The authors argue that early capitalism was a more complex and global affair than is often allowed. Heteroclite labour regimes, and types of rule, gave rise to uneven and combined development in which the new and the old were closely interwoven. The authors often quote Marx’s powerful passage from Capital, volume 1 chapter 31 sketching the successive moments of ‘primitive accumulation’, linked to gold and silver from the Americas, the Atlantic slave trade, slave plantations, trade wars, colonialism and so forth. New forms of plunder and super-exploitation punctuate later decades and centuries, with Western rule casting a long shadow. ‘Primitive accumulation’ was not just a passing phase but was stubbornly recurrent. It supplied would-be capitalists with the capital and labour force they otherwise lacked. The racialization of the enslaved and/or colonized generated an intermediary layer of ‘free workers’ that, if given slightly easier conditions, would become useful allies of the slaveholders, serving in their patrols and militias. Capitalist development, in this account, is invariably linked to racialization and super-exploitation, and is devoid of a progressive dimension.
The book’s subtitle presumably supplies a key element of the answer to the question posed by the main title. The West’s rise to global ascendancy is a team race which is won by Britain around 1763. (p. 272) The British win because their maritime-manufacturing complex is now turbo-charged by capitalism. While we may anticipate this conclusion much of the book’s interest lies in the account it gives of how this point itself was reached.
The authors explain how Europe’s mercantile and proto-capitalist elites exploited the toilers of the ‘East’ but they grant that it can also sometimes be thought of as the global ‘North’ exploiting the global ‘South’. While the East and South were mercilessly plundered they contributed to the rise of the West in other ways too.
Anievas and Nisanancioglu – henceforth AA and KN – urge that in preceding epochs the Mongolian empires created relatively peaceful conditions along the Silk Road and in adjacent areas which were consequently favorable to the revival of Western commerce in the Baltic and Mediterranean. The nomad’s military prowess inspired emulation. They observe: ‘The Mongol Empire also facilitated the diffusion of such key military technologies as navigational techniques and gunpowder from East Asia to Europe all of which were crucial to Europe’s subsequent rise to global pre-eminence…The Mongols would acquire such techniques in one society and then deploy them in another…’ (p. 73). We can agree that these exchanges were highly significant without seeing those involved as capitalists.
The authors urge that the hugely destructive Mongol invasions of China led its rulers to abandon their projects of expansion and to stand down the voyages of Admiral Zheng He’s mighty fleet. As Joseph Needham used to insist, China made an outstanding contribution to the science and material culture of the West. AA and KN remain focused mainly on the geopolitical and do not concern themselves with Needham’s “Grand Titration”.
It is fascinating to consider what would have happened if Chinese sailors and merchants had made contact with the Americas before the Europeans. Admiral Zheng He repeatedly sailed to the Indian Ocean but neglected the Pacific. If he had turned left rather than right, and sailed to the Americas, China might have been able to pre-empt Columbus and Cortes, especially when it is borne in mind that a silver famine was asphyxiating the Chinese economy at this time. A Chinese mercantile colony in Central America would have thrived on the exchange of silk fabrics and porcelain for silver. The Aztec and Inca rulers would, perhaps, have been able to strengthen their defenses with Chinese help (and gunpowder) and repulse Spanish attempts to conquer the ‘American’ mainland. (China did not go in for overseas territorial expansion).
AA and FN confer great importance on the bonanzas of American silver and gold arguing that the differential use made of precious metal plays a key role in explaining the great divergence between West and East. ( p. 248-9) But they and the authorities they quote do not explain how the silver and gold were extracted and refined, processes that fit their mixed labour model because it involved tribute labour and wage labour but fell short of a capitalist dynamic because the indigeneous miners had to spend most of their earnings on buying food and clothing from the royal shops that were kept supplied with these essentials of life in the mountains from the tribute goods which the Spanish overlords secured from the native villages. This closed circle of production and consumption led to output of thousands of tons of silver, with the royal authorities taking the lion’s share but did not promote capitalist accumulation.
In their own accounting for the divergence between East and West they cite the ‘indispensable’ work of Jack Goody (p. 304, footnote 22) but do not take sufficient account of his stress on differences concerning family form and the regulation of kinship. Goody maintained that clans and kin accumulated so much power in the East that they weakened the state’s power to tax and regulate. In Goody’s view this challenge to the power of kinship was a Western European phenomenon and was driven by the material interests of the Catholic Church. (The Development of the Family and Marriage in Europe, 1988). This interesting line of thought has not received the attention it deserves from historical materialist accounts, including How the West Came to Rule. Whether it is right or wrong, it points to a level of analysis of social reproduction that should figure in any materialist account.
AA and KN eschew speculative ‘counter-factuals’, but they do claim a positive role for Asian empires despite the latter’s often-tight mercantilist policies. They have little time for the argument of some global historians that the land-based empires of Asia briefly encouraged trade only to strangle its autonomous momentum by over-regulating and over-taxing it. Ellen Wood has argued in The Empire of Capital (2004) that the geographical fragmentation of Europe allowed for the rise of sea-borne empires whose merchants became more difficult to control. But for AA and KN the empires were already highly diverse and made their own qualitative input to the rise of Western capitalism through a multitude of dispersed influences and contributions.
Thus the rise of the Ottomans issued a powerful check to European expansion and tied them down in the Balkans, the Adriatic, the Levant and North Africa. According to AA and KN this blockage to the East allowed the western Europeans to seize their chance in the Americas and to initiate a new type of global trade: ‘By blocking the most dominant European powers from their customary conduits to Asian markets, the Ottoman’s directly compelled then to pursue alternative routes.’ (p. 115). However this free-floating compulsion was only compelling because of the breakthrough of a new and more intense – now capitalist – consumerism.
The authors do give importance to Dutch and English trading patterns and to what they call ‘company capitalism’, the state chartering of companies to trade with the East and West Indies. They see these companies as dominating the English and Dutch maritime economy of the 17th and 18th century (p. 116). They urge that the Dutch were constrained by the fact that they were reliant on Ottoman sources for cotton and other vital raw materials for their textile manufacturing. (p. 117) The English eventually prevail because they are less exposed to continental warfare than the Dutch.
The geographic advantages conferred by England’s relative ‘isolation’ from the continent enabled it to outflank its rivals. (p. 116). They conclude: ‘English development in the sixteenth century can best be understood as a particular outcome of “combined development” […] Ottoman geopolitical pressure must therefore be seen as a necessary but not sufficient condition for the emergence of agrarian capitalism in England.’ (p. 119) The causality embraced by the authors in these passages is a weak one whether addressing the impetus to trade, England’s ‘isolation’ or the authors’ exaggerated view of ‘company capitalism’. Indeed the turn to the Americas should be seen as a having two distinct waves, firstly the silver surge of the mid and late 16th century while allowed Europe to buy Eastern spices and silks and, secondly, the rise of the sugar and tobacco plantations of the Americas, which really belongs to 17th century and after. It was not until the early 17th century that Dutch and English merchant adventurers turned to setting up plantations to meet the popular demand for sugar and tobacco, discovering that this offered far larger returns than either the Eastern trades or preying on Spanish fleets. At first these plantations were worked by free, European youths but demand was so buoyant that the merchants brought African captives who had greater immunity to tropical diseases and brought valuable agricultural skills. The Dutch West and East India companies played a role in this because they blazed a trail for English and French planters. Once the Dutch had lost Angola, Brazil and New Amsterdam, their operations became a side-show.
How the West Came to Rule pushes the debate about the transition to capitalism into new areas and that is itself salutary. The geo-political perspective yields new insights. But the argument from geo-political necessity to economic novelty moves too rapidly and insists that the emergence of capitalism in England has no primacy in the switch from luxury trades to building slave plantations (this gruesome primacy should be a source of national shame not pride).
As already mentioned, the Eastern trade was largely confined to small quantities of expensive luxuries in the 16th and 17th centuries. The Dutch and English 17th century interlopers and marauders, with their contempt for Spanish mercantilism, pioneered the large scale Atlantic trade in items of popular consumption. Before long the European companies were left far behind and the free-lance slave traders, privateers and smugglers became the champions of laissez faire and free trade, and became thoroughly respectable.
Sugar and tobacco, the new popular pleasures, came to Europe not from Asia but from Brazil, Barbados and Virginia. The surge of plantation development was initiated by ‘New Merchants’ not by the official trading companies. The chartered trading companies played a very modest role because they embodied the backward practices of feudal business, with its royal charters. By contrast the New Merchants favoured a much looser variety of mercantilism that allowed for competition and innovation. Whereas the companies were looted by their own management, the ‘New Merchants’ kept a close eye on their investments. The initiatives of the new merchants stemmed from a surge of commodification and domestic demand, itself the product the spread of capitalist social relations in the English countryside as well as towns. Tenant farmers, improving landlords, lawyers, stewards, and the swelling ranks of wage labourers, had the cash or credit to buy these popular treats and indulgences. Without the forced labour of the plantations, and Hobsbawm’s ‘forced draught’ of consumer cash, these trades would not have kindled the 18th and 19th century blaze of the hybrid Atlantic economies. AA and KN do register the plantation revolution but insist that it would be wrong to see English capitalism and wage labour as a ‘prime mover’.
How the West Came to Rule has a good chapter on the slave plantations and their massive contribution to capitalist accumulation in the long 18th century. But AA and KN do not concede that the plantations were summoned into being by the cash demand generated by the world’s first revolutionary capitalism. They underplay the role of the New Merchants (and their captains and seamen) with their double role as entrepreneurs and political leaders. This was the epoch of the English Civil War and ‘Glorious Revolution’. The classic work on the New Merchants stresses their link to England’s transition to capitalism is Robert Brenner’s Merchants and Revolution (1993). One might have thought that Brenner’s work would be grist to the mill so far as AA and KN are concerned. However the reader of How the West Came to Rule is repeatedly warned not to be misled by Brenner’s account of capitalist origins and development (see especially pp. 22-32, 118-9, 279-81 amongst many others).
AA and FN contest the novelty and centrality that Brenner accords to the spread of capitalism and commodification in 16th and 17th century rural England. They see instead a long chain of ‘value added’ contributions from colonial or semi-colonial Asia, Africa and the Americas, all helping to bring global capitalism into existence. They concede to Brenner ‘the great merit of de-naturalising the emergence of capitalism’ (p. 81) but dispute the idea that this remarkable new twist in human history was the unintended result of a three-way struggle between English landlords, tenant farmers and landless labourers as he argued in his now-classic articles in Past and Present and New Left Review in the 1970s and 1980s. Brenner did not himself always connect his decisive research into the New Merchants with the so-called ‘Brenner thesis’. Nevertheless he identified the crucial break-through, showing that agrarian capitalism developed from landlords who demanded money rents, tenant farmers needed cash to pay rent, and landless rural workers, who had to sell their labour power if their families were to be housed and fed. Farmers who needed or wanted to pay for extra hands had an incentive to seek labour-saving innovations. The wages and fees paid by employers would also helped to swell the domestic market, encouraging commodification. Since agriculture accounted for at least 70% of GDP its transformation had great consequences.
Jan de Vries argues that early modern Europe was gripped by an ‘industrious revolution’ reflecting a more intense labor regime and a proto-capitalist consumerism. A taste for tobacco, sugar, coffee and cotton apparel encouraged many into new habits premised upon the increasing importance of the wages, rents, profits, fees and salaries of an Anglo-Dutch ‘market revolution’ in the years 1550-1650. Shakespeare’s The Tempest (1614) gives us a glimpse of the feasting and rebellions that early modern capitalism, with its visions of plenty, could inspire and of the varieties of enslavement it entailed. By the mid-19th century daily life had been re-shaped by sweetened beverages, jam, confectionary, washable clothes, colourful prints and the chewing or smoking of tobacco.
AA and KN decry what they term the ‘ontological singularity’ of Brenner’s economic logic, urging that it leads to a reductionism that has no space for race or patriarchy. They argue that ‘patriarchy and racism’ are ’not external to capitalism as a mode of production but constitutive of its very ontology.’ (p. 278). It is difficult to see how any account could be more reductionist than one which simply (con)fuses capitalism with racism and patriarchy. Nevertheless there are interesting questions which arise here. Could capitalism survive if deprived of the fruits of gender and racial exploitation? There are certainly feminists and anti-racists who believe that much can be achieved short of the total suppression of capitalism – and there are some who believe that better versions of capitalism could assist in promoting feminist and anti-racist goals. The spectrum here was illuminated by Nancy Fraser’s Fortunes of Feminism (2014).
Back in the day the more radical British and US abolitionists campaigned courageously for racial justice and equality in the name of a ‘free labour’ or forty acres and a mule, demands compatible with capitalism. Socialists might be happy to form alliances for progressive goals to be achieved ‘by any means necessary and appropriate’. If we grant the theoretical possibility that patriarchy and racism could be suppressed but capitalism remains, this outcome might still prove to be undesirable, impractical and unstable. The intimacy of the connections between capitalism, racism and patriarchy suggest that they could share a common fate, though other outcomes are quite possible.
AA and KN endorse the classic claim that the rise of capitalism was given needed extra-momentum by a series of ‘bourgeois revolutions’. Their account of the main revolutions is not detailed but adds the dialectical sweep of their story. AA and KN quote Anatolii Ado to the effect that ‘the popular revolutions of the petty producers ought to be seen as an essential element of the capitalist dynamic’. (p. 212). Slave resistance sometimes took the form of demanding wages while itinerant peddlers happily bought ‘stolen goods’ from the slaves.
While I find AA and KN’s sketch of the bourgeois revolutions makes for a more complex account, there is still a way to go. The American War of Independence led to the destruction of the European colonial empires in the Americas. This was a mighty blow for capitalism in the Atlantic societies and helped to trigger the French Revolution and hence the Haitian revolution. The further impact on Spanish America and Brazil are not discussed. All these events echoed themes of bourgeois revolution and the ‘rights of man’ as re-worked by free people of colour, slave rebels, liberty boys, dockers, sailors and the ‘picaresque proletariat’. The black Jacobins denounced the ‘aristocracy of the skin’. AA and KN could, perhaps, have drawn on their notion of a mixed social formation to consider in more depth the worlds of indios, caboclos, petty producers, runaways, store keepers, itinerant peddlers and the ‘sans culottes of the Americas’. The bourgeois character of these revolutions in the end excluded as many as it aroused.
How the West Came to Rule offers so much that it would not be fair to dwell on its omissions. The American Revolution tests the limits of the model advanced by AA and KN. The North American farmers and merchants have a solid claim to have defied and destroyed mercantilism and colonial subjection. But the planters were not exactly bourgeois and the indigenous peoples and the enslaved Africans found no solace and much suffering and bitterness in the extraordinary rise of the White Man’s Republic. In this as in other cases the initial impact of bourgeois revolution was to stimulate the plantation trades rather than weaken slavery or racialization.
How the West Came to Rule (HWCR) rightly stresses the massive ‘Atlantic’ contribution to the development of capitalism in the 17th, 18th and 19th centuries. Whether it is Britain, France, Spain, or even Portugal and the Netherlands, the volume of trade that was bounded by the Atlantic was very much greater – down to about 1820 – than Europe’s trade with the East. Of course after that date British rule in India, and the sub-continent’s commerce, became far more important for the metropolis, and the same could be said for Indonesia and Dutch rule. Whereas the spice trade to Asia required two or three galleons a year in the 16th century the plantation trade was to require thousands of ships by the mid 19th century. AA and KN maintain that Britain’s early industrialisation was based on Indian inputs (p. 246). In fact England’s 18th century cotton manufacturers looked to the Caribbean and Anatolia for most of their raw material. It was not until the 19th century that India became Britain’s main source of cotton and the captive Indian market a major outlet. AA and KN could have dwelt at greater length on the hugely destructive impact of British rule in India – famines, fiscal exactions, de-industrialization and so forth – but they do explain the Raj’s success in building a locally-financed and recruited Army of India and alliance with the subcontinent’s ‘martial races’. British India troops held down the widening boundaries of the Raj and were deployed to many parts of the empire. They formed part of the British forces that invaded China in 1839-42, 1859-62 and 1900. (p. 263) This was the true apogee of empire. But the rapacious ultra-imperial unity of the Western powers and Japan did not last for long, leading, as it did, to a new epoch of war and revolution.
How the West Came to Rule addresses a large and complex question in interesting new ways and is to be commended for that. It draws on wide reading and demonstrates the continuing relevance of the debates on the transition to capitalism and gives them a geographically and conceptually wider scope. While their account may be open to objection at various levels their choice of topic and the breadth of their approach is timely and welcome.
Robin Blackburn – Teaches at the New School in New York and the University of Essex, UK. He is the author of the The American Crucible (2011). E-mail: roblack@essex.ac.uk
ANIEVAS, Alexander; NISANCIOGLU, Kerem. How the West Came to Rule: the Geopolitical Origins of Capitalism. London: Pluto Press, 2015. Resenha de: BLACKBURN, Robin. Revisiting the Transition to Capitalism Debate. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 465-475, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
Entre a caridade e a ciência: a prática missionária e científica da Companhia de Jesus (América Platina, séculos XVII y XVIII) – FLECK (HU)
FLECK, E.D. Entre a caridade e a ciência: a prática missionária e científica da Companhia de Jesus (América Platina, séculos XVII y XVIII). São Leopoldo: Oikos, 2014. 559 p. Resenha de: AVELLANEDA, Mercedes. Creencias y prácticas en torno a la salud y a la enfermedad en las reducciones jesuitas del Paraguay durante los siglos XVII y XVIII. História Unisinos 21(3):458-460, Setembro/Dezembro 2017.
El libro de Eliane Fleck Entre a caridade e a ciência: a prática missionária e científica da Companhia de Jesús aborda una dimensión muy poco estudiada hasta el presente, el mundo de las emociones y de las sensibilidades que se manifiestan en las cosmovisiones particulares de los mundos culturales, en este caso el indígena y el blanco que se entrecruzan y se transforman por la experiencia vivenciada. Los trabajos reunidos que se van hilvanando a lo largo de la obra representan el recorrido, de más de tres décadas de investigación, desarrollado sobre las misiones jesuíticas del Paraguay desde una perspectiva muy original, la exploración científica de la naturaleza como aliada indispensable para el desarrollo de la medicina y de la evangelización.
La investigación de Eliane nos introduce concretamente en el mundo de las creencias y de las prácticas terapéuticas relacionadas con los temas de salud y enfermedad durante los siglos XVII y XVIII. La originalidad de su abordaje centrado en la cura de las almas y de los cuerpos, dos instancias íntimamente ligadas al proceso de evangelización, da cuenta de la lucha de los jesuitas contra las creencias indígenas sobre el poder de los espíritus, las enfermedades que los acechan y la imperiosa necesidad de construir nuevos significados para consolidar su liderazgo espiritual y humanitario entre los recién reducidos.
Si bien la historia de las Misiones Jesuitas tiene una vasta producción académica que recorre los principales temas en torno a las realizaciones de los religiosos en las distintas esferas de su accionar social, político, económico y religioso, esta obra también se inserta en la corriente de trabajos más recientes, que recuperan el conocimiento de los propios actores sociales tanto guaraníes como jesuitas sobre su entorno, para indagar los fenómenos de transferencia cultural, ligados indefectiblemente a la agencia indígena y a las prácticas de los misioneros, contribuyendo de esa manera a los proce sos de transformación y refinamiento de las visiones historiográficas más actuales.
Toda la obra recorre como se fueron recopilando y elaborando los conocimientos sobre la farmacopea indígena y jesuítica a lo largo de los siglos XVII y XVIII y representa el fruto de sucesivas investigaciones centradas en la medicina que se efectuaba en las reducciones. Dividida en cuatro grandes secciones, la obra abarca la mirada indígena sobre la enfermedad y la muerte, los esfuerzos realizados por los misioneros para desarrollar remedios para la cura, la circulación de ese saber y las diferentes causas de enfermedad y muerte entre guaraníes y misioneros de las reducciones.
En su análisis, Eliane nos introduce, primero, en el imaginario indígena y sus interpretaciones sobre enfermedad y muerte entre guaraníes, rodeados de poderosos espíritus que atraviesan su existencia. Estos los acechaban en la espesura de la selva, imponiendo sus reglas de comportamiento social, y tabúes que hacían peligrar la existencia de todos. Los jesuitas debían librar una batalla permanente para cambiar la cosmovisión indígena y las prácticas de los shamanes que le imprimían a la enfermedad un poder mágico que solo podía ser doblegado por ellos, al ser los únicos capaces de penetrar en el mundo de las fuerzas sobrenaturales, encontrar el remedio y regresar para reestablecer el equilibrio psíquico y emocional de la persona. La importancia de este aspecto hará que los religiosos busquen romper con estas creencias y encontrar, a través del desarrollo de una farmacopea nativa, los remedios necesarios para la cura de las enfermedades.
En la búsqueda de comprender las prácticas impulsadas por los misioneros, la autora analiza la construcción de representaciones elaboradas por los religiosos para entender de qué modo los jesuitas organizan y manifiestan sus preocupaciones y sus propias consideraciones relacionadas con sus experiencias sociales. Esto le permite a Eliane contraponer dos visiones del mundo sobre la enfermedad, la guaraní y la jesuita, que coexisten en el siglo XVII y que no son antagónicas. La autora nos hace ver que los guaraníes, influenciados por los resultados de los religiosos y los nuevos métodos eficaces para combatir las enfermedades, aceptan el nuevo ordenamiento social aunque las fugas dejan entrever asimismo la coexistencia de cierta resistencia.
Al focalizarse en los contextos de epidemias en el que tendrán que accionar los religiosos, la autora pone de relieve la necesidad de los religiosos de elaborar la fabricación de remedios en las mismas reducciones, y para ello desarrollar un conocimiento de las plantas nativas. De ese modo se impulsará la construcción de un saber específico en las reducciones que luego se difundirá en un espacio mayor, a través de las recetas magistrales elaboradas desde las boticas instaladas en los Colegios de Buenos Aires y de Córdoba.
En la reconstrucción de esta inmensa labor de la cual poco se ha investigado, la autora se sirve del análisis de las Cartas Anuas y de las obras de referencia de los misioneros que se dedicaron a la medicina, como la obra Materia Médica del padre Pedro Montenegro. A través de este recorrido la autora reconstruye cómo las reducciones jesuitas del Paraguay fueron un importante laboratorio de investigación y experimentación, donde se exploraron las propiedades terapéuticas de las distintas especies nativas para la cura de enfermedades, contribuyendo al conocimiento científico de su época.
Desde el punto de vista formal, la obra se divide en cuatro partes bien diferenciadas que van dando cuenta ampliamente del camino recorrido por Eliane en su investigación a través de los años, analizando los progresos efectuados al interior de las reducciones, los procesos de reconfiguración del conocimiento médico que se elabora en la práctica y su impacto a la larga para combatir las distintas enfermedades al interior de las misiones.
La primera parte consta de un capítulo que nos introduce en la geografía de las misiones y en las representaciones de los guaraníes y de los religiosos entorno a las concepciones de enfermedad como maleficio y la eficacia de los métodos. Un segundo capítulo nos ofrece las propias imágenes que los misioneros construyeron acerca de esos fenómenos, para poner en valor una sensibilidad que desarrollaron en relación a sus prácticas, donde se van delineando dos cosmovisiones entrelazadas inexorablemente por la situación de contacto, la indígena y la jesuita, que representan el punto de partida y el contexto específico de abordaje de la investigación.
Una segunda parte nos introduce de lleno en la medicina que se practicaba en las misiones, los problemas de salud entre los guaraníes, el desarrollo de una farmacopea experimental, y las prácticas curativas. Seis son los capítulos que van hilvanando este recorrido a través del problema del contacto inicial y la propagación de epidemias en épocas de carestía, junto con las medidas que toman los padres Montoya, Asperger y Montenegro para evitar la propagación de los contagios. De igual modo, adquiere relevancia y se pone de manifiesto el propio conocimiento de los guaraníes a través de los informantes locales que acompañan a los religiosos en la recolección de las plantas, el señalamiento de sus cualidades curativas, como se da la fabricación de algunos jarabes y bálsamos para aliviar los síntomas y la elaboración conjunta de herbarios para resguardar la información.
La tercera parte consta de otros tres capítulos, que ponen de manifiesto como los Colegios de Río de Janeiro, Buenos Aires y Córdoba fueron, en la misma época, importantes centros de propagación de conocimientos médicos por sus boticas y recetas magistrales, ofreciendo un servicio muy útil a la población local desprovista de medicinas. Y como, gracias a las investigaciones realizadas en las misiones, se pudo contribuir y avanzar en el desarrollo de la farmacopea nativa y en su propagación tanto en América como en Europa. Al respecto, se analiza el papel relevante que tuvo el Colegio de Córdoba como centro de formación intelectual de universitarios desde donde se difundían y transmitían esos saberes.
La cuarta y última parte de esta obra se compone de cinco capítulos, que abarcan el tema de la muerte, sus causas y las curas que se dan tanto entre los indígenas reducidos como entre los misioneros que los acompañan.
El análisis de las Cartas Anuas y de los censos de las reducciones permite a la autora explorar los índices de natalidad y mortandad de los guaraníes reducidos y comprender la eficacia de la farmacopea desarrollada en las reducciones, junto con la exploración de las condiciones de salud y el promedio de vida de sus integrantes.
El análisis del trabajo del hermano Pedro de Montenegro es una muestra de lo que sucedía en las misiones con la experimentación de plantas, los conocimientos indígenas, las prácticas de higiene a ser observadas en el trato con los enfermos y los efectos de los remedios elaborados.
De igual modo los dos inventarios de la botica del Colegio de Córdoba que contienen una gran variedad de aguas, aceites, tinturas, ungüentos, vinos, esencias de flores y bálsamos son relevantes para comprender la labor desarrollada por los padres boticarios.
En su recorrido, Eliane logra un abordaje diferente donde se pone en valor la experiencia vivida en las misiones que nos revela entre guaraníes y misioneros un proceso de contacto profundo atravesado por diferentes variables que van a producir inexorablemente transformaciones culturales y cambios profundos tanto en las prácticas cotidianas como en las concepciones más profundas sobre las nociones del cuerpo y su devenir. De ese modo no se trata de resaltar la lógica del contacto y el acomodamiento mutuo de dos culturas, sino avanzar en la comprensión de la larga duración, para visualizar las transformaciones sociales más profundas. Si bien su rico abordaje contempla los aportes de ambas culturas en el avance de la medicina y el conocimiento científico, al mismo tiempo reconoce diferencias en la forma de abordar el mundo sobrenatural.
La perspectiva antropológica le permite calibrar la lógica de los diferentes actores sociales, y recorrer en la experiencia compartida los aciertos de sus intercambios culturales. La autora nos muestra cómo. a través del tiempo, los guaraníes incorporaron las prácticas sobrenaturales de los misioneros, las sumaron a las suyas y la experiencia dio por fruto nuevas cosmovisiones. Sin desconocer los aspectos conflictivos de este proceso, nos muestra como los religiosos también se nutrieron del saber de los indígenas y ampliaron las fronteras del conocimiento científico sobre la flora y fauna americana.
El libro de la Dra. Eliane Fleck, al desplegarse en numerosos temas relacionados con el conocimiento de las prácticas médicas y la farmacopea americana, representa, para todo aquel que se proponga avanzar en esa dirección, una obra de consulta obligada para seguir pensando esos temas. La reconstrucción del contexto, la incorporación de la agencia indígena, las prácticas sociales asociadas a la medicina, el intercambio de cosmovisiones, la complementación jesuita guaraní en la construcción de nuevos conocimientos y los remedios y sus usos terapéuticos, sin duda, son puntos fuertes de esta obra que nos muestran la riqueza de pensar la antropología y la historia como enfoques necesariamente entrelazados para seguir profundizando en los procesos sociales y avanzar en nuevas direcciones de una historiografía renovada.
Mercedes Avellaneda – Docente investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Etnohistoria de la Universidad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 450 oficina 504, Buenos Aires, Argentina. E-mail: bocca@fibertel.com.ar.
As origens do sexo: uma história da primeira revolução sexual | Faramerz Dabhoiwala
Pode ser contraditório intitular um livro como As Origens do Sexo quando, na verdade, seu recorte espaço-temporal abarca a Grã-Bretanha do período 1600-1800. De qualquer forma, FaramerzDabhoiwala – professor e pesquisador de História da Universityof Oxford – não deseja apresentar uma história linear e “total” da sexualidade, mas descrever as transformações das experiências sexuais do Ocidente, relacionando-as com as grandes propensões políticas, intelectuais e sociais da época. Três elementos estruturais estão na base da composição da obra: o espaço, ou seja, a casa, o bordel, a rua, etc.; os personagens, isto é, os homens e as mulheres; e o elemento unificador: o sexo. Da trama sutil desses fatores, surge uma história enquanto realidade axiomática. A arte de Dabhoiwala consiste, sobretudo, na habilidade com que conseguiu arranjar esses elementos, salvaguardando o caráter multifacetado de análises que não permite o esgotamento das possibilidades interpretativas. O resultado é a conclusão de que as atitudes em relação ao sexo oscilaram, na Inglaterra dos séculos XVII-XIX, entre a censura tirânica e a relativa liberdade.
O livro é, sobretudo, um grande mosaico crítico de uma cultura que intentava disciplinar a sexualidade, mas que, com o tempo, viu emergir em seu próprio meio ideias relacionadas a uma maior tolerância e liberdade sexual. Texto nascido a partir da análise das mais variadas fontes históricas – Literatura, Tratados Morais, Processos-crime e Legislação encontram-se ajustadas. O discurso continuamente se entrelaça a uma linguagem poética, em Criminal -, compõe-se de um complexo tecido no qual História, Literatura e Jurisprudência uma investigação histórica sem precedentes. Dabhoiwala propõe uma História da Sexualidade que é, no seu conjunto, uma narrativa sempre reencetada. Por isso, os mais variados assuntos são trazidos à tona – casamento, prostituição, libertinagem, individualismo, ascensão da opinião pública, urbanização, tolerância religiosa, crescimento da cultura de massa, propagação da impressão e filantropia –, constituindo, todos eles, um verdadeiro amálgama de elementos que permitem, cada um a seu modo, que a sexualidade passasse a ser entendida como uma questão privada, de moral pessoal, sujeita apenas ao controle individual. Esta seria, segundo o autor, “a primeira revolução sexual”.
O capítulo 1, Declínio e queda da punição pública, explica que até fins do século XVI o policiamento das condutas sexuais era exercido não somente pelo poder da Igreja e do Estado, mas também pela participação popular – vigias, agentes de polícia, pais de família. Tratava-se de um enorme sistema que defendia padrões coletivos de comportamentos sexuais e que por trás dessa vigilância incessante buscava inculcar os ideais de monogamia e castidade, além de condenar práticas como luxúria, fornicação, adultério e prostituição. Fundamenta o autor que prostitutas, adúlteros e sodomitas foram, por muito tempo, ridicularizados, estigmatizados e até mesmo mortos por seus vizinhos e pela comunidade em geral. Essas tentativas de criar uma sociedade livre do pecado – característica da sociedade inglesa puritana – fizeram surgir leis mais rígidas para impor a disciplina sexual. Todavia, deve-se levar em consideração que os padrões exigidos tornavam muitos julgamentos puras ocasiões de formalidade. O autor considera essa questão uma notável ironia: o poder político e religioso buscava o apelo popular, todavia, a campanha anti-imoralidade surtia o efeito contrário. Isso porque sua retórica dependia de grupos de delatores regulares e oficiais, coisa rara naquele período. Além disso, o crescente tamanho e a complexidade da vida na Inglaterra Industrial minaram a eficácia desse sistema de policiamento sexual. O movimento da população do campo para as cidades, onde havia mais lugares e ocasiões para o ato sexual, acabou por tornar a comunidade em geral menos vigilante em relação aos transgressores. O anonimato das grandes cidades conseguiu enfraquecer a perseguição a práticas sexuais mais heterodoxas. O resultado foi exatamente um declínio e uma queda da punição pública quando comparados a períodos anteriores.
No capítulo 2, A ascensão da liberdade sexual, o autor explica que a mudança que mais abalou a sociedade entre fins dos séculos XVI e início do XVII foi a cisão religiosa, fato que acabou por legalizar a pluralidade moral inglesa. Na verdade, Dabhoiwala quer deixar bem claro ao leitor que a tolerância sexual somente cresceu e se difundiu a partir de uma maior tolerância religiosa. Esta tolerância foi, de fato, uma das características centrais do Iluminismo europeu. Com base nos escritos de variados pensadores, como John Locke, John Milton, David Hume, William Walwyn, Thomas Hobbes, Pierre Bayle, Richard Fiddes, Joseph Priestley e Robert Malthus, o autor elucida como tais filósofos ajudaram a expandir o escopo da liberdade pessoal. Buscavam, com isso, viver em um clima muito mais pluralista. O efeito das discussões filosóficas foi colocar as normas morais numa posição mais liberal, fazendo surgir, já na década de 1750, uma doutrina considerada bem desenvolvida de liberdade sexual. Sexo era, a partir desse período, uma questão privada. Criou-se um modelo civilizacional baseado nos princípios da “privacidade, igualdade e liberdade”, princípios que foram fundamentais para a criação de um novo modelo de cultura sexual e que o Ocidente continua a sentir seus reflexos.
O culto à sedução constitui o capítulo 3. Busca situar o leitor nas novas maneiras de observar o sexo feminino. Antes de 1800, afirma Dabhoiwala, as mulheres eram consideradas o sexo mais lascivo. Argumentos misóginos eram tão difundidos que era ideia comum entre a sociedade de que elas eram mental, moral e corporalmente mais fracas do que os homens. No século XIX ocorre uma mudança radical em relação a essa visão. A partir desse período, a ideia era exatamente oposta: passou-se a acreditar que na verdade eram os homens os seres mais libidinosos por natureza. No caso deles, isso era uma espécie de “impulso elementar”. O sexo feminino passará a ser considerado como “delicado”, “passivo”, “frágil”. Segundo o autor, tal mudança estava extremamente avançada na metade do século XVIII, pois já era expressa de forma notória em grandes romances em língua inglesa que surgiram entre as décadas de 1740 e 1750. O interessante é que essa nova visão da premissa da lascívia masculina foi, em grande parte, herdada da crescente proeminência cultural de mulheres artistas. Houve, por exemplo, uma enorme ascensão de atrizes profissionais no teatro inglês após 1660. As peças elisabetanas e jacobinas encenavam a vulnerabilidade feminina sempre contrastada com a lascívia masculina. A violência masculina tornou-se o tema central de vários enredos trágicos. Peças de comédia como Rei Lear, escrita por Nahum Tate, VertueBetray’d, de John Banks, The Orphan, de Thomas Otway, e The Fair Penitent, de Nicholas Rowe, apenas para citar algumas, colocavam o sofrimento feminino no centro da história. Eram claras admoestações contra as artimanhas dos homens que colocavam em cena, quase sempre, estupros, raptos, enganações e mortes. O romance foi outro meio utilizado para divulgar essa imagem de “sexo frágil” em relação à mulher. Conquista e sedução eram assuntos primordiais no romance, como o comprovam as obras de Jane Austen, AphraBehn, DelarivierManley e Eliza Haywood, PenelopeAubin, Jane Barker e Mary Davys. Essas autoras ajudaram, cada uma a seu próprio modo, a estabelecer o romance como a forma mais difundida de literatura inglesa, sendo a sedução – e questões como o amor, conquista e desejo carnal – seu enredo mais fundamental. Dabhoiwala acredita que o romance teve, nesse contexto, um papel fundamental na mudança para uma moralidade mais tolerante.
Em O novo mundo de homens e mulheres, quarto capítulo da obra, o autor explica que a imagem do homem voraz sexualmente fez emergir uma outra imagem: a das mulheres que, do século XIX em diante, deveriam se resignar, se fechar, se enclausurar cada vez mais para proteger-se das investidas masculinas. O que estava em causa, após as primeiras décadas do século XIX, era como domar a imprudência e a aparente promiscuidade “natural” do macho. Essa ideia de que as mulheres eram superioras moralmente tinha uma força gigante. Isso acabou por dividir a suposta natureza sexual dos homens e das mulheres, legitimando e acentuando preconceitos sociais e sexuais, preconceitos estes que ainda hoje se fazem presentes. Diante disso, a questão posta aos homens do período foi a seguinte: como canalizar a lascívia masculina de modo a preservar a “pureza” feminina? A resposta a essa pergunta estava, entre outras coisas, na aceitação social da prostituição. Entendia-se que melhor seria reservar uma classe de mulheres “inferiores” do que sacrificar as “respeitáveis”.
Diante disso, o quinto capítulo, As origens da escravidão branca, dedica-se a explicitar a posição social das prostitutas no seio da sociedade britânica no século XIX. Segundo o autor, foram realizados diversos esforços no intuito de criar abrigos, workhouses e instituições de caridade (como a MagdalenHousee a LamberthAsylum) para as mulheres “decaídas” e garotas em risco de sedução ou vítimas potenciais da lascívia dos homens. Por trás da configuração filantrópica pública em prol das meretrizes havia, porém, diversos interesses egoístas. Crescia a visão de que o encarceramento rotineiro e a exploração econômica dessas mulheres não passavam de meios para transformá-las em membros economicamente produtivos da sociedade.
O sexto e último capítulo, Os meios e a mensagem, narra como a revolução midiática do Iluminismo – exemplificada pelo crescimento da cultura de massa, da pornografia, de publicações biográficas de prostitutas e cafetinas, de xilogravuras baratas e de gravuras das “damas de prazer” – foi central para as mudanças comportamentais em relação ao sexo no século XIX. O crescimento da mídia, a disseminação dos livreiros, o aumento do número de alfabetizados, a ascensão da imprensa periódica como os jornais e o maior uso de panfletos na sociedade fizeram emergir uma cultura midiática que ajudou a criar um novo modelo de vivências erótico-sexuais no Ocidente. Criaram-se, por exemplo, diversos clubes especiais masculinos como o Beggar’sBeninson, em que seus membros reuniam-se para beberem, conversarem acerca de sexo e, em alguns momentos, ejacularem coletivamente lendo pornografia. O prazer sexual passou a ser celebrado em fins do século XIX. Houve, segundo o autor, uma espécie de colapso do policiamento sexual. Desenvolveu-se uma enorme indústria material dedicada ao sexo. A prostituição tornou-se mais visível. Pinturas, desenhos e livros eróticos eram sensação quase instantânea, popularizando-se no mundo anglófono. Amplamente relidos, tais imagens e textos ajudaram a apressar o desenvolvimento da vida privada. O resultado foi o aumento de um público ávido por leituras desse tipo, muito mais amplo do que nos séculos precedentes, refletindo uma nova apreciação do homem moderno com o ato sexual.
No epílogo, Culturas modernas do sexo – dos Vitorianos até século XXI, Dabhoiwala destaca os temas e recortes que utilizou para explicar as origens das atitudes modernas ocidentais em relação ao sexo. Afirma que não se pode estudar a História da sexualidade sem compreender as revoluções sociais que abalaram o Ocidente, especialmente as do século XVIII.
O livro, portanto, não é autotélico: volta-se para alvos definidos, com existência própria. De modo geral, em toda a obra verifica-se uma vinculação íntima entre o passado legível e o presente oculto. Sem dúvida, os historiadores estão diante de uma obra que ainda tem muito a revelar. O que surge ao longo das páginas é o homem moderno, moldado pela cultura em corte profundo. Dabhoiwala realizou um notável trabalho, tendo que trilhar por um caminho difícil, pois enveredou por um campo de pesquisa mais ou menos ilimitado. Para seu crédito, o autor abraça as complexidades dos estudos históricos, escrevendo de maneira clara e sucinta. A escrita dessa obra pôs em relevo a transgressão sexual, à margem das grandes cidades inglesas entre os séculos XVIII e XIX, resgatando o sentido do caráter infrator do sexo que prefigurou, a seu modo, a maneira como a sexualidade é vivida na contemporaneidade.
Wallas Jefferson de Lima – Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná, vinculado a Linha de Pesquisa Espaço e Sociabilidades. Bolsista Capes. E-mail: wallasjefferson@hotmail.com
DABHOIWALA, Faramerz. As origens do sexo: uma história da primeira revolução sexual. Trad. Rafael Mantovani. São Paulo: Globo, 2013. Resenha de: LIMA, Wallas Jefferson de. Puritanos e revolucionários: as origens da primeira revolução sexual. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.35, n.2, p.260-264, jul./dez. 2017. Acessar publicação original [DR]
Storia globale. Un’introduzione – CONRAD (BC)
CONRAD, Sebastian. Storia globale. Un’introduzione. Roma: Carocci, 2015. 210p. Resenha de: PERILLO, Ernesto. Il Bollettino di Clio, n.5, p.55-60, giu., 2017.
Non considerata a rigore tra i segnali paratestuali, l’introduzione assolve a diversi compiti importanti: indicare le ragioni della trattazione del tema in oggetto; presentare il tema, esplicitando, se necessario, questioni, genesi, elementi; ricapitolarne riassuntivamente il contenuto.
Posta sulla soglia del testo, l’introduzione ne costituisce, dunque, la necessaria porta di ingresso: una mappa per la comprensione anticipata del territorio che vogliamo esplorare. In questo caso quello della storia globale: il libro di S.Conrad ci consente di averne una visionecomplessiva e articolata, capace di farci conoscereil tema ancora prima di averlo attraversatoconcretamente e utile proprio per esserne unaguida preventivamente efficace.
Un’introduzione, appunto.
Analizziamo la mappa/introduzione alla storia globale: ci mostra sostanzialmente tre luoghi e consente di rispondere a tre domande: La sua genesi: quando e com’ è nata la storia globale? Definizione e contenuti: che cosa è e di cosa si occupa la storia globale? Gli aspetti critici: quali le controversie e le obiezioni più frequenti? Cominciamo allora l’esplorazione, partendo dalla definizione di storia globale : “A un primo approccio, ancora molto generale, la storia globale definisce una forma di analisi storica nella quale fenomeni, eventi e processi vengono inquadrati in contesti globali. Con ciò non si intende necessariamente che l’indagine venga estesa all’intero globo terrestre; per molti temi i punti di riferimento saranno più limitati. Ciò significa anche che la maggior parte degli approcci di storia globale non cerca di sostituire l’affermato paradigma storico-nazionale con un’ astratta totalità del “mondo”, cioè di scrivere una storia totale del globo. Spesso si tratta più facilmente della storiografia di aree limitate, quindi non “globali”, ma piuttosto con una consapevolezza delle relazioni globali”.1 La storia globale è dunque innanzi tutto una prospettiva2, che pone in primo piano altre dimensioni, altre domande attraverso le quali traguardare il passato. Ma è al tempo stesso un tema specifico del discorso storico: per una contestualizzazione globale è spesso importante rendere conto del grado e del carattere dei collegamenti delle reti globali.3
La genesi
Quando si chiede a uno storico/a una definizione, (di solito) la riposta è il racconto di una storia: la comprensione di un fatto è custodita nella sua genesi; nei contesti e/o nei processi dentro i quali esso si è manifestato.
S.Conrad dedica i capitoli iniziali della suaintroduzione alla storia della storia globale, a partire dall’antichità, per mostrare come i concetti di “mondo” e globalità siano storicamente mutevoli e diversi a seconda dell’epoca e dei luoghi. E mette a fuoco un elemento decisivo:
“ Come qualsiasi altra forma di storiografia, anche la storia globale è sempre plasmata dalle sue condizioni di nascita e dal contesto sociale concreto nel quale viene scritta. Una prospettiva di storia globale è, a questo riguardo, prima di tutto una specifica lettura delle relazioni globali, e non significa affatto che questa visione debba anche essere capita o addirittura accettata ovunque nel mondo. Così come i testi scolastici tedeschi, francesi o polacchi si possono differenziare (nei loro interessi tematici, in ciò che omettono, ma anche nelle interpretazioni degli eventi che trattano), altrettanto le rappresentazioni della storia mondiale possono variare talvolta in maniera sostanziale.
(…) Singoli temi, ad esempio lo schiavismo, mutano il loro significato sociale in maniera basilare, a seconda se esso venga preso in considerazione dalla prospettiva dell’Angola o della Nigeria, del Brasile o di Cuba, ma anche della Francia o dell’ Inghilterra. E anche il concetto di mondo rispettivamente rilevante non è affatto omogeneo in differenti società e nazioni.
Poiché la storia globale non è un soggetto naturalmente dato ma rappresenta una prospettiva, è tanto più importante considerare da dove essa viene osservata.” (p. 45)
Tre sono gli approcci che dagli anni Novanta del secolo scorso caratterizzano la storia globale: -l’analisi di connessioni transnazionali(senza un esplicito riferimento al”mondo”): il riferimento è alla storiacomparata (ma non solo) e all’attenzioneprivilegiata alle macroregioni (OceanoIndiano, Oceano Atlantico, il continenteeuropeo nel suo complesso…); -la storia delle civiltà; -la pluralizzazione della storia globale emondiale: “conviene osservare la storia globale in una prospettiva di storia globale, per assicurarsi della relatività e della posizionalità di ogni lettura del passato globale.”(p. 63)
I contenuti
a.Gli ambiti
S.Conrad individua quattro ambiti didiscussione, all’interno dei quali attualmente gli storici riflettono sulla dinamica del mondo moderno: -la teoria del sistema-mondo: dall’approccioteorico elaborato da I. Wallerstein negli anni Settanta alle critiche successive circa la possibilità del suo utilizzo ancora oggi: superamento della cornice analitica dello Stato nazionale, uso del concetto dell’incorporazione graduale in un contesto dominato dall’Europa, attenzione ai cambiamenti strutturali di natura macrostorica; -i postcolonial studies per una lettura noneurocentrica del mondo moderno. Dopo aver messo in luce alcuni elementi critici della prospettiva postcoloniale, l’autore ne sottolinea tre aspetti ancora significativi: l’esistenza di spazi di ibridazione, acquisizioni locali, negoziazioni in condizioni coloniali accanto alla diffusione e all’adattamento come processi di transfer culturali di storia mondiale; l’attenzione alle dipendenze, interferenze, connessioni, superando l’idea che nazione e civilizzazione siano da considerare unità “naturali” della storia, contro una storiografia mondiale eurocentrica che legge lo sviluppo europeo/occidentale slegato dal resto del mondo; la considerazione che i processi di integrazione globale si realizzano entro rapporti e strutture di dominio; -le analisi delle reti: l’epoca degli Statinazionali, basati sul controllo di territori pensati come superfici in relazione tra di loro, è stata sostituita dall’epoca della connessione (merci, informazioni, uomini e donne); -il concetto di multiple modernities: al centrodell’attenzione la pluralizzazione delle linee di sviluppo della modernità e il ridimensionamento dell’assioma della secolarizzazione che avrebbe accompagnato ovunque i processi di modernizzazione.
Diversi, secondo Conrad, sono gli ambiti storiografici rivisitati in prospettiva di storia globale dalla storia economica a quella sociale, da quella geopolitica alla storia culturale e della vita quotidiana, per citarne alcuni. L’autore indica sei campi nei quali oggi la ricerca è particolarmente attiva: merci globali; storia degli oceani; la migrazione; gli imperi; la nazione; la storia dell’ambiente.
b.Le problematiche di riferimento
Quali le principali questioni della storiaglobale? Conrad le individua a partire dalle seguenti domande: “Come si può scrivere una storia del mondo e delle sue connessioni che non sia eurocentrica e la cui logica non sia prestrutturata attraverso l’uso di concetti occidentali? Da quando si può propriamente parlare di un contesto globale, e di una storia della globalizzazione? Ha corso la storia del mondo sempre verso l’egemonia dell”’Occidente”, come essa si è manifestata nel XIX e XX secolo, e quali erano le cause di questa divergenza tra Europa e Asia? Infine, c’è stato un potenziale di modernizzazione anche al di fuori dell”’Occidente”, e quale significato hanno avuto le rispettive risorse culturali di società premoderne per la transizione a un mondo moderno globalizzato? “ (p. 95) Sono questioni importanti: potrebbero (dovrebbero?) essere domande guida anche per la storia generale insegnata. Vediamole nel dettaglio: Eurocentrismo Per molto tempo nella storiografia mondiale l’Europa (e la master narrative eurocentrica) era vista come l’unico soggetto attivo.
Nell’assunzione critica dell’eurocentrismo si tratta di trovare un equilibrio tra il superamento di questa impostazione e la non marginalizzazione dell’Europa, distinguendo tra eurocentrismo come dinamica del processo storico (incomprensibile senza il riferimento all’egemonia dell’Europa occidentale e più tardi degli Stati Uniti, in un processo che non fu lineare e che ebbe inizio solo nel XIX secolo) ed eurocentrismo come prospettiva: presunti concetti analitici come nazione, rivoluzione, società o progresso trasformarono un’esperienza parziale, quella europea, in una lingua teorica universalistica, che prestruttura già l’interpretazione dei rispettivi passati locali.
Periodizzazione
Anche qui ha senso distinguere in modo euristico tra globalizzazione come processo e globalizzazione come prospettiva. In merito al primo punto: la maggior parte degli storici pone l’inizio di una connessione globale al principio del XVI secolo. La seconda possibile cesura di questa storia cade nel XIX secolo: fino ad allora il mondo era ancora un mondo delle regioni, strettamente unito da molteplici reti (reti commerciali e correnti migratorie così come comunanze culturali). Ma solo dalla metà del XIX secolo si giunse a una connessione sistematica, all’integrazione globale delle società, in ragione della sovrapposizione di «due macroprocessi reciprocamente dipendenti» (Charles Tilly) del mondo moderno: la formazione e la diffusione del sistema degli Stati nazionali e la creazione di un meccanismo universale di mercati e di accumulazione di capitale.
Si può parlare di una nuova fase della globalizzazione dal 1990? Conrad mette in discussione questa ipotesi, sottolineando come, in generale, una storia della globalizzazione non dovrebbe essere una narrazione lineare della sempre più grande connessione del mondo.
Altro aspetto fondamentale: la globalizzazione come prospettiva. Nel XIX secolo la globalizzazione ha presupposto la diffusione di norme euro-americane, in condizioni di colonialismo e di estensione universale dello Stato nazionale. All’interno di questo paradigma le differenze culturali erano state gerarchizzate e disposte in scala temporale: la connessione del modernizzazione complessiva e di un’omogeneizzazione graduale. Dal tardo XX secolo, sostiene Dirlik, ciò è mutato: la differenza culturale non appariva più come arretratezza, ma era concepita come alternativa a concetti eurocentrici o, meglio, universali. La globalizzazione e l’insistenza sull’ autonomia culturale andavano di pari passo. E ancora: l’aumento d’interazione globale addirittura rafforzava e produceva specificità culturali. Invece di una temporalizzazione della differenza, nel senso della costruzione di diversi gradi di sviluppo, il mondo globale del XXI secolo ha vissuto addirittura uno spatial turn. Progetti di modernità culturalmente diversi e concorrenti potevano dunque essere pensati come esistenti fianco a fianco contemporaneamente.
Asia e Europa
Perché l’Europa? In che cosa consisteva il Sonderweg (“la via speciale”) europeo? È davvero esistito? Nella lunga discussione su questo tema, si possono distinguere essenzialmente tre posizioni. La prima rimandava a Marx e poneva in primo piano la questione dei modi di produzione. In opposizione a ciò, gli storici che si orientavano all’opera di Weber insistevano sui fattori culturali e istituzionali. Sia l’approccio classicamente marxista che quello weberiano privilegiano, secondo Conrand, modelli esplicativi endogeni e si limitano a una narrativa che spiega l’ascesa dell’Europa da sé stessa, internalisticamente.
A partire dai tardi anni Novanta è stata pubblicata una serie di lavori che hanno spostato il terreno sul quale era stata condotta questa discussione in maniera sostanziale. Conrad passa in rassegna i contributi revisionistici della cosiddetta California School (l’espressione designa storici come Pomeranz, Wong, Frank) che hanno proposto una spiegazione della dinamica dell’economia inglese non più endogena e non basata su lunghe continuità culturali e istituzionali. Al centro di questa lettura la prospettiva comparata, lo sguardo dalla Cina, l’accentuazione di interazioni transregionali, l’attenzione alle origini politiche della rivoluzione industriale e l’enfatizzazione di fattori casualmente coincidenti (conjunctural foctors).
Early modernities
In generale si tratta di capire quale significato possa essere attribuito, nel passaggio al mondo moderno, alle diverse risorse culturali di società non occidentali.
Gli approcci più interessanti della early modernity si riferiscono a un periodo dell’età moderna, che durò all’incirca dal 1450 al 1800, un’epoca durante la quale si costituirono le forze e le strutture che produssero trasformazioni in collegamento tra di loro, ma per nulla identiche, che poi sfociarono nel mondo del XIX secolo: solo nell’ambito dell’integrazione imperialistica e capitalistica del mondo dopo il 1800 esse furono gradualmente incorporate negli ampi processi che plasmarono il mondo moderno.
La più estesa argomentazione della early modernity è stata sinora formulata per la Cina e in generale per altri paesi asiatici (India e Giappone) Le critiche I progetti di storia mondiale e globale non sono stati esenti da critiche e obiezioni, anche se le riserve, in fondo, non hanno messo in discussione in modo radicale tale approccio. Nell’illustrare i principali limiti della ricerca di storia globale, l’autore vuole dare un contributo costruttivo per l’approfondimento di questa prospettiva.
La riserva metodologica
Gli storici globali non si basano su fonti primarie ma sono vincolati del tutto alla letteratura secondaria. Del resto questa è anche la situazione delle opere generali di storia nazionale che si basano su una visione d’insieme dei risultati di ricerche “locali”.
La strumentazione concettuale
Le nozioni/concetti con cui si scrive la storia delle connessioni globali sono quelle/i dela “zavorra” eurocentrica: feudalesimo, nazione, religione…? Non c’è il rischio di omologare concettualmente situazioni diverse, e di appiattire differenze e particolarità? Il concetto di globalizzazione rischia di essere un macroconcetto poco utilizzabile in contesti specifici che presentano dinamiche diverse.
La finalizzazione teleologica Le prospettive storico-globali corrono il rischio di costruire una genealogia dell’attuale processo di globalizzazione come svolgimento quasi inevitabile e naturale.
La storia e la connessione globale limitate alle sole relazioni con l’Europa
L’esempio è quello della storia dell’India che sarebbe stata liberata dalla stagnazione solo con il colonialismo, mentre già in epoca precoloniale intratteneva rapporti economici e culturali importanti con l’Africa, l’area araba e il Sud-Est asiatico.
La ricerca storica globale secondo Conrad deve affrontare una serie di questioni e evitare alcuni pericoli per poter sviluppare un proficuo dialogo critico al suo interno: il rischio di sostituire l’eurocentrismo con il sinocentrismo (come nel libro ReOrient di Frank); la sopravvalutazione dei fattori esterni, assegnando particolare valore al contesto spaziale nella spiegazione di eventi e processi; la sopravvalutazione delle connessioni, dei punti di contatto trascurando le particolarità; la feticizzazione della mobilità; la marginalizzazione degli approcci che soprattutto negli anni Ottanta hanno messo in evidenza l’importanza delle dimensioni storico-culturali e di storia del genere del passato; la tentazione di dimenticare che la storia globale è pur sempre una prospettiva per gettare un nuovo sguardo sul passato, non semplicemente un oggetto che esiste senza problemi.
Conrand insiste, come abbiamo già detto sulla pluralizzazione della storia globale e la “posizionalità” di ogni lettura del passato globale. E cita lo studioso della letteratura S. Krishan che mette in evidenza i meccanismi linguistici e narrativi attraverso i quali il mondo viene creato come unità connessa e interdipendente:
«Nelle discussioni recenti sulla globalizzazione viene tacitamente accettato che l’aggettivo “globale” si rivolga a un processo empirico, che ha luogo “lì fuori” nel mondo. [ … ] Al contrario io parto dal presupposto che “globale” descriva un modo della tematizzazione, o un modo di occuparsi del mondo». La lingua del globale suggerisce una trasparenza, un accesso diretto a un processo da osservare empiricamente: in effetti, però, si tratta di un modo che riassume diversi fenomeni in un comune discorso e così lo rende controllabile. Esso non rimanda al mondo in sé, ma alle condizioni e alle implicazioni dei modi istituzionalizzati per mezzo dei quali i diversi terreni e popoli di questo mondo vengono resi leggibili all’interno di un’unica cornice» (…). Il globale rappresenta la prospettiva dominante dalla quale il mondo viene prodotto come rappresentabile e controllabile». (p. 79).
[Notas]1 S. Conrad, Storia globale. Un’introduzione, Roma, Carocci, 2015, p.18.
2 “Per fare un esempio, si può osservare il Kulturkampf in Baviera nel XIX secolo da un punto di vista di storia locale, con una problematizzazione storico-culturale o di storia di genere, o come parte della storia tedesca. Però lo si può anche collocare in maniera storicoglobale e intendere come espressione dei contrasti tra lo Stato liberale e le Chiese, che furono condotti nel XIX secolo in molte parti del mondo: in tutta Europa, ma anche in America Latina o in Giappone”. Ibidem, p. 20.
3 “Il crash della borsa di Vienna nel 1873 ebbe un’ importanza differente dalle crisi economiche del 1929 e 2008, perché il grado di collegamento dell’economia mondiale, ma anche l’intreccio mediatico degli anni intorno al 1870, non aveva ancora raggiunto la stessa densità che in seguito”. Idem.
Ernesto Pirillo
[IF]La possession de Loudun – DE CERTEAU (RMA)
CERTEAU, Michel de. La possession de Loudun. Paris: Gallimard ed., 2005. Resenha de: COSTA, Otávio Barsuzzi da. Revista Mundo Antigo, v.6, n.12, jun., 2017.
Biografia
Nascido em Chambéry, em maio de 1925. De uma formação ecleticamente invejável, formou-se em Filosofia, História, Teologia e Letras Clássicas nas universidades de Grenoble, Lyon e Sobornne, em 1950, ele ingressa na companhia de Jesus; em 1956 é ordenado sacerdote e vive como jesuíta onde é formado teólogo pelo seminário jesuíta de Lyon. Se preocupa com estudos de método de e analise de textos ascéticos e místicos da renascença. Erudito e jesuíta, Michel de Certeau é um nome bastante conhecido na academia de ciências humanas. Ocupando cadeiras de universidades americanas de peso tais como Universidade da Califórnia e San Diego, mais tarde ocupará uma cátedra de “Antropologia Histórica das Crenças, na École des hautes études en sciences sociales (Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais) se torna um autor fundamental em todas ciências sociais. Leia Mais
Hacia otra historia de América: nuevas miradas sobre el cambio cultural y las relaciones interétnicas – FEDERICO (RBH)
FEDERICO, Navarrete Linares. Hacia otra historia de América: nuevas miradas sobre el cambio cultural y las relaciones interétnicas. México: Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones Históricas), 2015. 178p. Resenha de: KALIL, Luis Guilherme Assis. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.37, n.75, mai./ago. 2017.
Pensemos em um membro de uma comunidade indígena do centro da Nova Espanha no século XVI. Ele poderia ter identidades culturais e de gênero, praticar determinado ofício, ser cristão e, no campo das identidades étnicas, estar associado a seu “barrio” e comunidade além de ser vassalo da Coroa espanhola. Esse exemplo hipotético analisado por Federico Navarrete Linares revela muitos dos temas abordados em sua obra, associados, principalmente, aos conceitos de alteridade e identidade.
Nos dois ensaios que compõem a obra,2 o professor da UNAM apresenta um amplo panorama das reflexões associadas a esses conceitos dentro da história do continente americano, bem como propõe caminhos de interpretação. Com esse intuito, Navarrete amplia os recortes temporal e geográfico em sua análise, adotando uma perspectiva continental ao longo de mais de cinco séculos, sob o argumento de que, a despeito das especificidades, existiriam muitas convergências entre as trajetórias históricas dos países americanos, como o pertencimento a um “sistema comum” centrado no mundo Atlântico.3 Da mesma forma, todos teriam se organizado após a independência dentro do marco das novas ideias liberais, o que o leva a defender a importância de uma perspectiva compartilhada – mais do que comparada – da história da América.
Em seu primeiro ensaio – “El cambio cultural en las sociedades amerindias: una nueva perspectiva” -, Navarrete analisa os diferentes tipos de relações culturais estabelecidas pelos ameríndios a partir dos primeiros contatos com o Velho Mundo, passando pelas múltiplas formas de resistência, alianças e lutas por direitos. O historiador inicia o texto analisando as formas em que os índios foram concebidos como objetos de conhecimento e dominação e os consequentes projetos de transformação cultural desenvolvidos. Entre os séculos XVI e XVII, a dimensão religiosa teria sido o foco principal de atenção dos europeus acerca das culturas ameríndias. Dessa forma, a transformação cultural dos considerados “bárbaros” e “pagãos” passaria, necessariamente, pela conversão. No século XVIII, com a ascensão das ideias ilustradas e do conceito de civilização, a religião teria perdido espaço para a educação como estratégia de incorporação dos indígenas. Uma nova mudança teria ocorrido a partir da segunda metade do século XIX, com a crescente hegemonia do pensamento científico associada ao evolucionismo biológico e cultural e a ideais positivistas. Nesse período de consolidação dos Estados nacionais, teriam surgido dois modelos de atuação diante da “raça” indígena: as políticas de mestiçagem, adotadas em países como Brasil e México, e de segregação estrita, presentes nos Estados Unidos e na Guatemala.
No século XX, Navarrete identifica o surgimento de outro projeto de interpretação e atuação sobre as culturas ameríndias: a teoria da aculturação, que reforça a pluralidade cultural e teria se institucionalizado mediante políticas que buscavam facilitar a integração final das culturas indígenas menos avançadas à cultura nacional. Nas últimas décadas, outras teorias teriam ganhado força, como as abordagens que destacam a resistência indígena diante dos europeus e as continuidades culturais com o período pré-hispânico, as interpretações multiculturais (associadas a diferentes formas de organização indígena que visam reforçar seu papel como atores políticos) e os projetos baseados em conceitos como o de hibridação e mestiçagem, que negam a existência de identidades ou culturas “puras”.4
Navarrete enfatiza que todas essas propostas não se limitaram ao campo intelectual, estabelecendo estreitas relações com as políticas de dominação e transformação cultural estabelecidas nos últimos cinco séculos. Além disso, seriam marcadas por forte conteúdo moral, baseado em concepções universalistas de verdade e sobre o curso da história. Mas o autor também ressalta que todas elas encontraram entraves e limitações, relacionados às divergências existentes entre os missionários, funcionários da Coroa ou dos Estados independentes e às formas de resistência, adaptação e criação por parte dos ameríndios.
Ao final, o autor substitui o caráter descritivo e analítico por uma abordagem propositiva, visando apresentar “un marco alternativo de comprensión de las transformaciones culturales de las sociedades amerindias” (p.15). Com base no conceito de rizoma proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari, Navarrete propõe uma abordagem das trocas culturais que prescinde de premissas como a unidade das culturas e a existência de fronteiras claras entre elas, além de colocar em xeque a ideia de que a “entrada de elementos exógenos debe provocar necesariamente una transformación en el conjunto de la cultura de un grupo y, sobre todo, en sus identidades culturales y étnicas y que el valor identitario de los rasgos externos está determinado por su origen” (p.47). Adotando essa perspectiva, o autor problematiza visões que abordam a conversão ao cristianismo ou a adoção do idioma espanhol como rupturas irreversíveis, apontando o conceito de etnogênese5 como importante ferramenta de interpretação para ressaltar a capacidade de invenção, renovação e redefinição cultural e étnica por parte dos indígenas, bem como superar perspectivas que veem as trocas culturais como um “jogo de soma zero”, onde a adoção de um elemento cultural ou identitário externo significaria necessariamente a perda de outro elemento indígena, gerando uma dissolução de sua identidade étnica (p.81-82).
No segundo ensaio, “Estados-nación y grupos étnicos en la América independiente, una historia compartida”, Navarrete concentra suas atenções no período pós-independência com base nas questões que envolvem a construção de identidades dentro dos Estados nacionais. Com a proposta de ressaltar que as definições das diferenças entre grupos humanos são produto de circunstâncias históricas e sociais de cada sociedade (não o reflexo de uma realidade biológica, racial ou cultural), o autor apresenta um panorama da dinâmica dos “regimes das relações interétnicas”, ressaltando os aspectos comuns a todo o continente bem como algumas especificidades nacionais.
O primeiro regime abordado é o “estamentário”, presente em países que conservaram durante parte de sua história independente a categorização étnica e a exploração do trabalho forçado, como a escravidão africana nos Estados Unidos e no Brasil e a tributação de indígenas bolivianos, peruanos e guatemaltecos. Em seguida, viriam os “regimes liberais discriminatórios”, implantados em quase todo o continente durante o século XIX e caracterizados por assumir a concepção liberal de cidadania universal e igualitária ao mesmo tempo que excluía amplos setores da população, formando o que Navarrete denomina como uma “cidadania étnica”. Os regimes “integradores” teriam surgido no século XX em países como México, Argentina e Brasil com uma perspectiva da nação como unidade racial, muitas vezes baseada na mestiçagem. Por fim, o historiador analisa os “regimes multiculturais”, surgidos na América do Norte a partir da década de 1960 e que teriam se espalhado pelo continente com a premissa da nação como um conjunto de grupos distintos cujos direitos deveriam ser reconhecidos e protegidos. Para o autor, esse novo modelo mantém e institucionaliza as diferenças entre uma maioria hegemônica e as minorias definidas como diferentes, além de conceber as identidades culturais e étnicas dos grupos minoritários como uma realidade quase inamovível.
Em ambos os ensaios, podemos observar que Navarrete se preocupa em ressaltar o caráter fluido, múltiplo e histórico das culturas e identidades, em detrimento das abordagens que as imobilizam e essencializam. Outro aspecto comum é a busca por definir e sistematizar conceitos, projetos de transformação cultural e regimes de relações interétnicas tendo como premissa um recorte continental (ainda que dedique atenção às especificidades nacionais). Dessa forma, o autor aproxima a proibição do consumo de chicha na Colômbia, a perseguição à capoeira no Brasil e as leis Jim Crow nos Estados Unidos como práticas discriminatórias associadas a regimes liberais (p.134-135). Como apontado por Berenice Alcántar Rojas na introdução do livro, essa característica se revela como uma das principais virtudes, mas, simultaneamente, uma limitação da obra (p.12). Nesse mesmo sentido, a identificação de grandes movimentos, projetos ou regimes ao longo dos séculos sugere uma linearidade combatida pelo próprio autor.
Contudo, ao final, esta obra se apresenta como importante contribuição que aprofunda conceitos e questões fundamentais não só às pesquisas acerca da História das Américas, mas também a debates que ocupam espaços centrais na política e na cultura brasileira e de outros países americanos, como as políticas de ações afirmativas e as demarcações de terras para grupos indígenas e comunidade quilombolas, que ganham novos contornos quando analisadas sob uma abordagem continental.
Notas
2 Disponível gratuitamente em: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=633.
3 Navarrete faz referência nesse trecho à abordagem de “sistema-mundo” trabalhada por Immanuel Wallerstein, apontando seu caráter “eurocêntrico”, que impediria maior compreensão das complexidades dos espaços “periféricos” (p.70 e 101).
4 O autor identifica duas vertentes associadas a essa perspectiva. A seguida por autores como Serge Gruzinski e Néstor García Canclini, em que a expansão ocidental é vista como marco do início do processo de hibridização e mestiçagem; e outra, apontada por Navarrete como mais interessante, a qual assume que as culturas têm sido híbridas e mestiças desde sempre (p.37-38).
5 Navarrete remete a origem desse conceito à antropologia russa e afirma que estudiosos como Cynthia Radding e Jonathan Hill o utilizaram para analisar o continente americano: “Aunque estos autores lo utilizan exclusivamente para explicar la adaptación de pueblos indígenas a la dominación europea, me parece que puede ser empleado de manera más amplia para todos los procesos de conformación de identidades étnicas” (p.97).
Luis Guilherme Assis Kalil – 1 Professor adjunto A-1 de História da América Colonial e América Independente no século XIX da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ-IM). Doutor em História cultural pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ-IM). Nova Iguaçu, RJ, Brasil. E-mail: lgkalil@yahoo.com.br.
[IF]
As quatro partes do mundo, história de uma mundialização – GRUZINSKI (BMPEG-CH)
GRUZINSKI, Serge. As quatro partes do mundo, história de uma mundialização. Mourão, Cleonice Paes Barreto; Santiago, Consuelo Fortes. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo: Edusp, 2014. 576p. Resenha de: SÁ, Charles. Os quatro cantos do mundo: história da globalização ibérica. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.12 no.2, mai./ago. 2017.
Historiador francês, especialista no estudo das mentalidades, Serge Gruzinski já é conhecido há algum tempo em relação aos quadros historiográficos brasileiros. Suas obras abordam as múltiplas facetas da colonização espanhola na América, particularmente aquelas ligadas ao estudo da história do México. Ele desenvolve pesquisas que discutem a construção de um mundo novo pelos espanhóis e a intercessão de novos padrões culturais no mundo Ocidental a partir das conexões estabelecidas entre os mais diferentes povos dominados pelo Império Espanhol. Esse fenômeno, fruto do aparecimento de uma nova sociedade por meio da conquista espanhola da América e de outras regiões do globo, emergiu da junção entre pessoas de diferentes paragens do globo, unificadas pela imposição do Império castelhano durante a Idade Moderna.
Com livros publicados no Brasil pela Companhia das Letras, seu último trabalho, lançado em 2004, na França, ganhou tradução brasileira no ano de 2014 pelas editoras da Universidade Federal de Minas Gerais (Editora UFMG) e da Universidade de São Paulo (Edusp).
A obra “As quatro partes do mundo” apresenta discussão assaz interessante sobre a junção do planeta pela égide espanhola. Ao estudar, de modo particular, o mundo dominado por Felipe II até Felipe IV, dialoga com a colonização ibérica nos quatro cantos do globo. Do México, ponto fulcral dos estudos, para a África, do Brasil para a Ásia, de Goa para o Japão e daí para Lisboa e Madri, muitas são as junções que o autor se propõe a analisar. O livro está dividido em quatro partes: mundialização ibérica; cadeia dos mundos; as coisas do mundo; e a esfera de cristal. Possui gama generosa de ilustrações, mapas e fotografias de objetos dos séculos XVI e XVII.
Seu trabalho realça vozes que sempre ficam esquecidas nos estudos mais clássicos e tradicionais. Ao invés de líderes, generais, vice-reis, governadores, conquistadores, entre tantos outros ‘grandes homens’, vê-se, aqui, povos, pessoas subalternas, mestiços. Ao invés de focar em conceitos, como exploração, colonização, dominantes e dominados, ele aborda o período a partir da ideia de ‘mestiçagem’. Este conceito, segundo Gruzinski, é o elemento que ganha força para que se entenda e se explique o desenvolvimento do mundo ibérico no Novo Mundo e em outras partes do globo. Da união entre povos de culturas distintas, resultante da imposição das leis, da religião, dos modos de vestir, do trabalho e do viver inerentes ao mundo ibérico, surgiu uma sociedade não europeia e nem indígena: mestiça.
Esse conceito é assim definido: “As mestiçagens são, em grande parte, constitutivas da monarquia. Estão aí onipresentes. São fenômenos de ordem social, econômica, religiosa e, sobretudo, política, tanto senão mais que processos culturais” (p. 48). Na América colonial, não há mais um mundo ameríndio, tampouco ibérico, o que ecoa é um universo multiétnico e plural. Essa diversidade aponta para caminhos e fronteiras que serão parte constitutiva do mundo contemporâneo. A Modernidade e os questionamentos do século XXI sobre identidade e direitos dos povos podem olhar para o Império ibérico e perceber nele semelhanças com os debates que aconteciam no mundo dos Felipes. Nesse sentido, o diálogo hoje existente sobre o direito à identidade dos povos tem um de seus prelúdios nos primórdios da colonização ibérica em terras americanas. A necessidade de compreender o outro no período filipino foi feita por funcionários, clérigos e intelectuais, isso, porém, nem sempre significou tolerância ou respeito para com outras culturas.
Outro conceito interessante para aqueles que estudam a colonização ibérica é o de ‘mobilização’. Mais do que uma expansão, cuja ideia eurocêntrica tende a ver este povo como os mais destacados no processo de formação do Novo Mundo, a ideia defendida pelo autor para a colonização é a de uma mobilização em profundidade, a qual “provoca movimentos e entusiasmos imponderados que se precipitam, uns e outros, sobre todo o globo” (p. 53), fenômeno este que não pode ser controlado pelos seres humanos, nem mesmo pelos poderosos. Ele escapa das mãos daqueles que governam, bem como dos governados, da mistura desse processo dialético, que exclui e também agrega, tudo é mesclado e se espalha. Mesmo os micróbios são internacionalizados. Para o autor, “esse movimento não conhece limites” (p. 53).
A mundialização promovida pelo império ibérico disseminou valores, ideias, pensamentos, costumes, trabalho. Artesãos indígenas começaram a fazer uso de técnicas europeias; materiais feitos na América passaram a ser utilizados na África e na Ásia. Em pouco tempo, a habilidade dessas pessoas superava a dos europeus: roupas, alimentos, casas, pinturas, metais, temperos, tudo era assimilado e reproduzido. Mesclavam-se aos saberes ibéricos aqueles provenientes do mundo indígena, assim como valores vindos da África e da Ásia. Novos conhecimentos e produtos eram feitos. No entanto, quando pressentiam que estavam perdendo o saber para os mestiços, os europeus impunham, então, sua força: se não podiam dominar por meio do conhecimento, passavam a ter o controle da fabricação. Artesãos e trabalhadores eram cooptados pelos espanhóis para suas oficinas. O trabalho braçal e o fruto do saber mestiço foram dominados pelos castelhanos.
O mundo ibérico fez circular livros e saberes. O local e o global passaram a dialogar. Um indígena no Novo México falava das lutas e das disputas referentes ao trono espanhol. Um monge português apresentava sua visão sobre a Índia. Povos africanos eram explicados nas cortes europeias por viajantes vindos da América portuguesa, enquanto nas igrejas e em conventos da América meninos oriundos de aldeias ou assentamentos indígenas desenvolviam os saberes e os valores da religião transmitida da Europa.
Nesse cenário de povos e de culturas, as revoltas foram componentes intrínsecos ao sistema imperial. Membros da Igreja e governadores travavam embates pelo domínio dos novos espaços de conquista. Na Europa, a crise econômica da coroa espanhola no século XVII, consequência da guerra contra a França e a Holanda, fez com que as reformas propostas pelo ministro e cardeal Duque de Olivares encontrassem forte oposição na população mestiça no Novo Mundo. O aumento de impostos e a retirada de privilégios desse grupo, que não era composto nem por indígenas nem por espanhóis, fez com que a cidade do México entrasse em convulsão. Conexões envolvendo a mundialização de povos e economias tornaram-se parte do cotidiano da sociedade, a qual, por sua vez, não era harmônica ou subserviente. Desse modo, a contestação às leis e às ordens foi uma constante no mundo colonial ibérico.
Outro elemento que a mundialização erigida pelo Império ibérico estabeleceu foi a relativização do saber antigo. O mundo não mais se concebia como sendo plano ou com seres demoníacos em suas águas. Povos, bem como a fauna e a flora dos quatro continentes, são entendidos como pertencentes a uma mesma natureza. A difusão dos saberes e dos conhecimentos da Antiguidade foi o contraponto à sua relativização. Nas quatro partes do mundo, ouvia-se falar da Grécia e de Roma e, dessa maneira, a história europeia difundia-se entre povos não europeus, com as implicações que esse tipo de visão eurocêntrica trouxe para a compreensão da própria historicidade dos povos dominados pelos ibéricos. Da cidade do México a Goa, bebia-se dos valores da Antiguidade e dos padres da Igreja Católica. Uma sociedade paternalista, patriarcal e culturalmente judaico-cristã foi aí forjada, valores fundamentais para a cultura local foram realocados ou então dizimados, juntamente com os povos que o professavam.
Em um mundo que se globaliza cada vez mais, o pertencimento a um lugar continua sendo um item considerável. Ao se tornarem cidadãos do mundo, os ibéricos nem por isso deixavam de ser habitantes dessa península, pois o conhecimento por eles produzidos tinha em sua formação católica e europeia a base segundo a qual as relações e as novas concepções de mundo eram efetuadas. Os experts eram compostos por indivíduos europeus ou mestiços que pensavam esse novo mundo. Estes, por sua vez, eram oriundos da Igreja ou dos quadros administrativos do Império e dialogavam, por meio de seus livros e de viagens com esse novo universo que se abria para eles. Nesse contexto, emergiam novas elites: soldados, mulatos, comerciantes, fazendeiros, pessoas da pequena nobreza. Por meio do trabalho realizado em diversas partes do Império, efetivavam com suas ações e ideias o amálgama que concede unidade em meio à diversidade e ajudavam a compor as costuras que forjavam o império filipino.
As ideias e concepções vindas da Europa encontravam solo fértil no Novo Mundo, na África e na Ásia. Aristóteles e o tomismo da escolástica eram ensinados, debatidos e reproduzidos nos colégios e espaços acadêmicos do Império. Franciscanos, Jesuítas, Dominicanos, entre outras ordens religiosas, divulgavam e faziam com que se conhecessem as ideias advindas da Antiguidade grecoromana. Quadros, pinturas, poemas, tratados, esculturas e muitos outros objetos de arte reproduziam a concepção cristã e Ocidental de mundo.
Da mesma maneira que as artes e a fé se globalizavam, a língua também seguia o mesmo ritmo. Latim, português e castelhano tornaram-se o meio oficial de comunicação entre povos diversos. No entanto, estas línguas sofriam por um processo de hibridização: ao serem faladas por povos de outras regiões do globo, incorporavam elementos desses novos grupos. No Brasil, a Língua Geral, mescla da língua portuguesa com a língua tupi, foi o veículo pelo qual seus habitantes se comunicavam até a segunda metade do século XVIII.
Fé e linguagem uniram-se nas tentativas que jesuítas e demais ordens religiosas empreenderam para a propagação da Igreja Católica. Ao tentarem ver, nas crenças e nos valores dos povos que buscavam converter, elementos que possibilitassem exemplificar os ensinamentos de Cristo, houve, em muitos momentos, resultados inesperados. A partir do diálogo com crenças e cultos estrangeiros, alguns religiosos terminaram por adentrar em áreas que beiravam à heresia.
Em sua obra, Serge Gruzinski desenvolve a todo o momento uma escrita que direciona o leitor ao diálogo com outra época. Na tentativa de dominar as quatro partes do mundo, a monarquia católica da Espanha quase conseguiu seu intento. O tempo, esse monstro voraz, e as condições políticas e econômicas da Europa, bem como as resistências enfrentadas na África e na Ásia, contribuíram para que esse projeto não se concretizasse. Ainda assim, o contexto e as ideias da mundialização ibérica vicejam ainda hoje em nossa sociedade contemporânea, quer seja em seus filmes, obra de artes, romances, na linguagem e em atitudes que estão presentes em uma parte significativa do planeta.
A abordagem que se pretende na obra peca em um ponto: apesar de escrever sobre as diversas partes que compunham o Império espanhol, nota-se, ao longo de toda a obra, maior desenvolvimento de conceitos e de fatos circunscritos ao universo mexicano. Outras partes da América espanhola são menos abordadas do que a área do antigo império asteca. Nesse sentido, nota-se o olhar do especialista, já que Gruzinski tem como principal área de pesquisa o estudo da sociedade mexicana colonial.
Entender a globalização ibérica nos séculos XVI e XVII pode nos levar a refletir sobre a globalização capitalista em nossos dias. Ao adentrar em um mundo que se foi, percebe-se sua permanência. Discussões que foram aventadas na Espanha dos Felipes seguem ainda presentes nas sociedades da pós-modernidade. Dessa forma, a leitura da obra pode revelar formas de diálogos que devem ser buscadas na sociedade atual, bem como mecanismos de exploração que, ao persistirem, devem ser combatidos e extirpados. Boa leitura!
Charles Sá – Universidade do Estado da Bahia. E-mail: charles.sa75@gmail.com
[MLPDB]
300 años: masonerías y masones, 1717-2017 – ESQUIVEL et al (REHM)
ESQUIVEL, Ricardo Martínez; POZUELO, Yván; ARAGÓN, Rogelio (Ed). 300 años: masonerías y masones, 1717-2017. Tomo I: Migraciones. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017. Resenha de: SÁNCHEZ, José-Leonardo Ruiz. Revista de Estudios Históricos de la Masonería. San Pedro, Montes de Oca, v.9 n.1 May./Dec. 2017.
Con el título de Migraciones sale a la luz el primero de los cinco volúmenes que, con ocasión del tercer centenario del nacimiento de la masonería especulativa, constituirán la colección sobre la historia de dicha institución en la que se insertan, además de este, otros volúmenes dedicados a los Silencios, las Artes, la Exclusión y el Cosmopolitismo. Su edición ha sido fruto de la actividad desplegada por la red de investigadores en su mayoría agrupados en torno a la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC+) y la han impulsado comprendiendo la necesidad de luchar contra los mitos y leyendas que se cernían sobre la historia de esta organización, provenientes tanto de quienes la aprecian y están interesados en ella como de sus detractores. En este primer volumen los autores de los distintos trabajos abordan no solo la realidad de la masonería en esa nueva Europa que surge alrededor de la revolución francesa y la nueva América que a partir de entonces se independiza, sino que también describe cómo las redes masónicas de entonces fueron un componente clave de sociabilidad, de migración de ideas, que cimentó los fundamentos de esta nueva realidad por ambos continentes y que permite reconstruir y explicar el devenir histórico posterior.
El primero de los ocho trabajos de que consta el volumen está realizado por el profesor Ferrer Benimeli, fundador del CEHME y en la actualidad su Presidente de Honor; como es bien sabido fue pionero en abordar la temática desde la perspectiva europea y americana, con una dilatadísima producción historiográfica a sus espaldas contribuyendo, con rigor académico, a desmontar en su obra los estereotipos antimasónicos existentes hasta la fecha. En esta ocasión ha centrado su trabajo cronológicamente en el período que va desde las Cortes de Cádiz hasta la independencia de México, en el tránsito del antiguo al nuevo régimen, mostrando la utopía y realidad del liberalismo masónico, cuyo protagonismo hoy se replantea y está en gran parte por demostrar. El autor, haciendo uso de un prolijo conocimiento de los textos del momento a uno y otro lado del Atlántico, muestra cómo y cuándo se prefabricó ese pretendido protagonismo de la masonería; o la importancia que se le atribuyó a ciertos personajes de los que no sabemos con certeza si realmente fueron masones, realidad que se constata en una literatura similar, tanto en la metrópoli como en México, donde también se asocian con los independentistas como Hidalgo. Todo ello no deja de sorprender cuando, lo que sí queda claro, es que las Cortes de Cádiz prohibieron la masonería en los dominios de la Corona española.
Eduardo Torres-Cuevas, director de la Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí”, impulsor en el ámbito latinoamericano y caribeño de los estudios sobre la masonería al poner en marcha en 2007 la primera red académica de investigadores sobre la temática, además de gran conocedor de la historia de Cuba, se extiende sobre la instalación de la orden en la Isla y el valor que tuvo para la formación y desarrollo del país. Tras establecer distintas etapas, de la primera de ellas -correspondiente al siglo XVIII- informa de los planes ingleses para fijar logias en la Isla dentro de un plan para el control de La Habana; durante su ocupación por los ingleses, algunos de ellos eran masones, pero nunca criollos. En realidad, los primeros talleres existentes en Cuba a partir de 1798 no lo fueron por influencia de la Gran Logia Unida de Inglaterra sino, paradójicamente, en relación con el Gran Oriente de Francia; el hecho está en relación con el traslado a la mayor de las Antillas de numerosos franceses tras el levantamiento de esclavos en Santo Domingo, incorporándose a los trabajos -ahora sí- algunos criollos y españoles; la primera logia creada en Cuba, en 1804, lo hizo con patente de la Gran Logia de Pensilvania, emigrando en su mayoría tras el movimiento anti galo con la guerra de la independencia. Algo más tarde se constituirían en la Isla los dos cuerpos masónicos, yorkinos y escoceses: los primeros, con connotaciones liberales, formado por criollos, pretendieron influir en el movimiento libertador de México y Cuba; y los segundos, vinculados al Gran Oriente de Francia, mayoritariamente oficiales y comerciantes españoles. Tras un periodo de inactividad, desde comienzos de la década de 1830 hasta 1857 (entonces los cubanos entraron en instituciones masónicas extranjeras, de Estados Unidos, México y Francia), nació la Gran Logia Colón (sin conexión con España, donde no existía masonería) y el Gran Oriente de Cuba y las Antillas (de escaso recorrido, aunque fue en ella donde se gestó el movimiento independentista de 1868) si bien la verdadera reconstitución de la masonería cubana comenzó a partir de esa última fecha, apoyada por los cuerpos masónicos tanto de Estados Unidos como de España, sin que hubiese interferencias en lo político. Esta última masonería influyó en el pensamiento cubano pues buena parte de la intelectualidad, tanto autonomista como independentista, eran masones; tras la primera guerra muchos marcharon del país para sostener desde fuera la lucha por la independencia y se instalaron en cuerpos masónicos extranjeros, entre ellos José Martí. No obstante, el autor indica cómo el movimiento independentista de 1895-1898 no estuvo asociado a cuerpo masónico alguno aunque sí lo fueran sus tres principales figuras (Martí, Gómez y Maceo). Concluye apuntando que la masonería de Cuba contribuyó al desarrollo de las conciencias nacionales y patrióticas así como la cívica individual.
Por su parte Éric Saunier, se extiende sobre el espacio caribeño al plantearlo como enclave estratégico para comprender la masonería francesa y la lucha por el poder entre París y las provincias. Su estudio está centrado en el período cronológico que va desde finales del siglo XVIII a los años de los movimientos independentistas en América latina. Pone en relación la constitución de la masonería caribeña en la lucha de poder entre los altos grados de la de Santo Domingo a finales del XVIII y el control de la vida masónica cubana a comienzos del XIX; sitúa esa masonería caribeña en el contexto del combate entre obediencias francesas y anglosajonas en la zona; insiste en la necesidad de impulsar los estudios sobre las personas y las redes sociales para reconstruir la vida de los iniciados; y los pone en relación con el comercio establecido entre el gran puerto colonial de la Bretaña francesa de El Havre y el área del Caribe, especialmente con Santo Domingo y Cuba, que considera vital para explicar la pronta irrupción de la masonería en el Caribe, que pudo influir en las revoluciones de Portugal y Brasil de los años veinte y treinta.
Interesante el trabajo de Ricardo Martínez Esquivel, profesor de la Universidad de Costa Rica, director de REHMLAC+ y por tanto miembro de una de las mejores revistas académicas sobre este fenómeno. Siguiendo la estela marcada por Miguel Guzmán-Stein añade una visión totalizadora de la cuestión al entender que hablar de la masonería es, también, hablar de toda la sociedad. Su trabajo se centra en el presbítero católico Francisco Calvo, organizador de la primera logia en Costa Rica y alma del Centro Masónico Centro Americano (1865-1876) quien estuvo inmerso -a pesar de su condición eclesiástica- en distintos proyectos civilistas, de promoción de las libertades e inmerso entre la intelectualidad costarricense del momento, buena parte iniciada en la masonería, a cuyo desarrollo no fue ajena la fundación de la Universidad de Santo Tomás. A partir de ahí el autor se centra tanto en la actividad masónica como antimasónica centroamericana, que en Costa Rica tuvo un desarrollo tardío, y que en su opinión tuvo que ver más con un carácter asociativo que propiamente masónico, en el que participaron los ordenados como él, posiblemente más en relación con lo que era la tradición anglosajona que la latina. Cuando esta última se hizo más preponderante, tuvo que abjurar de su condición con lo que se inició el declive y cierre de todas las logias en 1876. Su proyecto regional pudo darse por concluido en 1899 cuando comenzaron a surgir las grandes logias nacionales centroamericanas.
La masonería en la amplia geografía mexicana durante el período de su independencia es el objeto de análisis de María Eugenia Vázquez Semadeni, de la Universidad de California en Los Ángeles, especialista en la historia de su país. La autora comienza su trabajo cuestionando la credibilidad de la historia realizada por los propios masones, imposible de contrastar por las escasas fuentes primarias existentes, razón por la que deben ser utilizadas con espíritu crítico. Se extiende a continuación en el establecimiento de las logias del rito York en las costas del seno mexicano, con autorización de la Gran Logia de Luisiana entre 1816 y 1820, que al poco se incorporaron al rito escoces. Debieron ser estos los primeros talleres y fueron fruto de las relaciones comerciales entre Nueva Orleans y las colonias españolas y francesas de la Indias Occidentales en el Caribe. Su desarrollo en Luisiana debió tener lugar con ocasión de la revuelta de esclavos de Santo Domingo cuando el territorio, tras el breve dominio francés, fue adquirido por los norteamericanos. De ahí, partieron las iniciativas para su instalación en Nueva España, primero en Veracruz, luego en Campeche y otros lugares. Sus componentes estaban de una u otra manera forma vinculados a la marina siendo comerciantes o militares de la armada. Y aunque algunos actuaron en política, su nacimiento no fue necesariamente con ese fin si bien una investigación más profunda, con nuevos fondos documentales, pudiera arrojar más luz.
Por su parte Dévrig Mollès, doctorado en Francia y director científico del Archivo de la Gran Logia de Argentina, analiza las relaciones entre feminismo, librepensamiento y masonería entre Europa y América en el cambio de siglo del XIX al XX. Y para ello traza la implantación de las organizaciones masónicas nacionales en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, que brotaron de aluvión con la presencia de exiliados franceses, británicos, italianos, españoles y portugueses preguntándose, al mismo tiempo, si los talleres pudieron ser el espacio de lucha cultural para las primeras generaciones feministas argentinas. A su modo de ver, las primeras mujeres en logias bonaerenses estuvieron vinculadas desde mediados del siglo XIX al librepensamiento; hace alusión expresa al caso de Brasil, mucho más tardío que el argentino. Refiere en tal sentido la presencia de Belén de Sárraga, discípula de Odón de Buen, en el XIII Congreso Internacional de Librepensamiento celebrado en Buenos Aires en 1906, en representación de la logia Virtud de Málaga, quien participó en la difusión del feminismo por distintos países hispanoamericanos y se erigió en símbolo de la nueva mujer latinoamericana.
Los orígenes y primer desarrollo de la masonería en Chile durante el siglo XIX son planteados por Felipe Santiago del Solar, de la París Diderot-París 7. La ausencia de fuentes fiables, la destrucción de los archivos de la Gran Logia de Chile a comienzos del siglo XX, la dispersión de las fuentes y el carácter no académico de la producción masonológica constituyen en su opinión los principales problemas para su estudio. En este caso, la difusión de la masonería está marcada por su escaso intercambio intercultural con Europa, condicionado por su situación geográfica y la legalidad comercial impuesta desde la metrópoli en el siglo XVIII, situación que cambiaría en algo a comienzos del siglo XIX lo que se tradujo entonces en la presencia de algún masón extranjero en la zona y poco más. Como primer dato cierto de la existencia de un taller cita la logia Lautaro existente entre 1817 y 1820, que vendría a ser parte de un proyecto cuyo objetivo último pudiera ser el derrocamiento del Virreinato del Perú. Ya en los años veinte, pudo tener algún desarrollo mayor en relación con las élites militares de países emergentes como Venezuela y Colombia, siendo la presencia extranjera en ellos importante. En realidad, es desde mediados del XIX cuando se inició el establecimiento de talleres, en un momento de impulso asociativo y de movilización popular, promovido por comerciantes y artesanos extranjeros de origen europeo no hispano y norteamericanos, instalados en los centros comerciales nacionales e internacionales del Pacífico. Fue así el caso de Valparaíso, por franceses, vinculado al Gran Oriente de Francia, pero también de otros promovidos por norteamericanos, argentinos y otros. Así hasta la formación de la Gran Logia de Chile en 1862, al margen del Gran Oriente de Francia. Este proceso se desarrolló de una manera discontinua hasta el inicio del siglo XX cuando el número de talleres rondaba la treintena.
Por último Guillermo de los Reyes Heredia, historiador mexicano afincado en la Universidad de Houston, se introduce en el papel que juega el asociacionismo -también el masónico- en el seno de la sociedad civil estadounidense. En tal sentido y a pesar de su independencia, intenta monopolizar el poder, dirigir en todos órdenes la vida económica, política y cultural; y desde este territorio intentará de expandirse por otros lugares con el mismo fin. Más adelante se extiende sobre la importancia que tiene la orden en Estados Unidos como organización fraternal.
Nos encontramos pues ante una interesante obra colectiva en la que se nos muestra las interinfluencias, las migraciones, de todo tipo (de los mitos, de las obediencias de distintas nacionalidades, de las personas) que vino a caracterizar la puesta en marcha de la masonería en la América que se independiza de su metrópoli europea a comienzos del siglo XIX. La masonología, como ciencia, está de enhorabuena y es de justicia felicitar a los autores que han aportado sus trabajos para la ocasión.
José-Leonardo Ruiz Sánchez – Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Presidente del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española. E-mail: leonardo@us.es
Ética, direito e política: a paz em Hobbes, Locke, Rousseau e Kant – NODARI (C)
NODARI, Paulo César. Ética, direito e política: a paz em Hobbes, Locke, Rousseau e Kant. Paulus, 2014. Resenha de: RECH, Moisés João. Conjectura, Caxias do Sul, v. 22, n. 2, p. 401-407, maio/ago, 2017.
A tarefa que Paulo César Nodari se coloca é, em grande medida, ambiciosa, para dizer o mínimo. Sua pesquisa de tese de Pósdoutoramento que se constituiu na presente obra, tem como mote o “projeto filosófico da paz no contratualismo moderno” (2014, p. 298), na qual Nodari empreende profundos estudos acerca de autores clássicos do pensamento político-moral da modernidade: Hobbes, Locke, Rousseau e Kant – com notória ênfase no pensador de Königsberg. O inovador enfoque elaborado em Ética, direito e política… é justamente olhar sob um novo prisma os autores destacados, qual seja, o prisma da paz. Desse modo, Nodari desembaraçar-se da carga pessimista que os autores contratualistas carregam consigo, no que diz respeito à propensão da natureza humana à guerra.
Para tanto, o texto se desenvolve a partir de duas partes, que se dividem em seis capítulos. A Primeira Parte, intitulada: “O contratualismo moderno e o projeto filosófico da paz: Hobbes, Locke e Rousseau” é subdividido em três capítulos, que, igualmente, são divididos em partes de contextualização e de inovação. Leia Mais
La frontera sur de Buenos Aires en la larga duración – Victoria Pedrotta e Sol Lantieri
Victoria Pedrotta /norbertomollo.blogspot /
 Desde la perspectiva de los estudios de frontera, este libro tiene la particularidad de integrar un diverso conjunto de miradas, que de forma separada e independiente, se han venido desarrollando en relación al estudio de los distintos procesos que tuvieron lugar en la frontera sur de la Provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona comprendida por los actuales partidos de Azul, Tapalqué y Olavarría. Gracias a la iniciativa allá por el 2013 de las directoras del libro, Victoria Pedrotta y Sol Lanteri, la obra es fruto de un estrecho trabajo de colaboración entre especialistas provenientes de la antropología social, la arqueología y la historia.
Desde la perspectiva de los estudios de frontera, este libro tiene la particularidad de integrar un diverso conjunto de miradas, que de forma separada e independiente, se han venido desarrollando en relación al estudio de los distintos procesos que tuvieron lugar en la frontera sur de la Provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona comprendida por los actuales partidos de Azul, Tapalqué y Olavarría. Gracias a la iniciativa allá por el 2013 de las directoras del libro, Victoria Pedrotta y Sol Lanteri, la obra es fruto de un estrecho trabajo de colaboración entre especialistas provenientes de la antropología social, la arqueología y la historia.
El libro se compone de siete capítulos, para cuya articulación las directoras pensaron en dos ejes temáticos, espacio y territorio, abordados desde una perspectiva multidisciplinar y de larga duración. De este modo, se fijó como propósito general del texto la puesta al día de las investigaciones sobre los procesos de construcción del espacio y el territorio de la frontera sur bonaerense desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Como veremos a continuación, a través de los sucesivos capítulos el lector podrá interiorizarse en los cambios, las continuidades, los actores sociales, sus prácticas y en la multiplicidad de representaciones de dichos procesos.
El Capítulo 1 “El uso del espacio, la movilidad y los territorios en grupos cazadores-recolectores pre-hispánicos del centro de los pastizales pampeanos” escrito por Pablo G. Messineo, inaugura la obra con un exhaustivo análisis y discusión crítica de la información arqueológica relativa al uso del espacio, la movilidad y los territorios a lo largo del tiempo, por parte de las poblaciones cazadoras-recolectoras en el centro de los pastizales pampeanos. Uno de los aportes más importantes que ofrece este capítulo es, precisamente, la perspectiva espacialmente amplia y de larga duración con la que el autor presenta y discute la evidencia arqueológica.
De este modo, Messineo evalúa las estrategias de los grupos humanos en función de los tres ejes de discusión propuestos al comienzo del capítulo. Para ello considera distintos modelos –económicos, sociales e ideológicos- para dar cuenta de la territorialidad, abarcando desde el Holoceno temprano hasta el período post-contacto y sin perder nunca de vista los cambios resultantes de la dinámica paleoambiental. El enfoque del autor contempla así las tres etapas cronológicas en las que se segmenta el Holoceno, empleando múltiples líneas de evidencia recuperadas a lo largo del tiempo mediante investigaciones arqueológicas en los partidos de Olavarría, Azul y Tapalqué, sumando a esto los contextos de áreas adyacentes.
Victoria Pedrotta en el Capítulo 2 “Recursos, espacio y territorio en las sierras del Cayrú (siglos XVI-XIX, región pampeana argentina)” examina y discute en profundidad la territorialidad y las formas en que ocuparon el espacio las poblaciones indígenas e hispano-criollas de la región pampeana.
Desde un enfoque holístico, la autora presta especial atención a los cambios ecológicos, económicos, sociales y simbólicos resultantes de la introducción de los recursos faunísticos y vegetales por parte de los europeos desde el siglo XVI en adelante. Su área de estudio comprende las denominadas sierras del Cayrú -topónimo que se remonta a mediados del siglo XVIII- y cuya ubicación corresponde al extremo occidental del Sistema serrano de Tandilia (Provincia de Buenos Aires). Es significativo señalar la importancia estratégica que esta área tuvo en las rutas de circulación y en las redes de intercambio y comercio interétnico a lo largo del tiempo. Subrayamos asimismo, la elección de la perspectiva geográfica para definir y abordar los conceptos de territorio y territorialidad, enfatizando el carácter complejo, dinámico y relacional de los mismos. Desde un punto de vista metodológico, es destacable la multiplicidad de fuentes de evidencia de las que se vale la autora para abordar su problemática de investigación. En este sentido, a través de un riguroso y exhaustivo análisis, Pedrotta confronta críticamente variados registros documentales, que incluyen distintos tipos de fuentes escritas así como cartográficas.
Este abordaje se completa a partir del análisis de la diversa evidencia arqueológica disponible para el área de estudio. La articulación entre el enfoque teórico y la perspectiva metodológica seleccionados, imprimen una complejidad y una riqueza indispensables al análisis realizado por la autora y permiten comprender los procesos experimentados y representados por las sociedades indígenas e hispano-criollas en el centro de la Provincia de Buenos Aires.
En el Capítulo 3 “Colonización oficial en la frontera. Azul en el siglo XIX”, Sol Lanteri analiza en detalle las condiciones y los mecanismos implementados, en principio por el gobierno rosista, para poner en práctica la colonización, poblamiento y defensa del actual partido de Azul, sin dejar de discutir los cambios y continuidades de dichas políticas hasta fines del siglo XIX. Como bien señala la autora la expansión hacia el sur de la campaña bonaerense tuvo por finalidad consolidar el dominio del Estado provincial y articular las tierras en un modelo productivo de carácter predominantemente ganadero.
Para llevar adelante su análisis, Lanteri considera de forma conjunta las primeras trazas del pueblo y ejido, el área rural y la política de relaciones interétnicas en el marco del “Negocio Pacífico” con los indígenas. En el caso particular de Azul, como en otras áreas, implicó negociaciones para reubicar las tolderías de los “Indios Amigos” en otras zonas y fomentar la colonización criolla, aunque especialmente allí los grupos catrieleros tuvieron un largo arraigo territorial. Se destaca la claridad de la autora para analizar cómo fue este complejo proceso de territorialización y colonización interna.
Así, Lanteri describe la peculiar modalidad de distribución de la tierras fiscales mediante las denominadas “donaciones condicionadas” de suertes de estancias, sin perder de vista el marco normativo, la praxis social y los derechos de propiedad en la mediana duración.
Laura Carolina Belloni en el Capítulo 4 “La política indígena del Estado de Buenos Aires en la frontera sur. Azul y Tapalqué entre 1852 y 1862”, ofrece, a partir de un acercamiento micro-regional, un análisis de las políticas de fronteras e indígenas desarrolladas en la dinámica y conflictiva década que va desde la caída de Juan Manuel Rosas (1852) hasta la asunción al poder nacional de Bartolomé Mitre (1862). A través de la aguda mirada de la autora es posible entrever los vaivenes de las políticas y las relaciones entre el Estado de Buenos Aires y los grupos indígenas en las áreas de Azul y Tapalqué. De este modo, con gran precisión, Belloni expone las marchas y las contramarchas asociadas al manejo de las fronteras, expresadas en la oscilación entre el fracaso de políticas militares ofensivas y la concertación a regañadientes de tratados pacíficos con los indígenas y sus caciques principales, como Catriel, Cachul, Calfucurá y Yanquetruz, entre otros. Si una cosa queda clara a partir del análisis, es la incompetencia del Estado de Buenos Aires, luego de la caída de Rosas, para manejar las relaciones de poder con las parcialidades indígenas. En ello no solo tuvo que ver la subestimación del poder de choque de los indígenas, sino también la inexperiencia de los funcionarios para el trato con éstos y la escasez de fuerzas militares, así como de suministros y armamento para las mismas.
El Capítulo 5 “La Pampa del Siglo XIX vista desde el camino de los chilenos” elaborado por Julio Merlo y María del Carmen Langiano, viene a ser un complemento perfecto del capítulo anterior, por cuanto los autores ofrecen al lector una detallada síntesis de las investigaciones arqueológicas en una serie de fuertes y fortines en la Provincia de Buenos Aires. Creados durante las variables condiciones políticas en el siglo XIX, una de las particularidades de estos asentamientos de carácter predominantemente militar, es que se encontraban situados en el “Camino de los indios a las salinas” o “Camino de los chilenos”, entre otras denominaciones dadas al camino que unía las tierras al sur del río Salado con los pasos bajos de Chile. De este modo, los sitios arqueológicos analizados corresponden a: Fuerte Blanca Grande, Localidad El Perdido, Fortín Arroyo Corto, Fuerte Lavalle Sur, Fortín La Parva, Fortín Fe y Fuerte San Martín.
Dado que todos ellos se situaron en sectores del espacio previamente ocupados por pueblos originarios, los autores evalúan, a partir del registro histórico y arqueológico, los cambios –ambientales, sociales y materiales- producidos en el paisaje fronterizo pampeano bonaerense, así como en las relaciones interétnicas a medida que el estado argentino iba avanzando y apropiándose del territorio indígena. En todos los casos de estudio, Merlo y Langiano dan cuenta del abordaje metodológico y los resultados principales del análisis de múltiples líneas de evidencia arqueológica.
Carlos A. Paz, Ludmila D. Adad y Alicia G. Villafañe presentan un giro temático en el Capítulo 6 en relación a los apartados anteriores. Dicho capítulo se titula “Culturas del trabajo y cambios territoriales. El rescate de la memoria histórica como estrategia de recuperación de las formas de vida, oficios y tradiciones técnicas de la minería del Partido de Olavarría”, tiene como propósito general describir y contextualizar el desarrollo de la producción minera –cal y cemento principalmente- en las Sierras de Olavarría. Para ello, los autores adoptan un enfoque multidisciplinario donde se integran las miradas de la antropología, la historia y el patrimonio con el objeto de comprender los cambios paisajísticos, productivos y sociales en el área de estudio a lo largo de 140 años. Es destacable el desarrollo del abordaje teórico y los conceptos de territorio y paisaje cultural, empleados para aprehender desde lo social, lo económico y lo simbólico las particularidades asociadas al desarrollo de la actividad minera en Olavarría desde 1870 hasta el presente, actividad que habría sido introducida de la mano de inmigrantes europeos, italianos principalmente. Como bien lo establecen los autores, el paisaje minero fue fundamental en el proceso de construcción identitaria de la localidad.
Finalmente, la obra concluye con el Capítulo 7 “Des-historias del centro bonaerense” de Ariel Gravano, quien desde una perspectiva histórica-antropológica pone en evidencia las maneras en las que el pasado, el presente y el futuro se imbrican en la construcción de los imaginarios identitarios propios de los actuales centros urbanos de la región central de la Provincia de Buenos Aires. El autor pone el eje de discusión en “lo regional” y reflexiona acerca de la funcionalidad de las idealizaciones hegemónicas sobre el pasado y el futuro en el presente, donde la homogeneidad y la integración prevalecen por encima de la heterogeneidad y las contradicciones históricas, culturales, económicas y políticas. Con una profunda agudeza analítica y de la mano de Canal-Feijóo, Gravano pone al descubierto, entre otras cosas, los dispositivos discursivos y representacionales empleados para distorsionar, desplazar y negar del pasado regional a los actores indígenas y sus prácticas, en pos de anclar los orígenes de la región central bonaerense en la “civilización urbana”. En este proceso de des-historización y de re-invención del pasado, es donde la épica de frontera adquiere mayor fuerza, asentando sus cimientos en un imaginario que naturaliza y legitima la avanzada eurocriolla en un “desierto” imaginado, fundamento medular de la construcción del moderno Estado-Nación argentino.
Para finalizar esta Reseña, creo importante señalar que si uno es un lector –ya sea especialista o no- ávido de conocimientos sobre los procesos ocurridos en la frontera sur de la Provincia de Buenos Aires, entonces la lectura de esta obra resulta indispensable en tanto fuente de consulta sobre el pasado regional de un área clave a lo largo del tiempo, tanto para las poblaciones indígenas como para las europeas y criollas de nuestro país. Sin temor a equivocarme, me atrevo a asegurar que este libro habría sido motivo de orgullo para el querido maestro Raúl Mandrini (1943-2015).
Silvana Buscaglia – Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU), CONICET. Saavedra 15, 5° piso (1083) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: silvana_buscaglia@yahoo.com.ar
PEDROTTA, Victoria; LANTERI, Sol (Dir.). La frontera sur de Buenos Aires en la larga duración. Una perspectiva multidisciplinar. La Plata: Asociación Amigos del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 2015. 315p. Resenha de: BUSCAGLIA, Silvana. Arqueología, Buenos Aires, v.23, n.1, p.141-143, enero-abril, 2017. Acessar publicação original
[IF]O Príncipe – MAQUIAVEL (MB-P)
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. 4ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. Resenha de: OLIVEIRA JÚNIOR, Airton Antônio de. Um Príncipe não tão maquiavélico. Marinha do Brasil/Proleitura, 2016/2017.
Entre as diversas traduções e edições deste livro, o escolhido para este trabalho foi o da Editora WMF Martins Fontes, 4ª edição, de 2010, São Paulo, contém 197 páginas, traduzido por Maria Júlia Goldwasser, inclui Vida e Obra do autor, apêndice com paralelo entre Maquiavel e Marx, Notas Explicativas e Vocabulário de termos-chave de Maquiavel. Um dos maiores livros da literatura política mundial, “O Príncipe” foi escrito em 1513 e publicado, pela primeira vez, em 1527. Maquiavel compreendia a tendência das coisas humanas, a inconstância das massas e a fragilidade das nações. Sem se prender a conceitos estabelecidos, estuda os diversos tipos de Estados, classifica-os por gêneros e estabelece leis, segundo as quais cada principado deve ser conquistado ou governado. Descreve, de maneira genérica, como o governante deve portar-se, de acordo com o cenário estabelecido.
Nos primeiros quatorze capítulos, Maquiavel classifica os principados em gêneros bem definidos, dividindo-os em hereditários e novos, explicitando como se dá a conquista em cada um: com exército próprio ou de outros, pelo fluxo de acontecimentos ou pelo conjunto de qualidades do governante. O autor procura não construir um Estado ideal, e sim ver os problemas reais, a realidade concreta das coisas. O livro é repleto de exemplos da Antiguidade e Idade Média, por exemplo, Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu, Aníbal, porém, a maioria deles é contemporânea, como César Bórgia, Francesco Sforza e o Papa Júlio II. Tudo para comprovar seu ponto de vista.
Nos capítulos posteriores, o autor discorre sobre diversos aspectos relacionados a um príncipe. Comenta sobre as qualidades que um governante precisa ter e outras a evitar, o cuidado devido às finanças, à cobrança de impostos e à utilização desses recursos. Trata, também, da dicotomia “se é melhor ser amado que temido ou melhor ser temido que amado”, afirmando que “os homens têm menos receio de ofender quem se faz amar, do que a quem se faz temer”. Para Maquiavel, é mais importante aparentar ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, a de fato possuir tais qualidades. Sua teoria é baseada no fato de que “… todos veem o que se aparenta, poucos sentem aquilo que realmente é; e esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos.” Um príncipe deve evitar o desprezo e o ódio dos homens, manter o povo feliz, afastar-se de bajuladores e controlar seus secretários.
Nos três últimos capítulos, Maquiavel aborda a invasão da França na Itália, os motivos que levaram a perda de alguns estados. Defende a tese de que um governo novo tem suas ações mais observadas que um hereditário, e que os homens se interessam mais pelas coisas do presente do que pelas do passado. Para o autor, o fluxo dos acontecimentos não está predefinido, devendo-se preparar para tempos difíceis nos momentos calmos que os antecedem e coloca que é melhor ser impetuoso do que cauteloso. Tenta persuadir a retomada da Itália dos franceses apelando para o sentimento nacionalista e religioso.
Em “O Príncipe”, portanto, Maquiavel demostra que o fato de a Itália estar dividida em diversos governos tornou-a suscetível a constantes batalhas e que poderiam ser evitadas com sua unificação, sob um único soberano, naquele momento por Lorenzo II de Medici, neto de Lorenzo, o Magnífico. Para o autor, um príncipe que tenha uma visão que se afaste de um realismo estrito, que deixe de buscar a verdade efetiva das coisas, está fadado a conceber conclusões equivocadas, perigosas para sua nação. Em seu livro, ele cita que “sendo meu interesse escrever uma coisa útil para quem a escuta, parece-me conveniente seguir a verdade efetiva da coisa do que a imaginação sobre ela.” Quando um príncipe age, assim o faz para conservar o Estado. Se, ao analisarmos as ações dos governantes, entendermos que estamos diante de uma ação praticada não por escolha, mas por necessidade, fica sem sentido qualquer tentativa de impor limites éticos ou morais a tal conduta.
Airton Antônio de Oliveira Júnior – 2º Tenente da Marinha Brasileira.
Corrupção e poder Uma história, séculos XVI a XVIII – ROMEIRO (RH-USP)
ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder. Uma história, séculos XVI a XVIII. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 397p. Resenha de: SILVEIRA, Marco Antonio. Corromper repúblicas, espoliar conquistas. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Instigante e enriquecedor é o livro que Adriana Romeiro acaba de apresentar aos leitores sob o nome de Corrupção e poder. Uma história, séculos XVI a XVIII. O atual momento vivido pelo Brasil – em que a investigação de práticas corruptas articula-se ora a iniciativas bem recebidas por quem deseja aprofundar a democracia no país, ora a objetivos políticos nada nobres, que põem em evidência a instrumentalização antidemocrática dos poderes da República, inclusive do Judiciário – pode nos levar a crer que a autora aproveitou a oportunidade. Tal avaliação, contudo, mostra-se equivocada quando o referido trabalho é inserido no conjunto mais amplo que constitui suas reflexões, especialmente aquelas expressas em livros anteriores. Uma vez que Adriana Romeiro sempre se preocupou em entender a dinâmica da administração portuguesa tanto em ambiente de corte quanto no cotidiano turbulento da região que se transformaria na capitania de Minas Gerais, o estudo das práticas ilícitas das autoridades régias nas extensas áreas do império luso apresenta-se como um desdobramento esperado, tratado pela autora com o cuidado devido.
É possível que o título – que destaca termos chamativos para um público mais amplo, secundarizando a informação sobre seu recorte histórico – tenha resultado de sugestão editorial. Porém, ainda assim cumpre bem o papel de explicitar logo de início duas questões historiográficas relevantes. A primeira, infelizmente apenas referida pela autora em nota, diz respeito ao uso da palavra Brasil no lugar de América portuguesa, termo hoje mais amplamente aceito pela historiografia por supostamente escapar ao anacronismo. Em certa medida, esta última expressão ganhou crédito quando contraposta ao uso bastante corrente há algumas décadas de Brasil colônia, composição vocabular de potencial teleológico por sugerir que a colônia era o Brasil em formação. No entanto, América portuguesa não é ter mo desprovido de problemas teóricos e metodológicos. É curioso observar que seu prestígio consolidou-se justamente na ocasião em que os historia dores passaram a perguntar-se incessantemente se as áreas coloniais não eram versões específicas do Antigo Regime. Apesar das preocupações com o anacronismo, certo etnocentrismo permanece: seria adequado supor que os historiadores denominam a América portuguesa como tal porque, apesar dos avanços, ainda pouco conhecem da variedade e da complexidade das sociedades indígenas e africanas? Ademais, como lembra Romeiro, a expres são é pouco encontrada na documentação de época, na qual se encontram comumente os nomes Brasil e Brasis.
A segunda questão, tratada amplamente na primeira parte do livro – intitulada “A corrupção na história: conceitos e desafios metodológicos” – refere-se à adequação do uso do conceito de corrupção para o período que cobre os séculos XVI a XVIII. A resposta da autora é afirmativa, mas segue acompanhada da ressalva de que a palavra tinha um sentido diferente do atual. Em linhas gerais, podemos dizer que Adriana Romeiro, com base na análise da literatura teológico-política típica do Portugal da época – cujos elementos aparecem constantemente nos documentos oficiais – é bem-su cedida ao esclarecer uma diferença histórica crucial: enquanto no mundo contemporâneo a corrupção é identificada a práticas desviantes contrárias à distinção liberal entre o público e o privado, nas sociedades de Antigo Re gime, em que as relações pessoais atravessavam todas as estruturas sociais, inclusive as administrativas, o que se corrompia através de delitos e ações ilícitas era o corpo místico da res publica.
Alguns colegas de ofício talvez não se satisfaçam com a explicação fornecida, argumentando que sua força seria, na verdade, sua fraqueza. Ora, se nas sociedades modernas não havia distinção clara entre público e privado, a apropriação particular de bens e postos administrativos constituiria parte da própria natureza das relações sociais. Romeiro em nenhum momento descarta essa dimensão – o que não significa, porém, ceder ao argumento simplista de que a corrupção não podia ser concebida na época. Se era difícil distinguir o público do privado, isto ocorria justamente porque havia alguma noção dos limites que circunscreviam ambas as esferas. Para a autora, a tendência da historiografia atual de esvaziar o conceito de Estado, de sobrevalorizar a política de mercês e de compreender a dinâmica administrativa como imersa em redes dispersas, quando levada ao extremo, apaga o caráter fundamentalmente ambíguo, conflituoso e contraditório de fenômenos diversos.
Não é despropositado dizer que, hoje, alguns historiadores, em vez de se perguntarem sobre as contradições e especificidades do Estado moderno, preferem negar sua existência; em vez de questionarem como os agentes lidavam com as ambiguidades deixadas pelas doutrinas escolásticas, consideram mais adequado ignorá-las. Adriana Romeiro não adota essa saída, tão fácil quanto incoerente. Reconhecendo que atitudes ilícitas eram implicitamente aceitas quando adotadas por governadores e vice -reis – seu principal alvo de análise -, propõe-se também a mostrar que a Coroa soube rejeitar e punir excessos tidos como atentatórios em rela ção aos interesses régios. E se a utilização de regimentos, ordens régias, devassas, residências e outros instrumentos oficiais e mais padronizados nem sempre gerava resultados constrangedores, podendo ser instrumentalizados nos diversos níveis de poder – até mesmo pela própria Coroa -, a aplicação do ostracismo como forma de punir autoridades mais escandalosas produzia efeitos tangíveis. Uma investigação sem resultados com prometedores pouco valia se, de volta ao reino, o governador ou vice-rei recebesse a notícia de que não seria recebido pelo monarca no beija-mão. Residências recheadas de elogios, muitas vezes obtidas à custa da manipulação de quem testemunhava, nem sempre impediam que nobres se vis sem afastados do serviço régio e da possibilidade de obter graças e mercês.
Ao avançar por essas questões no segundo capítulo – “A tirania da distância e o governo das conquistas” -, a autora não perde de vista um proble ma de fundo, explicitamente formulado e abordado na parte anterior: as deficiências de análises que procuram explicar os impérios modernos segundo a ideia de negociação. Mencionemos, antes de tudo, que Adriana Romeiro recorre à ampla bibliografia concernente ao Império espanhol porque não encontra reflexão consolidada sobre a corrupção no período tratado entre historiadores luso-brasileiros. A explicação para tal defasagem parece-lhe achar-se, pelo menos em parte, na predominância de determinadas perspectivas analíticas, como mencionado acima. À medida que vai discutindo o tema em relação ao Império português, em que constata a ocorrência de práticas ilícitas generalizadas, ratifica o argumento de que o enfoque centra do na ideia de negociação afasta da abordagem historiográfica o problema da dominação política, e isto em prol de uma visão excessivamente con ensual. Mais ainda, um dos pontos altos do livro encontra-se na afirmação de que tal perspectiva privilegia em demasia as articulações e os acordos travados pelas elites nos diversos níveis de poder – entre o centro e as periferias, portanto -, secundarizando outros grupos sociais que constituíam tanto o universo ibérico quanto o colonial. Uma crítica desse tipo não pode passar despercebida para os que se acostumaram a ouvir que o viés outrora predominante na historiografia brasileira era “circulacionista”, desprezando, como tal, as estruturas produtivas e as formações sociais específicas às sociedades coloniais. O olhar arguto da autora, assim, nos faz pensar que talvez um novo “circulacionismo” tenha surgido: aquele que procura expli car a colonização recorrendo a redes de trocas, negociações e mercês que articulariam, embora de modo menos sistematizado, o centro e as periferias – redes entendidas agora como marcadamente pessoais e familiares. E, para falar com palavras antigas, eis que um suposto determinismo infraestrutural é substituído por outro, de caráter superestrutural.
Adriana Romeiro, porém, ao referir-se constantemente a periferias, não perde de vista o problema intrincado da exploração colonial. Outro aspecto decisivo do livro consiste no fato de recuperar a noção de spoils system, outrora proposta por Charles R. Boxer, e inseri-la num quadro em que a riqueza produzida pelo trabalho compulsório é duramente disputada por colonos e administradores. Observações irritadas e moralizadoras sobre esse ponto aparecem em personagens de épocas diferentes, como, nos séculos XVI e XVII, Diogo do Couto, autor do Soldado prático; o anônimo que escreveu Primor e honra da vida soldadesca; Francisco Rodrigues Silveira, de Reformação da milícia e governo do estado da Índia oriental; o jesuíta Manuel da Costa, de Arte de furtar; o famoso padre Antônio Vieira; e, já na segunda metade do XVIII, Tomás Antônio Gonzaga, com suas Cartas chilenas. Nas páginas em que Romeiro descreve as opiniões desses autores vão emergindo diversas tópicas, dentre as quais se destacam a da cobiça desenfreada, a da distância que facilita o roubo, a do governador-esponja que suga os pobres e os colonos, e a da temível decadência.
Esta última, comumente amparada em referências feitas a Roma antiga, alerta que os desvios, em última análise, corrompem a República e arruínam o Estado – e aqui o leitor sente falta de um olhar que, observando certas nuanças da literatura neoescolástica, diferencie ambos os termos, república e estado, atinentes, respectivamente, ao governo e à dominação, à prudência propriamente dita e à prudência política. A despeito disso, o esquadrinha mento das tópicas realizado por Romeiro diz muito sobre a colonização. Para ficarmos em apenas um exemplo, a recorrente menção ao tema da distância parece implicar um modo particular de conceber, durante a época moderna, as relações entre centro e periferias. Quando aparece associada à concepção cíclica do tempo – aquela que explica o vínculo entre corrupção e decadência – surgem as condições para que os historiadores vejam criticamente seus próprios modelos explicativos. O autor de Primor e honra explica: “República é corpo místico, e as suas colônias e conquistas membros dela; e assim se devem ajudar reservando e reparando suas fortunas e conveniências” (p. 170). Mas é da subversão dessa noção de império que falam todas as tópicas; do medo de que a cobiça sem controle, especialmente na distância das periferias, esgote as conquistas e extinga as formas pelas quais a decadência do Estado e do Império pode ser evitada.
Ao iniciar seu terceiro capítulo – “Ladrão, régulo e tirano: queixas contra governadores ultramarinos, entre os séculos XVI e XVIII” -, a autora vai estabelecendo firmemente a hipótese de que a exploração colonial não se dava apenas através dos circuitos mercantis oficiais, até porque o contrabando era estrutural e contava com a participação ativa de autoridades, produtores e negociantes de todas as partes do Atlântico, interna e externamente. A saraivada de casos descritos por Romeiro não somente indica como as tópicas literárias eram apropriadas nos embates travados nas várias partes do Brasil – a região colonial que, desde a segunda metade dos Seiscentos, havia desbancado a Índia como foco privilegiado de queixas -, como também aponta para o vínculo existente entre, de um lado, a captação lícita e ilícita de recursos coloniais efetuada pela nobreza governante e, de outro, os objetivos relacionados à constituição, ao desempenho ou ao engrandecimento de suas casas. A documentação trazida pela autora se refere a uma das facetas pelas quais a colonização se tornava constitutiva da sociedade portuguesa. De fato, aquilo que espelhos de príncipe classificavam como concupiscência dizia também respeito ao esforço de sobrevivência da nobreza num contexto em que a competição simbólica e a necessidade de consumir o luxo ampliaram irreversivelmente o endivida mento e a dependência frente às rendas régias. Fosse o grande preocupado com a queda dos rendimentos, fosse o filho secundogênito obcecado por criar sua própria casa – e disto trata a autora no quarto e último capítulo, “A fortuna de um governador das Minas Gerais: testamento e inventário de d. Lourenço de Almeida” -, parte expressiva dos administradores tratavam de espoliar as áreas coloniais governadas para evitarem o risco de tudo perder na Corte. Andavam, portanto, no fio da navalha, equilibrando-se entre a busca de recursos e a ameaça de punição e ostracismo.
Descrevendo cuidadosamente o caso de d. Lourenço, que governou as Minas Gerais entre 1720 e 1731, Adriana Romeiro deixa arraigada a sensação, já mencionada acima, de que as articulações políticas e o ataque à honra desempenhavam um papel geralmente mais importante do que os instrumentos formais de punição – já que, desde seu retorno a Lisboa, o ex-governador não encontrou consolo, nem acesso ao serviço régio e a mercês, assim permanecendo durante todo o período pombalino. Apesar de chegar a erigir um morgado valendo-se dos recursos amealhados e de estratégias endogâmicas de casamento, não conseguiu de fato constituir sua própria casa, sonho já totalmente dissipado na geração de sua neta. D. Lourenço de Almeida foi um exemplo claro, embora relativamente malsucedido, de governador que, metendo-se na luta renhida pela expropriação da riqueza colonial – na qual entravam também os agentes, poderes e costumes locais -, buscou acumular bens, saldar dívidas, fundar uma casa nobre e manter rendimentos que garantissem seu decente sustento. Enfim, foi, a seu modo, parte da dinâmica do que a historiografia – ou parte dela – denomina de sistema colonial.
Em nota, Romeiro não deixa escapar o desalento do famoso diploma ta d. Luís da Cunha em relação a esse tipo de consumo, que, segundo ele, empobrecia a nobreza portuguesa e causava o envio de grossas somas a Paris, “porque de lá emanam as modas” (p. 358). Observação interessante não propriamente por sugerir que parte da riqueza colonial ia parar em França, mas sim por destacar o papel crucial – utilizemos novamente palavras antigas – desempenhado por uma espécie de coerção extraeconômica: a moda. E também nesse ponto o livro de Romeiro faz pensar. Seria mesmo correto afirmar que a riqueza colonial era esterilizada por um consumo que, ao fim e ao cabo, alimentava estruturas comerciais e produtivas francesas?
Faria algum sentido estabelecer limites rígidos e deterministas entre fatores econômicos e extraeconômicos? Mas essa pergunta nos levaria a questionar aqueles que dizem saber onde começa e termina o capitalismo, embora não expliquem por que sociedades orgulhosas de serem tradicionais – ainda que de modo contraditório e conflituoso – devem ser chamadas de arcaicas. A consistência da obra de Adriana Romeiro encontra-se bem além de armadilhas desse tipo, que bem lembram as velhas, teleológicas e preconceituosas teorias da modernização.
Marco Antonio Silveira – Doutor pelo Programa de Pós-graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor associado do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto. Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Email: mantoniosilveira@yahoo.com.br.
No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres | Jaime Rodrigues
Esta resenha começa com uma advertência, figura literária comum (como os modernistas tão bem sabem) em obras de autores pós-tridentinos, que a incluíam essencialmente para se exonerarem de responsabilidades, ao sustentarem a sua boa ortodoxia e ao afastarem de si e da sua obra todas as suspeitas de heresias religiosas ou políticas que pudessem fazer tremer trono e altar.
A minha humilde advertência não se rege pelas necessidades políticas ou religiosas, mas pela honestidade intelectual. A resenha que se segue é de autor cujo trabalho se centra no estudo da história religiosa nas vertentes institucional, cultural e das mentalidades, pelo que se afasta do perfil conhecido do nosso caríssimo Jaime Rodrigues.
Aproxima-nos a dedicação ao Atlântico enquanto espaço histórico de análise, e o interesse dedicado aos povos africanos (afinal tivemos por denominador comum a pertença ao Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto) e ao seu papel neste mundo definido pela língua portuguesa. A minha leitura é pois de alguém que, não sendo especialista nas áreas trabalhadas, está no entanto familiarizado com tema e com o autor e como tal atreve-se (humildemente) a resenhar. Perdoe o leitor (e o próprio autor) as limitações e as falhas de tal processo.
O primeiro contacto pessoal que tive com o autor de No Mar e em Terra – História e Cultura de trabalhadores escravos e livres foi no ano de 2013, quando de uma conferência que este proferiu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Jaime Rodrigues teve então o ensejo de nos deliciar com a apresentação do seu projeto de pesquisa sobre a marinhagem escrava e liberta nos navios Atlânticos dos séculos 18 e 19.
Recordo não apenas o entusiasmo do palestrante sobre o tema que então o ocupava, mas também o daqueles que tivemos o privilégio de o ouvir dissertar, mesmo os que vindos de outras áreas de investigação (como eu próprio) e que rapidamente foram contagiados pelo interesse e novidade do que era apresentado. Jaime Rodrigues demonstrou a importância da pesquisa para um melhor conhecimento da marinhagem atlântica lusófona, em particular o papel quase ignorado dos escravos e libertos e das questões complexas que se lhes punham no tabuado dos navios portugueses que cruzavam o Mar Oceano.
Ao modernista que o ouvia foi difícil não ouvir o apelo de uma pesquisa que procurava recuperar o papel dos africanos neste universo tão particular e que foi elemento estrutural num Estado com características talassocráticas como o era o português da Época Moderna. Particularmente fez-me recordar, como ressonância longínqua, as linhas de Rui de Pina em que descreve a chegada de Diogo Cão ao reino do Congo e de como “…os negros da terra se fiavam delle, e seguramente entravam, já nos navios…” que os trariam a Portugal e à corte de D. João II. Dura ironia certamente.
Três anos passados sobre tal apresentação, e ao folhear o mais recente fruto do trabalho de Jaime Rodrigues (aquele que aqui se tenta resenhar), tive a felicidade de reencontrar (como capítulo terceiro do livro) o tema daquela apresentação de projeto, agora já convertido num produto final. O capítulo, antecedido por um sólido trabalho de enquadramento e de problematização, oferece ao atual leitor as mesmas premissas que nos tinham sido apresentadas em 2013 e a que se juntam agora os passos de pesquisa, os dados por ela coligidos e que sustentam a validade e a importância das conclusões.
O rigor científico e a erudição do trabalho do autor, não apenas neste como nos demais capítulos do livro, e que são naturalmente apanágio de um investigador e docente que conta com uma trajetória sólida e reconhecida, são o garante da qualidade do que nos é oferecido.
Como o prefácio de João José Reis e a própria apresentação do autor esclarecem, No Mar e em Terra é uma coletânea de diferentes artigos produzidos ao longo dos anos e dos quais resultam os sete capítulos da obra. Procurou o autor reunir num só volume trabalhos que andariam dispersos mas cuja afinidade de temas aconselhava a congregar, com toda a coerência, num único volume. Como já o prefaciador salienta, a atualização de bibliografias e a reflexão paralela que Jaime Rodrigues faz sobre a validade dos resultados do seu trabalho à luz da mais recente pesquisa histórica colocam-nos perante um livro que não apenas reúne como atualiza a pesquisa que o autor vem desenvolvendo ao longo do seu percurso profissional.
Com um arco temporal de abordagem que vai do século inicial da expansão marítima portuguesa até ao ainda muito próximo século 19, estes trabalhos encontram o seu fio condutor comum na geografia atlântica e no enfoque nas questões sociais geradas em torno das questões do trabalho (no mar ou em terra) e do papel e lugar dos escravos e libertos africanos neste mundo Atlântico lusófono.
Desde meados do passado século que as historiografias portuguesa e brasileira (e não só) têm dedicado um olhar cada vez mais interessado e aprofundado à importância econômica e social do mundo Atlântico português. O campo tem-se revelado vasto e fértil, as abordagens são múltiplas e vão-se renovando sistematicamente. Ultrapassadas as tradicionais abordagens de história essencialmente política, cujas vicissitudes do devir histórico faziam acentuar as diferenças, tornou-se possível aos acadêmicos compreender a importância dos elementos comuns.
Este é aliás o postulado do autor, bastante notório na introdução ao 2º capítulo, onde sustenta precisamente que uma análise histórica que tenha por foco o Atlântico não deve simplesmente fechar-se na experiência histórica dos homens do norte Atlântico (como fará a historiografia anglo-saxônica) mas perceber o que no conjunto dos territórios mediados por este oceano é elemento comum e pode ser analisado como tal.
Trabalho de um historiador representante de uma academia situada no sul Atlântico, como o Brasil geograficamente se situa e culturalmente se entende (pelo menos de um modo geral), a pesquisa de Jaime Rodrigues evita a tentação de centrar geográfica e humanamente a pesquisa na “sua” metade do Oceano.
Ainda que correndo o grave risco de cair em anacronia, seria interessante equacionar o entendimento que Jaime Rodrigues (bem como os historiadores que partilham do seu entendimento) tem do mundo Atlântico, como uma geografia histórica que é unida, e não separada, pelo oceano, com a visão que a civilização Romana tinha do mar Mediterrânico, o de um mar que mais não era que uma plataforma distribuidora que unia os limites do mundo latino que o rodeavam, e não a fronteira líquida em que se converteu a partir do século 7 e da expansão do mundo islâmico.
A amplitude da perspectiva na abordagem histórica, que também é perceptível na internacionalização do autor (já mencionei a sua participação num centro de investigação ligado à Universidade do Porto), é reforçada pelas fontes e pela bibliografia que utiliza na elaboração dos diversos trabalhos que formam este livro.
Será o caso da utilização que Jaime Rodrigues faz dos fundos dos arquivos históricos portugueses, onde trabalha com documentação que lhe permite contribuir para uma melhor percepção desse espaço Atlântico que é o cenário da sua pesquisa, e que se nos apresenta como um saudável desafio à própria academia portuguesa para que aprofunde os estudos sobre a questão laboral dos africanos nos contextos do mundo lusófono Atlântico.
É uma forma de acentuar o diálogo enriquecedor que o autor já mantém com os investigadores e os centros de investigação portugueses, onde as pesquisas focadas no universo marítimo estão em crescimento, nomeadamente – no que à Universidade do Porto e ao seu Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM) respeita – com pesquisas em torno dos estudos dos portos e das comunidades marítimas, ou das redes comerciais dos primeiros séculos da modernidade, em que o comércio transatlântico tem um papel nada desprezível.
Também uma rápida leitura da listagem bibliográfica utilizada permite alargar esta compreensão do diálogo e inserção internacional do autor, ao colocar-nos perante bibliografia ampla e significativa para os temas abordados (aliás, como já mencionado, foi especialmente atualizada para esta edição), com uma notória e expressiva presença de bibliografia portuguesa e anglo-saxônica da mais recente produção.
Salienta-se o entendimento preciso que o autor tem sobre o universo que trabalha, bem como a diversidade e relevância das fontes e bibliografia que utiliza, para acentuar o fato de esta obra não ser de interesse circunscrito e localizado. Jaime Rodrigues organizou esta sua coletânea de textos numa gradação variável de perspectivas de âmbito geográfico e cronológico que nos permitem, sob a mesma linha de entendimento, ver diferentes graus de abordagem.
O autor aborda desde pesquisa que poderemos designar como de história local e regional (o estudo centrado na Fábrica de Ipanema, no capítulo sexto), ou com uma natureza temporal muito precisa (como o estudo sobre os escravos que tentaram obter a sua liberdade por recurso à Constituinte Brasileira de 1823, capítulo quarto), a estudos bastante mais dilatados no espaço e no tempo.
Com uma orgânica que segue inteiramente o plasmado no título, o livro pode-se dividir entre os capítulos que situam a sua análise no Mar Atlântico (os três primeiros capítulos) e os que a situam em Terra (capítulos quarto a sétimo).
O primeiro conjunto de artigos que supra se menciona apresenta três diferentes abordagens ao universo dos marinheiros Atlânticos e a questões culturais, materiais e laborais que se desenvolviam em alto-mar.
O primeiro capítulo introduz um interessante estudo no domínio da cultura marítima criada pelos marinheiros Atlânticos, que se apresentam como criadores, promotores e conservadores de patrimônio imaterial, num estudo dedicado aos ritos de passagem do equador, analisados entre os séculos 16 e 20, com testemunhos de autores oriundos das mais diversas nações que cruzam o mar Atlântico.
O capítulo sequente introduz-nos a uma das questões materiais mais relevantes na vida marítima, com consequências diretas na própria sobrevivência dos mareantes: Jaime Rodrigues oferece-nos um estudo sobre a relação entre alimentação e saúde a bordo dos navios que cruzavam o Atlântico, erguido sobre a análise cruzada das descrições de viajantes europeus e dados recolhidos em arquivos portugueses.
Salienta-se, num tema já tratado anteriormente pelo autor na sua tese doutoral e que agora retoma, a sua abordagem (no ponto III) à questão do conhecimento empírico gerado pela experiência de mar, uma verdadeira cultura prática marítima colocada ao serviço da preservação física dos homens do mar (nomeadamente no tratamento do escorbuto), e a importância desse conhecimento contra o qual se levantava a desconfiança dos oficiais médicos. Uma experiência aliás que transpunha para a alimentação a bordo todo o conhecimento novo que se obtinha de alimentos desconhecidos dos europeus pré-modernos e que as viagens de navegação Atlântica somaram à sua cultura material.
O terceiro capítulo, fruto da pesquisa que se menciona no início desta resenha, encerra o conjunto de trabalhos especificamente dedicados ao universo marítimo, cedendo passo aos trabalhos “terrestres”, conjunto de quatro trabalhos que têm por elo comum os trabalhadores escravos e libertos.
O capítulo quarto introduz-nos às tentativas de escravos de obterem a sua liberdade por recurso à primeira constituinte brasileira, cuja memória o autor recupera dos fundos do arquivo parlamentar. Demonstra materialmente como a retórica que acompanhou a emancipação política do Brasil teve eco entre a população escrava, que do recurso ao judicial e às novas autoridades políticas procurou obter a sua liberdade, anseio que soçobra ante o primado (próprio de um regime liberal) do direito à propriedade.
Se o quinto capítulo analisa e contextualiza criticamente a proposta teórica apresentada por um acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, logo nos primeiros anos desta instituição, em que defende a substituição da mão de obra escrava africana (que advoga incivilizável e até fonte de barbarização) por indígenas brasileiros “civilizados”; já o sexto capítulo vai no sentido oposto, passando dos debates teóricos sobre a natureza do trabalhador escravo africano à materialidade da situação do trabalhador africano livre em contexto industrial.
Com um artigo sobre os africanos que alcançavam a liberdade quando compreendidos na lei de 1831 que proibia o tráfico de escravos para o Brasil, Jaime Rodrigues analisa como a adoção de uma prática comum em estados com tradição histórica de escravatura, de colocar homens livres na condição de trabalhadores forçados, se desenvolve na fábrica de ferro de Ipanema, em São Paulo, análise que insere numa aprofundada contextualização e que termina urgindo por maiores pesquisas sobre o tema.
O último artigo desta coletânea avança numa direção diferente, e apresenta uma reflexão diacrônica sobre o modo como o preconceito contra África e os africanos assumiu um importante papel na construção de um discurso historicamente duradouro que atribui ao continente e aos seus filhos, muitas vezes transportados forçadamente e na pior das condições, a condição de fonte epidêmica, uma leitura que Jaime Rodrigues situa inicialmente no presente, para recuar nos séculos e demonstrar a sua constância.
Reunindo textos publicados entre 1995 e 2013, esta coletânea encontra um fio condutor que nos conduz à reflexão da importância comum do mundo Atlântico, e do papel que na sua construção tiveram os africanos, escravos e livres, e de como esse papel foi sendo acompanhado de incríveis demonstrações de preconceito e processos de subalternização; reflexão que o autor situa muito bem entre os trabalhos produzidos por esta área de pesquisa em constante expansão.
Ao mesmo tempo que nos apresenta os resultados do seu competentíssimo esforço, Jaime Rodrigues apresenta novas interrogações e apresenta linhas possíveis de pesquisa que apenas nos faz desejar que prossiga, sem mais demoras, o seu trabalho.
Nuno de Pinho Falcão – Universidade do Porto, Porto, Portugal. E-mail: nusfal@hotmail.com
RODRIGUES, JAIME. No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres. São Paulo: Alameda, 2016. Resenha de: FALCÃO, Nuno de Pinho. O Mar que nos une: trabalho, escravos e libertos no Atlântico Moderno e Contemporâneo. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 371-376, jan./abr., 2017.
Mérito, venalidad y corrupción en España y América – PONCE-LEIVA; ANDUJAR CASTILLO (Tempo)
PONCE LEIVA, Pilar; ANDUJAR CASTILLO, Francisco. (Org.), Mérito, venalidad y corrupción en España y América: siglos XVII y XVIII. Valência: Albatros, 2016. 362p. Resenha de: BICALHO, Maria Fernanda. Quanto vale um ofício no exercício do bom governo? Tempo v.23 no.1 Niterói jan./abr. 2017.
Mérito, venalidade e corrupção não são temas distantes, no tempo e no espaço, de nossa experiência cotidiana no Brasil atual. Tampouco temas exclusivamente contemporâneos, embora tenhamos de ter cuidado para não incorrermos em anacronismo ao discutir essas três concepções e práticas em nosso passado colonial. Os anacronismos podem surgir ao tentarmos transferir noções próprias do Estado liberal – e democrático – para vivências em que, além da fluidez na distinção entre as esferas do público e do privado, a lógica da nomeação para cargos administrativos passava pela gramática social do prestígio, pelo caráter pessoal e estamental das relações sociais e políticas, por noções como amor e amizade (Cardim, 1999) e, sobretudo, pela obrigatoriedade de retribuição do rei aos serviços prestados por seus vassalos. Retribuição que pressupunha mercês em distinções, ofícios, contratos, monopólios e todo tipo de privilégios; lógica integrante não só do poder do rei de agraciar os súditos – de dispensar a graça -, mas da “justiça distributiva” que, segundo Fernanda Olival, era quase um modo de vida para diferentes setores do espaço social português e do mundo ibérico em geral, envolvendo não só membros da nobreza, mas também de grupos sociais mais baixos. (Olival, 2001, p. 21).
Essa especificidade do Antigo Regime levou a que muitos historiadores negassem a existência de uma percepção e clara distinção entre o que era lícito e ilícito na administração fazendária, no exercício do poder e da política e, sobretudo, nas relações sociais. A oposição weberiana entre Estado patrimonial e Estado burocrático e, consequentemente, entre as diferentes manifestações de uma dominação patrimonialista e outra de tipo racional-legal marcou consideravelmente nossa historiografia. O homem cordial, de Sérgio Buarque de Holanda (1983), e Os donos do poder, de Raymundo Faoro (1984), são dois exemplos marcantes dessa influência. No entanto, o próprio Faoro admite que, para os súditos americanos do rei de Portugal, havia um limite para aquilo que era considerado lícito ou ilícito. Atribui à situação colonial os “vícios” dos administradores portugueses e conclui com a verve afiada do padre Antônio Vieira: “Perde-se o Brasil, Senhor (digamo-lo em uma palavra), porque alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar nossos bens…” (Faoro, 1984, p. 173).
O mesmo Vieira, no Sermão do bom ladrão, proferido em 1655 na Igreja da Misericórdia de Lisboa para uma plateia de ministros dos tribunais régios, admoestava que “nem os Reis podem ir ao Paraíso sem levar consigo os ladrões, nem os ladrões podem ir ao Inferno sem levar consigo os Reis”. Denunciando a cumplicidade entre os reis e os ladrões, assim como o exercício do mau governo de funcionários régios que, sem mérito, eram nomeados por simples favores e espúrias negociações, e, ao não agirem em prol do bem comum da República, roubavam e vexavam os vassalos com o único intuito de enriquecimento próprio, Vieira insistia no imperativo cristão da restituição, uma vez que “sem restituição do alheio não pode haver salvação” (Vieira, 2000, p. 389-413).
Embora ainda pouco abordadas por historiadores portugueses e brasileiros, a ilicitude, a venalidade e a corrupção não estiveram totalmente ausentes de nossa produção acadêmica. Sobre a primeira há estudos acerca do contrabando, de Ernst Pijning e de Paulo Cavalcante, para o Rio de Janeiro, de Tiago Gil e de Fábio Kühn para as fronteiras sul da América portuguesa. Os primeiros tributários de uma genealogia historiográfica que tem nas teses dos anos de 1970-1980 sobre o Brasil sua matriz conceitual. Os segundos baseando-se na teoria das redes, quer mercantis, quer sociais. (Pijning, 2001; Cavalcante, 2006; Gil, 2007; Kühn, 2012) A venalidade de ofícios – tão bem conhecida nos domínios espanhóis e ultramarinos de Castela – tem sido ultimamente objeto de investigação, para Portugal e seus territórios de além-mar, de Roberta Stumpf e Nandini Chaturvedula (Stumpf e Chaturvedula, 2012).
Por outro lado, a atualidade do tema da corrupção no cenário político brasileiro motivou a publicação do livroCorrupção: ensaios e críticas. Em um dos dois únicos capítulos sobre o Brasil colonial – o outro é de Evaldo Cabral de Mello -, Luciano Figueiredo, embora remeta-se à carência na historiografia brasileira “de investigações exaustivas dedicadas a estudos de casos”, chama a atenção para que há muito historiadores como Caio Prado Júnior e Charles R. Boxer afirmassem, o primeiro, em seu ceticismo, que a vida social e política da América portuguesa foi profundamente permeada pela dissolução nos costumes, inércia e corrupção nos dirigentes leigos e eclesiásticos; o segundo que as queixas acerca da rapacidade e venalidade dos funcionários régios foram tema constante da correspondência particular e oficial entre Brasil e Portugal por mais de três séculos (Figueiredo, 2008, p. 209-218).
Nos últimos anos, Adriana Romeiro se debruçou sobre o conteúdo polissêmico do conceito de corrupção na época moderna, indagando-se sobre sua pertinência, constatando que a cultura política do Antigo Regime contava com um leque de formulações sobre as práticas ilícitas cometidas por governantes e funcionários régios. A partir da discussão de diferentes significados da palavra corrupção, em dicionários, tratados sobre a arte de bem governar, crônicas e outros escritos coevos dos séculos XVI ao XVIII, analisou as noções que estruturavam o imaginário do mau governo, levando à “corrupção do corpo místico”. Sendo considerada um vício – e muitas vezes um pecado -, a ambição desmedida dos governantes era objeto não apenas de condenação nas obras de moralistas e políticos, constava igualmente das queixas e representações dos vassalos ultramarinos ao rei (Romeiro, 2015, p. 6).
Porém, o que está aqui em causa não são as análises clássicas e recentes da historiografia brasileira sobre a corrupção nos tempos modernos, e sim o livro Mérito, venalidad y corrupción en España y América: siglos XVII y XVIII, organizado por Pilar Ponce Leiva, professora da Universidad Complutense de Madrid, e Francisco Andújar Castilho, da Universidade de Almería. Publicado em 2016, fruto de um projeto de investigação coletivo, o livro reúne 17 capítulos escritos por diferentes historiadores de várias instituições na Europa e na América, voltados sobretudo para o mundo hispano-americano. No que diz respeito a Portugal e ao Brasil, conta com a contribuição de Roberta Stumpf. O “Prólogo” é de Nuno Gonçalo Monteiro.
Seus organizadores há muito vêm se dedicando a temas correlatos, tanto em projetos de pesquisa envolvendo redes internacionais de investigação quanto em publicações. Estiveram juntos no livro organizado por Francisco Andújar Castillo e María del Mar Felices de la Fuente, El poder del dinero: ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen, no qual Pilar Ponce Leiva tem um capítulo sobre as dinâmicas sociais e consequências políticas da venda de cargos municipais em Quito, no século XVII (Ponce Leiva, 2011, p. 145-165). Na introdução ao presente livro, admitem que mérito, venalidade e corrupção são questões há muito abordadas, quer para a monarquia hispânica, quer para seus domínios ultramarinos, embora estejam hoje sujeitas a uma profunda revisão historiográfica. Essa obra é produto e testemunho disso. Seus autores convergem na crítica a como tem sido tratado, até muito recentemente, o tema da venalidade e, sobretudo, da corrupção, por um lado por aqueles que negam sua existência baseando-se na indefinição, na Europa da época moderna, entre o público e o particular; e, por outro, por quem entende ser a corrupção, pelo mesmo motivo, condição “natural” e indissociável, eixo inquestionável e estruturante das sociedades de Antigo Regime. Segundo os organizadores:
Se ha cuestionado mucho que en la época existiese de forma expresa el concepto de “corrupción”, y más aún que tuviese las mismas connotaciones que en la actualidad. Los estudios disponibles demuestran, sin embargo, que tanto en la tratadística de la época como en los textos dicho concepto aparece con connotaciones similares a las actuales {…}. Esos mismos estudios corroboran que el término se refería de manera inequívoca a delitos punibles por la justicia, a los abusos de poder en beneficio de quien los cometía y en detrimento de los administrados. No obstante, el debate presenta muchas más aristas, pues va desde los autores que estiman que la corrupción era consustancial al ejercicio del poder en el Antiguo Régimen hasta quienes niegan su existencia “por no existir ni siquiera” el próprio término en la sociedad de la época. Pero más allá de essas consideraciones lo que parece incuestionable es que el proprio concepto de lo que entendemos por corrupción requiere un profundo debate, sobre todo para situar en contexto, y de acuerdo con las convenciones del sistema político, jurídico y social de Antiguo Régimen, lo que tratamos de estudiar. (Ponce Leiva e Andújar Castillo, 2016, p. 10)
A primeira parte do livro, Conceptos y valor de los méritos, inicia-se com o capítulo de María del Mar Felices de la Fuente sobre os méritos necessários para se ter o título de nobre em Castela, no qual a autora analisa uma das principais prerrogativas do rei: sua intervenção em assuntos de graça e mercês, assim como a importância dos méritos pecuniários na outorga de honras, títulos e dignidades. Domingo Marcos Giménez Carrillo debruça-se sobre as conferições e as distinções entre as “mercês dos hábitos” e de “títulos de cavaleiro” das ordens militares no reinado de Felipe V, demonstrando os pesos relativos entre o serviço pecuniário e o das armas. Amorina Villarreal Brasca, no capítulo sobre o provimento do VII conde de Lemos na presidência do Conselho de Índias (1603), revisita essa importante instituição voltada para os assuntos relativos aos domínios ultramarinos de Castela em um momento crucial para a monarquia hispânica. Guillermo Burgos Lejonagoitia analisa o funcionamento das designações para ofícios nas Índias de Castela entre 1701 e 1746, sem que o pagamento em dinheiro fosse o que mais importasse, e sim os demais méritos no serviço ao monarca. Já Antonio Jimenez Estrella indaga-se sobre o processo de estatização, profissionalização e burocratização do exército da monarquia dos Áustria durante o valimento do conde-duque de Olivares, momento em que a milícia se consolidou como uma das vias privilegiadas de ascensão social e de vinculação ao estatuto nobiliárquico por parte de homens sem méritos anteriores, ou cujo mérito consistiu em sua capacidade econômica de recrutar soldados. Encerra essa primeira parte o capítulo de Roberta Stumpf, no qual a autora, ao criticar os estudos que privilegiam a discussão da legislação e dão pouca importância às possibilidades reais de sua implementação, ou seja, às práticas dos governantes in loco, discute as ambiguidades da política pombalina, que se, por um lado, pretendeu “racionalizar” a provisão dos ofícios, dificultando sua patrimonialização, por outro, manteve a prática da venalidade em sua concessão, sobretudo em territórios ultramarinos.
A segunda parte do livro, El mercato de las ventas de ofícios, inicia-se com o estudo de Francisco Andújar Castillo, no qual o historiador discute a intensificação da venda de ofícios na segunda metade do século XVII como forma extra (ordinária) de financiamento da monarquia, e sua privatização na medida em que eram alienados perpetuamente, tornando-se “patrimônios móveis” de seus proprietários. Partindo dessa constatação, procura dar resposta à pergunta: como e quem vendiam os cargos; demonstrando o grande protagonismo das juntas e dos conselhos régios. O texto de Francisco Gil Martínez sobre ingressos venais e gastos cortesãos aborda o destino que se dava ao dinheiro decorrente da venda de ofícios durante o valimento do conde-duque de Olivares, período em que a venalidade, em termos quantitativos e qualitativos, conquistou sensível amplitude. Centra sua análise na construção do Palácio do Bom Retiro. Christoph Rosenmüller detém-se na formação de alianças políticas na Corte de Madri em fins do século XVII e começos do XVIII, que cercearam a prerrogativa dos vice-reis da Nova Espanha de prover em suas clientelas e criados os ofícios nas alcaidarias maiores, diminuindo, por meio da venda de ofícios, o poder das elites aristocráticas tradicionais em favor de uma maior influência da Coroa na seleção dos candidatos.
O terceiro bloco do livro, Debates sobre a ubicua corrupción: miradas y casos é dedicado à análise do próprio termo “corrupção” e de seus múltiplos significados – morais, políticos e sociais – na época moderna, assim como de uma miríade de práticas entendidas como abusivas pelos contemporâneos, expressões do “mau governo”. Os dois primeiros capítulos, “Percepciones sobre la corrupción en la monarquía hispânica, siglos XVI y XVII”, de Pilar Ponce Leiva, e “La moralidad de los mentirosos: por un estúdio comprensivo de la corrupción”, de Anne Dubet, têm um caráter teórico e conceitual. O primeiro, de acordo com sua autora, visa a
{…} ofrecer una primera aproximación a lo que en los siglos XVI e XVII y en el ámbito hispânico se percibía como “corrupción”, “corrupto” o “corrompido”. Más que reducir la corrupción a una categoría analítica precisa, parece útil reconocer que se trata de una categoría cultural – o socio-cultural -, asociada a un determinado conjunto de normas, a un sistema de valores y a una variada gama de prácticas sociales que pueden – o no – ir en consonancia entre si. (Ponce Leiva e Andújar Castillo, 2016, p. 193-194)
Anne Dubet, a partir do mote da fiscalidade e da fraude, volta-se para a compreensão dos sentidos da corrupção e de sua polissemia de acordo com a cultura política do Antigo Regime, testando discursos e práticas, as razões dos indivíduos e as estratégias de repressão. Os três capítulos seguintes dedicam-se a estudos de caso que trazem para o leitor um amplo leque de possibilidades no tratamento da corrupção tanto na Europa quanto na América. Inés Gómez González debruça-se sobre os percones, alegações jurídicas de defesa utilizadas para fazer frente às acusações a don Pedro Valle de la Cerda – que, segundo Elliott, era o homem mais poderoso da Espanha depois de Olivares – feitas em visita ao Conselho da Fazenda em 1643. Já Sébastien Malaprade demonstra como era possível enriquecer em tempos de crise ao analisar o caso de Rodrigo Jurado, fiscal da Comisión de Millones do Conselho da Fazenda, cuja fortuna e prosperidade deveram-se às relações que mantinha com os homens de negócio e ao controle que exercia sobre os arrendatários e tesoureiros dos millones. Pierre Ragon, em seu estudo sobre o conde de Baños, vice-rei da Nova España entre 1660 e 1664, aborda as inúmeras extorsões e malversações exercidas em seu governo, cuja denúncia por setores hierarquicamente inferiores poderia colocar em risco a arquitetura e a organicidade do corpo político da monarquia e de seu império.
Os três últimos estudos se deslocam do centro da monarquia e de suas instituições “palacianas” para suas diferentes “periferias”, focando personagens com grande trânsito entre culturas distintas, hierarquias conflitantes e interesses diversos. José Luis de Rojas debruça-se sobre os “senhores” do império asteca que, depois da conquista espanhola, conservaram suas posições destacadas, ocupando quer os cabildos de índios, quer postos de intermediação na cobrança de tributos, praticando todo tipo de atos abusivos. José Manuel Díaz Blanco deteve-se nas cartas inéditas de um mercador sevilhano que, enviado em 1664 pelo Consulado de Sevilha em missão à Corte de Madri, denunciou o poder do dinheiro como o único meio de aceder aos ministros e tribunais da monarquia no reinado de Felipe IV. Guilhermina del Valle Pavón nos remete às práticas e artimanhas dos mercadores que realizavam as principais transações dentro e fora da Nova Espanha pelo controle que exerciam sobre a prata, principal moeda no comércio internacional na época moderna.
Para terminar, reitero o que os organizadores já haviam advertido na introdução ao livro, e que Nuno Gonçalo Monteiro, em seu prólogo, destaca. Se, nas últimas décadas, houve uma revalorização da importância do tema da corrupção, da venalidade dos ofícios e das honras na monarquia hispânica, as reflexões aqui presentes propõem uma renovação desses estudos em diferentes escalas. Demonstram que a intensidade dos méritos, o exercício da venalidade, as concepções e as práticas de corrupção não eram perfeitamente similares na Europa e nos mundos americanos. Havia sensíveis diferenças entre as monarquias portuguesa e espanhola e singularidades irredutíveis entre as Américas lusa e hispânica. Se, para as últimas – a monarquia e a América hispânicas -, temos tantos e tão bons estudos e reflexões, cabe a nós, historiadores de língua portuguesa nos dois lados do Atlântico, enveredarmos pela investigação desses temas, quer em sua percepção político-administrativa, quer em sua configuração social. A leitura de Mérito, venalidad y corrupción en España y América: siglos XVII y XVIII torna-se, portanto, não apenas um convite sedutor nesse sentido, é sobretudo um desafio ao diálogo, uma vez que seus capítulos podem ser lidos, em toda sua riqueza e complexidade, como uma irrecusável fonte de inspiração para novas pesquisas e publicações.
Referências
BOXER, C. R. O império colonial português (1415-1825). Lisboa: Edições 70, 1981. [ Links ]
CARDIM, P. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitania Sacra: Journal of the Catholic University of Portugal, 2. série, t. XI, p. 21-57, 1999. [ Links ]
CAVALCANTE, P. Negócios da trapaça. São Paulo: Hucitec, 2006. [ Links ]
FAORO, R. Os donos do poder. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1984. v. 1. [ Links ]
FIGUEIREDO, L. R. A corrupção no Brasil Colônia. In: BIGNOTTO, N.; STARLING, H; AVRITZER, L.; GUIMARÃES, J. (Org.). Corrupção: ensaios e críticas. Belo Horizonte: UFMG, 2008. p. 209-218. [ Links ]
GIL, T. L. Infiéis transgressores. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007. [ Links ]
HOLANDA, S. B. de. O homem cordial. In: HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. 16. Alameda, 2012. p. 179-206.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1983. p. 101-112. [ Links ]
KÜHN, F. Clandestino e ilegal: o contrabando de escravos na Colônia do Sacramento (1740-1777). In: XAVIER, R. C. L. (Org.). Escravidão e liberdade. São Paulo: Alameda, 2012. p. 179-206. [ Links ]
OLIVAL, F. As ordens militares e o Estado moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001. [ Links ]
PIJNING, E. Contrabando, ilegalidade e medidas políticas no Rio de Janeiro do século XVIII. Revista Brasileira de História, v. 21, n. 42, p. 397-414, 2001. [ Links ]
PONCE LEIVA, P. La venta de cargos municipales en Quito en el siglo XVII: consecuencias políticas y dinâmicas sociales. In: ANDÚJAR CASTILLO, Francisco y FELICES DE LA FUENTE, María del Mar. (Org.). El poder del dinero: ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen. Madrid: Biblioteca Nueva, 2011. p. 145-165. [ Links ]
PONCE LEIVA, P.; ANDÚJAR CASTILLO, Francisco (Org.). Mérito, venalidad y corrupción en España y América: siglos XVII y XVIII. Valência: Albatros, 2016. [ Links ]
PRADO-JR., C. Administração. In: PRADO-JR., C. Formação do Brasil contemporâneo. 15. ed. São Paulo: Brasiliense, 1977. p. 298-340. [ Links ]
ROMEIRO, A. A corrupção na época moderna: conceitos e desafios metodológicos. Tempo, v. 21, n. 38, p. 1-22, jul. 2015. [ Links ]
STUMPF, R.; CHATURVEDULA, N. (Org.). Cargos e ofícios nas monarquias ibéricas: provimento, controlo e venalidade (séculos XVII-XVIII). Lisboa: Cham, 2012. [ Links ]
VIEIRA, A. Sermões. Organização e introdução de Alcir Pécora. São Paulo: Hedra, 2000. p. 389-413 [ Links ]
Maria Fernanda Bicalho – Instituto de História da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói (RJ) – Brasil. E-mail: mfbicalho@uol.com.br.
A nervura do real. Imanência e liberdade em Espinosa, volume 2 – CHAUI (CE)
CHAUI, Marilena. A nervura do real. Imanência e liberdade em Espinosa, volume 2. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Resenha de: OLIVA, Luís César; LACERDA, Tessa Moura. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.36, Jan./Jun. 2017.
O lançamento do segundo volume de A nervura do real: imanência e liberdade em Espinosa, de Marilena Chaui, conclui um processo de análise e exposição sistemática da filosofia de Baruch de Espinosa, em especial de sua obra maior, a Ética, processo que se confunde com a própria trajetória da Marilena Chaui como docente do Departamento de Filosofia da USP e uma das mais importantes intelectuais brasileiras das últimas décadas. Dedicando-se à pesquisa sobre Espinosa desde os anos 60, Chaui defendeu sua livre-docência, em 1977, já com o título de A nervura do real, um calhamaço em dois volumes que representava, naquele momento, o principal trabalho sobre Espinosa feito em língua portuguesa. Chaui, no entanto, não a publicou de imediato, apesar dos insistentes apelos dos colegas e alunos. Para a autora, faltava ao “tijolo” uma reflexão mais detalhada sobre o quadro amplo da história da filosofia diante do qual a revolução espinosana ficaria mais evidente e compreensível, além de uma análise mais detida da parte i da Ética, que contém os fundamentos ontológicos do sistema.
O que para outros intérpretes poderia ser uma curta introdução histórica transformou-se em um novo livro, de quase mil páginas, reconstruindo não só as referências históricas de Espinosa, mas todo o percurso do espinosismo depois da morte de seu autor. Ao final, coroava o livro uma análise linha a linha da parte I da Ética, cuja solidez e densidade não tem paralelo na literatura internacional. Foi o primeiro volume da Nervura do real, dedicado à imanência, e publicado em 1999. O longo intervalo de 22 anos entre a tese de livre-docência e esta publicação foi marcado por inúmeros outros livros, especialmente sobre o Brasil, mas a reflexão espinosana em curso sempre norteou os escritos de Marilena Chaui, em temas tão variados quanto ideologia ou repressão sexual, o combate à ditadura civil-militar ou o ensino de filosofia. Em todas estas obras, o leitor atento pode encontrar A nervura do real em gestação, ou melhor, em operação.
Feito esse imenso trabalho, a própria autora acreditava que o segundo volume previsto sairia mais rapidamente, até por ser uma retomada da tese de livre-docência, dedicada sobretudo à liberdade. Todavia, aos 22 anos de espera pelo primeiro volume, somaram-se outros 17 para o segundo. A conclusão da obra não aproveitou praticamente nada da antiga livre-docência, integralmente reescrita. Nem poderia ser diferente, considerando que 39 anos de reflexão espinosana, vivência em sala de aula e muitas lutas políticas separam a antiga tese deste novo volume que recentemente chegou a nossas mãos. Os leitores não perceberão apenas o avanço interpretativo em relação à tese original, mas também uma expressiva mudança de tom em comparação com o próprio primeiro volume. Enquanto naquele Marilena Chaui antepunha à apresentação de cada noção espinosana uma larga reconstituição histórico-conceitual, em uma empreitada de imensa erudição, no segundo volume a autora permite-se uma análise mais circunscrita ao texto de Espinosa. Parafraseando a própria autora, enquanto o primeiro volume foi uma discussão com toda a história da filosofia, o segundo volume é uma conversa entre ela e Espinosa. Isto dá ao livro uma fluência que o torna acessível a uma ampla gama de leitores, incluindo aqueles que tenham pouco contato prévio com a filosofia espinosana. No fluxo desta conversa, densa mas extremamente agradável, Chaui conduz o leitor pela integralidade das partes II, III, IV e v da Ética, considerando-se que a parte I já fora sufi – cientemente destrinchada no primeiro volume. Os atuais e antigos alunos reencontrarão nesta escrita muito do ritmo cativante – e ao mesmo tempo conceitualmente rigoroso – das aulas de Marilena Chaui dadas na USP e em outras universidades do Brasil e do mundo.
A fluência do texto, porém, não nos deve enganar. Os desafios propostos pelo livro são de monta e implicam discussões conceituais de extrema sofisticação, frequentemente em oposição à quase totalidade da crítica especializada. Talvez o principal destes desafios já se apresente na primeira parte do livro: a imensa tarefa de demonstrar, contra uma longa tradição de interpretação, a existência de seres singulares na filosofia da substância imanente espinosana. Contra essa tradição interpretativa que remonta ao século XVII, e que a autora denominara, no primeiro volume, “a imagem do espinosismo”, cabe a Marilena Chaui desmontar a falsa aporia que diz ser impossível o singular em uma filosofia na qual só há uma substância.
Esse trabalho é um trabalho espinosano: como Espinosa, Marilena desconstrói o discurso cristalizado e, ressignificando as palavras, mostra como a existência de seres singulares é efeito de uma dupla causalidade, a causalidade da substância e a causalidade da Natureza naturada. Como efeitos determinados em uma complexa rede causal, os seres singulares não existem necessariamente por sua própria essência, mas sua existência é necessária pela causa.
Ora, uma vez afirmada essa necessidade da existência do suingular, coloca-se a segunda questão do Nervura II: é preciso demonstrar como necessidade não se opõe a liberdade. Ser livre, para Espinosa, é ser uma causa não passivamente determinada pelo exterior, mas internamente disposta. É tomar parte na atividade do todo. A concepção que relaciona liberdade e livre-arbítrio é uma concepção imaginária da liberdade. Para demonstrar a existência de coisas singulares que podem ser causas livres, Marilena Chaui inicialmente percorre as obras de Espinosa para mostrar a presença do singular em todas elas. No Tratado da emenda do intelecto, Espinosa afirma que, diferente da razão, a imaginação lida com coisas singulares corporais, e o intelecto lida com as essências das coisas singulares. A imaginação organiza essas coisas singulares como ideias obscuras ou universais abstratos. Mas o intelecto é capaz de conhecer a essência particular afirmativa e, por meio dela, a coisa particular .
Essas afirmações do Tratado da emenda operam em outras obras. No Tratado político, Espinosa afirma que os regimes políticos distinguem- se não da maneira clássica pelo número de governantes, mas porque são essências particulares determinadas: sua causa é o direito natural particularizado pelas relações de força e potência da multitudo (agente político). No Tratado teológico-político, Espinosa trata da essência particular do Estado hebraico, um regime político existente na duração, unindo geometria e um método histórico. O Estado hebraico é uma coisa singular . Sua essência é uma singularidade historicamente determinada. E a Bíblia, por sua vez, é uma singularidade que existe como efeito de uma causa singular, a sociedade hebraica. Essa análise do Tratado político e do Tratado teológico-político permite, a Marilena Chaui, distinguir no interior da obra de Espinosa essência particular e essência de coisa singular : a essentia particularis é “o momento em que uma ideia apreende a conexão lógica entre uma essência e suas determinações ou propriedades” (Chaui, 2016, p.32) e a essentia rei singularis é “empregada para assinalar a relação interna entre uma essência e sua existência” (Chaui, 2016, p.32). Essa distinção existe também na Ética: na parte i, os modos da substância são coisas particulares ; na parte II a mente, modo do atributo pensamento, é uma coisa singular, o corpo, modo do atributo extensão, é uma coisa singular . A coisa singular é um modo singular .
As partes I e II da Ética, nas palavras de Marilena Chaui, são um díptico. Assim, a parte I demonstra a existência do que é necessário por sua própria essência, a Natureza naturante e a Natureza naturada. A parte I I, como segundo pano do díptico, concentra-se na Natureza naturada para deduzir a existência dos modos finitos, necessário não por sua própria essência, mas pela sua causa. Por isso, na parte I, por meio da causa de si, Espinosa demonstra a identidade entre essência e existência em Deus; na parte I I, por sua vez, é afirmada a inseparabilidade entre essência e existência nos modos finitos. A essência do modo finito humano não envolve existência necessária, mas são necessários pela sua causa, jamais contingentes ou possíveis (cf. Chaui, 2016, cap.2).
O modo finito é definido, na parte I a Ética, como modo que está em outro e é concebido por outro; a parte II da Ética sublinha a singularidade de um modo que exprime a essência do ser absoluto.
O modo finito humano é deduzido na parte II como corpo e mente que se relacionam. Essa relação pode se dar de forma inadequada (por meio da imaginação) ou de forma adequada (por meio da razão e da intuição). A perspectiva determinante na parte II da Ética é, portanto, a perspectiva epistemológica, mas também a dimensão causal da coisa singular é enfatizada e, ganha ainda mais espaço na parte III, quando Espinosa demonstra que a coisa singular pode ser causa adequada ou inadequada, porque finita; dessa finitude trata a parte IV, e a parte v mostra como a mente pode ser causa adequada e chegar à felicidade.
O singular é uma existência determinada e uma atividade causal, é um indivíduo complexo. Marilena Chaui mostra essa construção da singularidade na Ética de Espinosa. O singular é singular porque é uma determinação finita no interior da complexa rede causal da Natureza. E é finito porque não existe como causa de si, mas é também causa.
Ser parte, em Espinosa, é saber-se parte de um todo e, então, tomar parte na atividade do todo. Cabe ao final da Ética, bem como ao final da Nervura II, mostrar como este tomar parte no todo é um tomar parte na eternidade. Este conceito, na primeira parte da Ética, parecia restrito à existência própria da substância, que segue necessariamente de sua essência. Às coisas singulares, como modos finitos, não caberia mais que a duração, numa contraposição insuperável. Uma das principais novidades de Chaui é explicitar como a Ética, no seu desenvolvimento, vai ampliando o sentido de eternidade, de modo que alcance as próprias coisas singulares enquanto são em Deus. Trata-se de uma eternidade dada desde sempre, pela imanência das coisas a Deus e de Deus às coisas, mas simultaneamente de uma eternidade conquistada pela adequação do conhecimento. Não há contradição nisso porque tal conquista não implica passagem nem transformação radical. O tomar parte no todo significa tornar-se aquilo que já se é. Nas palavras de Chaui, “a eternidade da mente não implica uma transformação de seu ser ou de sua essência; o que muda é o objeto do qual ela é ideia: passa das afecções do corpo na duração à ideia da essência do corpo, essência contida e compreendida como singularidade no atributo extensão e cuja ideia, simultaneamente, está contida e compreendida no atributo pensamento” (Chaui, 2016, p. 571). Em suma, a mente não se torna eterna, ela passa a conhecer que é eterna, e não apenas como se conhece a um objeto externo. Mais que isso, como diz a célebre expressão de Espinosa, nós sentimos e experimentamos que somos eternos.
Ao terminar a leitura do livro de Chaui, podemos olhar para trás e ver com toda a clareza o processo de concretização do que havia sido demonstrado nas primeiras páginas. Não só a singularidade não é incompatível com a imanência, mas só se realiza plenamente como liberdade quando percebe esta imanência por meio da participação ativa nela. Esse processo de concretização de si como ser autônomo, livre e feliz não é um processo meramente cognitivo, mas simultaneamente afetivo. Por isso, também com afeto olhamos para a tese de livre-docência, de 77, ou para os primeiros estudos espinosanos de Chaui, nos anos 60. Tudo já estava lá. Como já estava no mestrado Merleau-Pontyano, no debate sobre a democracia nos anos 70, na criação do PT em 80, etc. Mas agora, com a publicação do segundo volume da Nervura do Real, tudo isto ganha um sentido que não podia ser completamente transparente naqueles momentos. Trata-se de uma única Obra, que se confunde com a maneira de viver e de filosofar de Marilena, inseparáveis entre si e in – separáveis do pensamento de Espinosa.
Referências
CHAUI, Marilena (2016). A nervura do real II. Imanência e liberdade em Espinosa . São Paulo: Companhia das Letras.
Luís César Oliva – Professor Universidade de São Paulo. E-mail: lcoliva@uol.com.br
Tessa Moura Lacerda – Professora Universidade de São Paulo. E-mail: tessalacerda@gmail.com
Les musulmans dans l’histoire de l’Europe. t. 1. Une intégration invisible / Jocelyne Dakhlia e Vincent
Cet ouvrage collectif ambitieux et novateur interroge, dans un premier tome, « une intégration invisible » des musulmans en Europe occidentale entre le xive siècle et le début du xixe siècle, avant de mettre en exergue, dans un second tome, les dynamiques intégratrices qui animent les sociétés de cet « entre-deux » qu’est l’espace méditerranéen. Les deux volumes partagent la même ambition d’éclairer les débats contemporains sur l’Europe, sa définition, ses contours, ainsi que ses relations avec l’islam et le monde de l’Islam. Alors que la question de la candidature de la Turquie à l’Union européenne ou le projet de l’« Euroméditerranée » ont suscité les passions et interrogé la notion même d’Europe, ces deux volumes offrent de nouvelles perspectives pour mieux remettre en cause la vision réductrice de deux mondes qui s’affrontent et dont les échanges, faits uniquement d’emprunts culturels ou de traités diplomatiques, n’auraient été que sporadiques, voire anecdotiques, avant les expériences coloniales du xixe siècle.
Aussi les deux volumes entendent-ils réviser un certain nombre de topoi pour mieux « restituer de la chair » (t. 1, p. 22) à l’histoire des relations de l’Europe occidentale avec l’islam. Il s’agit de battre en brèche la supposée ignorance islamique de l’Europe de la fin du Moyen Âge à l’époque moderne pour réévaluer des circulations méditerranéennes bien antérieures aux confrontations coloniales. Cette étude des circulations délaisse logiquement l’Europe sous domination ottomane pour privilégier les régions de frontière et les espaces de commerce, à savoir la Méditerranée, la façade atlantique ainsi que la frontière de l’empire des Habsbourg avec l’empire ottoman. L’introduction du premier tome propose un cadre méthodologique et théorique stimulant dans la perspective d’une histoire nécessairement connectée. Elle pose les termes de la réflexion et ses gageures, notamment la difficile identification des musulmans dans les sources, tout en s’interrogeant sur les raisons qui ont poussé l’historiographie à négliger les musulmans présents en Europe lors de la période couverte, jusqu’à les rendre quasiment « invisibles ».
Tout en s’appuyant sur la bibliographie la plus récente, le premier tome explore, de la côte Atlantique du Portugal jusqu’à Vienne, en passant par la France et la Grande-Bretagne, les circulations des musulmans ainsi que la nature de leur intégration sociale, voire sociétale, dans ces espaces. C’est à la recherche des formes d’accommodement à l’islam et aux musulmans, en dépit de contextes souvent conflictuels, que les chercheurs construisent leur apport, dans un souci historiographique et méthodologique constant. Selon cette perspective, la première partie est consacrée à un état des lieux de la présence musulmane en Europe, avant d’en tenter une reconstruction historiographique pour en proposer finalement une lecture dynamique. Au fil des contributions, c’est tout un monde de marchands, de serviteurs, d’esclaves, de diplomates, d’artisans ou de soldats, parfois convertis au christianisme, qui émerge pour sortir de l’ombre historiographique.
Le lecteur comprend que, selon les contextes, des stratégies de dissimulation ont pu être mises en place par les musulmans eux-mêmes tandis que les sociétés d’accueil ont parfois préféré se montrer indifférentes à une telle présence qui, parfois considérée comme banale, explique le silence des sources. Les chapitres proposent différents éclairages sur cet objet complexe, alternant entre des approches micro-historiques de groupes d’individus relativement réduits et l’exploration de présences plus massives. Le service des sœurs Ayche et Fatma à la cour de Catherine de Médicis permet à Frédéric Hitzel de réfuter le préjugé selon lequel l’empire ottoman n’aurait jamais « fourni aucun élément de population intéressant » au royaume de France (p. 33). Les itinéraires étudiés par Simona Cerutti d’un tailleur anatolien à Turin ou par Emanuele Colombo du fils du roi de Fez entré dans la Compagnie de Jésus mettent en lumière la question délicate de la frontière religieuse dans le processus d’intégration individuelle dans les sociétés d’accueil. Dans le cas de Livourne analysé par Guillaume Calafat et Cesare Santus, cette intégration, à la fois considérable et bien visible, a donné lieu à des interactions multiples dans la société portuaire cosmopolite. Ces différentes approches trouvent leur unité dans une commune réflexion sur les sources, leur analyse et leurs limites, ainsi que sur la possibilité d’y identifier des « musulmans » et leurs réseaux.
Le second tome est consacré à une étude renouvelée des passages et contacts en Méditerranée. Cet ouvrage dresse un état des lieux bibliographique, historiographique et épistémologique complet et actualisé sur la Méditerranée comme objet historiographique. Faruk Tabak en avait résumé la disparition dans le champ des études historiques [1]. L’inclusion de travaux en anglais, allemand, italien, espagnol, bosniaque, portugais, français, turc autorise une approche connectée stimulante. Dans l’esprit des areas studies, l’espace méditerranéen n’est pas pensé à travers une indéfinissable unité culturelle, politique, anthropologique ou sociale mais comme un espace de « l’entre-deux » connecté. Au-delà de la Méditerranée « homogène », selon les approches braudéliennes, ou « divisée », selon celles privilégiant le choc des civilisations, cette vaste enquête interroge ces « Méditerranées multiples » que l’on trouve chez Sanjay Subrahmanyam ou David Abulafia.
De la Méditerranée ottomane, européenne et maghrébine en passant par la Méditerranée insulaire, l’espace se dilate jusqu’à un au-delà méditerranéen incluant les colonies portugaises en Guinée. L’étude d’António de Almeida Mendes sur les Blancs de Guinée fait le trait d’union entre espaces méditerranéen et atlantique. Un espace également imbriqué, comme le montrent les présides ibériques au Maghreb et les possessions vénitiennes en Méditerranée islamique, et innervé par un vaste système d’interactions et de parcours.
Un concept clé et fructueux a été retenu dans ce second volume pour problématiser les liens tissés entre les différentes sociétés méditerranéennes, celui de « l’entre-deux ». Il permet de dépasser l’opposition entre une approche irénique et une approche conflictuelle des modalités d’interactions interculturelles ou intersociétales. Une réhabilitation du conflit est suggérée en l’interprétant non pas comme une fracture absolue mais comme une ligne de front et d’alliance, liée à la complexité des mouvements d’une rive à l’autre, où certains sont appelés à vivre un jour de l’autre côté. Wolfgang Kaiser démontre que le rachat des captifs faisait partie de l’ordinaire et non de l’extraordinaire dans la pratique du commerce méditerranéen. Islamiques ou européennes, musulmanes ou chrétiennes, les sociétés méditerranéennes sont traversées par des dynamiques d’exclusion et d’inclusion, de rupture et d’innovation, de rapports de force, d’ouverture et d’assimilation de l’altérité. Mathieu Grenet étudie l’exemple diasporique des sujets ottomans « Grecs de nation » tandis que Natalia Muchnik propose une étude commune des diasporas morisques et marranes pour montrer leur forte hétérogénéité sociale et religieuse.
L’entre-deux introduit un espace tiers, voire une culture et une altérité tierces encouragées par des acteurs qui jouent le rôle de véritables passeurs ou médiateurs entre cultures et langues. G. Calafat s’intéresse ainsi au rôle des interprètes de la diplomatie à Alger dans les années 1670-1680, même s’il n’est pas possible d’établir un idéal-type du médiateur interculturel. Étudier les formes d’interaction entre les sociétés islamiques et celles d’Europe occidentale suppose toutefois la singularisation de l’espace méditerranéen, trop souvent lu à l’aune du schème de conquête conceptualisé dans des contextes américains et hérité du modèle colonial atlantique. L’intercirculation séculaire en Méditerranée rend structurellement impensable une « première rencontre » ou un choc et, par conséquent, la reprise du concept de métissage, favorisant le rapport d’équivalence entre vaincus ou dominés et colonisés.
La question de l’islamophobie et de l’islamophilie savante est également posée concernant les passages de l’Islam en Europe, encore peu étudiés. Daniel Hershenzon souligne la fabrique de la Méditerranée jusque dans l’historiographie à travers la propagande chrétienne de la captivité. Il suggère une histoire connectée des formes de captivité et d’esclavage des musulmans en Europe et des chrétiens à l’intérieur de l’empire ottoman en montrant que les deux systèmes étaient étroitement reliés et interdépendants par le jeu des négociations. Il reconstitue de fait un cadre méditerranéen et non national, privilégié par le champ bourgeonnant des études sur la captivité, pour restituer les liens que la captivité a tissés entre le Maghreb et l’empire des Habsbourg.
L’entre-deux est lui-même invité à être dépassé ou nuancé par trois éléments : « espace liminaire ou hors lieu », il ne figure pas toujours comme un trait d’union entre deux sociétés mais parfois comme un espace plein et neutralisé, propre à la négociation. Il peut aussi s’agir d’un espace syncrétique modelé par des individus ou des groupes sans pour autant créer un tiers espace. Enfin, l’entre-deux n’est pas un monde en soi, un « middle-ground », du fait de l’état transitoire des processus d’intégration et d’assimilation, en recomposition permanente. Au-delà des phénomènes de porosité ou de transfert, un continuum véritable peut parfois émerger sans pour autant abolir les possibles adversités. Jocelyne Dakhlia l’illustre à travers le cas remarquable de Thomas-Osman Arcos. Chrétien renié et converti à l’islam, vivant à Tunis, membre de la République des Lettres, il plaide la possibilité d’être à la fois français et musulman tout en niant son acculturation tunisienne, pourtant bien fondée. M’hamed Oualdi étudie quant à lui l’économie générale de la mobilité des mamelouks des beys de Tunis entre le xviie et le xixe siècle.
Le brassage des cultures dans l’espace méditerranéen ne doit pas occulter les continuités culturelles entre toutes ces sociétés. C’est précisément cette familiarité structurelle qui explique l’aptitude des passeurs de frontières à maîtriser si rapidement les codes d’une société autre. Ce second volume invite donc, à travers de nombreuses études stimulantes, à repenser les sociétés méditerranéennes et les rapports entre l’Europe musulmane et chrétienne, islamique et occidentale.
Clarisse Roche
DAKHLIA, Jocelyne; VINCENT, Vincent (dir.). Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, t. 1, Une intégration invisible. Paris: Albin Michel, 2011. 646p. Resenha de: ROCHE, Clarisse. Annales. Histoire, Sciences Sociales. Paris, n.4, 2016. Acessar publicação original [IF].
L’histoire des Juifs. Trouver les mots. De 1000 avant notre ère à 1492 / Simon Shama
En lisant cette Histoire des Juifs de Simon Schama, on est à la fois ébloui et irrité. Plus on progresse dans la lecture, plus l’admiration et l’irritation vont croissant. C’est d’abord l’admiration qui domine. Pour la stupéfiante performance de l’auteur. L’ouvrage, écrit en marge de la préparation d’une série télévisée, couvre quinze cents ans d’histoire, puisqu’il va des origines bibliques à 1492, année de l’expulsion des Juifs d’Espagne (un second volume devrait suivre, courant de 1492 à l’époque contemporaine). S. Schama n’a travaillé qu’à ses tout débuts sur des aspects de l’histoire juive et si le savoir qu’il met ici en œuvre est pour une large part de seconde main, il a effectué et assimilé des lectures d’une étendue proprement gigantesque.
Pour la période biblique et l’interprétation des données archéologiques, un sujet de débats passionnés en particulier depuis une quarantaine d’années, il s’est adressé à des spécialistes reconnus et a tracé sa voie – une voie moyenne, entre la parfaite confiance dans le récit biblique et le postulat de sa totale a-historicité. Surtout, pour les périodes postérieures, depuis l’Antiquité gréco-romaine, avant et après la destruction du Temple de Jérusalem en l’an 70, jusqu’à l’histoire des Juifs dans l’Europe du Moyen Âge tardif, en passant par le monde juif en terre d’islam, l’auteur a consulté les travaux de recherche les plus récents et les plus novateurs. L’information bibliographique, signalée dans les notes, n’est nullement ornementale : le texte principal s’appuie tout au long sur les dernières publications qui comptent, dont, soupçonne-t-on, les spécialistes, dans les différents domaines, n’ont pas eux-mêmes toujours su saisir ce qui fait leur surcroît d’utilité.
Schama donne un texte très enlevé, mais, comme on pouvait s’y attendre, il est à son meilleur dans les deux exercices où l’on sait qu’il excelle, et d’abord dans l’usage des archives visuelles et des données matérielles. Ainsi fait-il merveille lorsqu’il introduit l’exposé portant sur les déchirements internes de la société juive et les circonstances de la révolte des Maccabées par une description évocatrice du palais édifié, à l’est du Jourdain, par Hyrcan, petit-fils d’un Tobiah connu grâce aussi bien à ce que dit de lui Flavius Josèphe qu’à la documentation laissée par un intendant du ministre des finances de l’Égypte ptolémaïque, et représentant d’un milieu juif particulièrement hellénisé. Ou lorsque, pour montrer l’ouverture sur les cultures environnantes, aux iieet iiie siècles de l’ère chrétienne, du judaïsme diasporique mais aussi palestinien, S. Schama mobilise le témoignage des peintures murales de la synagogue de Doura-Europos en Syrie orientale et celui des mosaïques et des restes architecturaux de Sepphoris en Galilée. Ou encore lorsque, afin de souligner la prospérité des Juifs d’Égypte, ou en tout cas de certains d’entre eux, à l’époque, entre xe et xiie siècle, qu’éclairent les documents découverts dans la gueniza (la remise) d’une synagogue du Vieux Caire, il décrit les garde-robes que nous font connaître les papiers publiés et analysés par Shlomo-Dov Goitein et par Yedida Stillman.
L’ouvrage se distingue ensuite dans la façon qu’a S. Schama de faire du récit l’élément même dans lequel se coule une analyse. Le morceau le plus réussi à cet égard est peut-être la mise en perspective de la condition des Juifs, à la fois solide et précaire, dans l’Angleterre des années 1240-1270, à travers le récit d’une vie, celle d’une femme d’affaires avisée, Licoricia de Winchester. Les grincheux diront que l’auteur emprunte sa documentation à une monographie récente [1] [2] Certes. Encore fallait-il savoir, à partir de celle-ci, à la fois brosser un tableau et conduire une démonstration.
chama fait preuve, en chaque chapitre, d’une remarquable capacité à synthétiser les résultats de la recherche, la clarté de la discussion et sa densité faisant bon ménage. J’ai eu à plusieurs reprises le sentiment, en cours de lecture, que, sur telle ou telle question abordée, et sur laquelle j’ai eu moi-même à consulter une abondante littérature, je n’avais jamais lu de présentation ramassée aussi pénétrante, qui sache dégager ce qui compte, et permette de comprendre mieux ou autrement un épisode que je croyais bien connaître. Il faut espérer que la traduction française de l’ouvrage trouvera de nombreux lecteurs, et qu’en particulier un lectorat universitaire saura reconnaître qu’il dispose là d’une « histoire des Juifs » saisie dans toute son ampleur chronologique, qui cumule les avantages, puisqu’elle est exposée selon les critères de l’histoire savante, qu’elle est parfaitement accessible et présente en même temps toute garantie de fiabilité.
Mais l’irritation ? C’est qu’on ne voit aucune des questions fortes que l’histoire des Juifs appelle, on ne dit pas tranchées, mais seulement posées. Pour fil conducteur, S. Schama a pris le thème de la puissance des « mots » : les mots, c’est-à-dire l’exégèse d’une parole tenue pour révélée, et la réinvention constante du sens attribué à son dépôt (d’où le sous-titre : « Trouver les mots »). Ce sont ces mots, nous dit-on, qui donnent la clé d’une pérennité. Peu importe que la proposition ne pèche pas par excès d’originalité. L’ennui est surtout que, sur ces « mots », l’auteur n’est pas à son affaire. À propos de la littérature talmudique et midrashique, il reprend un discours rebattu, et qu’on espérait définitivement remisé, sur un fatras parcouru d’étranges lueurs. Il s’enthousiasme, en revanche, pour Moïse Maïmonide, sans que perce une véritable familiarité avec l’œuvre et ses problèmes. Il suffit à S. Schama de savoir que Maïmonide a tenté de réconcilier l’intérieur et l’extérieur, l’étude du donné révélé et la réflexion philosophique à l’horizon de l’universel, l’ancrage dans l’intime d’une culture et l’ouverture à des questionnements qui s’adressent à tout homme, par-delà les appartenances spécifiques, sur fond de raison partagée ; et de conspuer les adversaires de Maïmonide, obscurantistes obtus.
On ne nourrit pas nécessairement des préférences et des détestations différentes. Mais ces développements rappellent, par la combinaison de la fadeur de la pensée et du lyrisme du ton, un discours apologétique largement diffusé, au moins dans certains courants du judaïsme des lendemains de l’Émancipation. Il s’agit, aujourd’hui comme hier ou avant-hier, de montrer comment l’influence du judaïsme a profité à l’avancement de la rationalité, comment les deux causes, celle de l’identité juive et celle du progrès moderne, se rejoignent naturellement. Et si le texte atteste une baisse de tension et une dérive vers la banalité, non seulement à propos de Maïmonide (qu’à titre exceptionnel S. Schama professe admirer), mais chaque fois qu’il est question des évolutions intellectuelles et religieuses, c’est que « les mots », l’auteur non seulement les connaît mal (il n’a pour bagage que des souvenirs d’enfance et des lectures récentes peut-être pressées), mais, assez manifestement, ressent pour eux peu d’appétence, et qu’ils suscitent chez lui, d’emblée, le malaise plutôt que la curiosité.
Au point d’avoir, face à l’empire des mots, érigé un contre-modèle : celui que lui offre la vie des soldats juifs en poste à la garnison de l’île d’Éléphantine, à Assouan, que nous font apercevoir, pour l’époque de la domination perse en Égypte, des papyrus en araméen découverts à la fin du xixe siècle. L’auteur ouvre son livre sur l’existence au quotidien, longtemps sans histoires, de cette colonie aux coutumes si éloignées de celles qui prévalaient dans l’Israël biblique (ne serait-ce que parce que ces soldats ont érigé un temple, et ignoré ainsi la prescription deutéronomique qui réserve l’exclusivité du culte au Temple de Jérusalem).
De ce que lui apprennent les documents, qui portent sur la vie familiale et les transferts de biens, S. Schama tire cette leçon : « Comme dans tant d’autres sociétés juives implantées parmi les Gentils, la judéité d’Éléphantine était prosaïque, cosmopolite, vernaculaire (araméenne) plutôt qu’hébraïque, obsédée par la loi et la propriété, attentive à l’argent et soucieuse de la mode, très préoccupée par la conclusion des mariages et les ruptures, le soin des enfants, les subtilités de la hiérarchie sociale, sans oublier les délices et les fardeaux du calendrier rituel juif. Par ailleurs, elle ne semble pas avoir été particulièrement livresque. […] C’est le côté suburbain, ordinaire, de tout cela qui, l’espace d’un instant, paraît absolument merveilleux – un peu d’histoire juive sans martyrs ni sages, sans tourment philosophique, le Tout-Puissant grincheux pas très en vue ; un lieu d’une heureuse banalité, très préoccupé par les conflits de propriété, l’habillement, les mariages et les fêtes […] un temps et un monde innocents du roman de la souffrance » (p. 39).
Il est arrivé à Gershom Scholem de moquer une historiographie juive qui dépeignait parfois les patriarches bibliques comme de braves bourgmestres de Rhénanie [3]. Puis-je prendre exemple sur lui pour exprimer des doutes sur une caractérisation des « sociétés juives implantées parmi les Gentils » qui propose de promener d’une époque à l’autre l’histoire de réussite et les préoccupations typiques d’une upper middle class suburbaine ? On a dénoncé, d’ailleurs très injustement, une historiographie juive du xixe siècle trop souvent organisée autour du diptyque souffrances/élévation spirituelle, misère et grandeur. On conçoit que, en période post-moderne où les causes quelles qu’elles soient ne font ni vivre ni mourir, il paraisse judicieux d’écarter le passé de souffrances et de substituer aux récits trop inspirés le prosaïsme de l’épanouissement personnel. Et, après avoir dit sa détestation de l’histoire lacrymale, de réintroduire le malheur pour réagir contre les excès d’un discours devenu rituel de dénonciation de ce type d’histoire, mais surtout pour mieux souligner la présence continue d’une faculté éminemment contemporaine : le rebond, la résilience. Cela revient à remplacer des anachronismes ridicules par d’autres anachronismes ridicules, et à mener l’œuvre apologétique par d’autres moyens. L’entreprise peut au demeurant rencontrer l’adhésion : le livre se transformera alors en livre-cadeau, offert à des enfants qui ne le liront pas par des parents qui ne le liront pas non plus, puisqu’ils ne ressentiront pas le besoin de légitimer par des précédents historiques l’existence suburbaine d’aujourd’hui. Ce serait dommage : voilà un livre qui, malgré ces faiblesses essentielles, est une manière de chef-d’œuvre.
Notes
1. Faruk Tabak, The Waning of the Mediterranean, 1550-1870: A Geohistorical Approach, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008.
2. Suzanne Bartlet, Licoricia of Winchester: Marriage, Motherhood and Murder in the Medieval Anglo-Jewish Community, Londres, Vallentine Mitchell, 2009.
3. Gershom Scholem, « Réflexions sur les études juives », no thématique « Gershom Scholem », Cahiers de l’Herne, 92, 2009, p. 133-145, ici p. 143
Maurice Kriegel
SHAMA, Simon. L’histoire des Juifs. Trouver les mots. De 1000 avant notre ère à 1492. Trad. par P. E. Dauzat, Paris, Fayard, [2013] 2016. 506p. Resenha de: KRIEGEL, Maurice. Annales. Histoire, Sciences Sociales. Paris, n.4, 2016. Acessar publicação original [IF].
La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918) | Joseph M. Fradera
La gestación de La nación imperial, obra singular y monumental que consta de 1376 páginas repartidas en dos volúmenes, es fruto de un proceso de maduración que viene a ampliar el campo de acción de varios estudios que el historiador catalán Josep María Fradera ha realizado sobre el colonialismo español decimonónico, entre los que destacan Gobernar colonias (1999) y Colonias para después de un imperio (2005). En su nuevo libro, el autor ha decidido salir del ámbito estrictamente peninsular al comprobar la similitud entre las leyes especiales ideadas por Napoleón para las posesiones ultramarinas francesas a finales del siglo XVIII y el nuevo rumbo de los imperialismos europeos y norteamericano a lo largo del siglo XIX. Las fórmulas de especialidad que Fradera localiza en los principales imperios contemporáneos se verificarían hasta las descolonizaciones iniciadas en 1947 y – algo que queda fuera de los límites cronológicos del libro sin ceñir sus intenciones intelectuales – tendrían repercusiones hasta la actualidad.
Para llevar a cabo su investigación, Fradera cuestiona las categorías de los estudios coloniales y nacionales. En un cambio de escala analítica, el historiador desvela modalidades de concesión y restricción de derechos comunes a distintos imperios, más allá del enfoque clásico y circunscrito del Estado-nación [1]. Con todo, Fradera insiste en el hecho de que su trabajo no se debe comprender como un estudio de historia comparada en la acepción usual de la disciplina, ya que su propósito, como afirma, está menos “pensado para oscurecer las diferencias” que para “razonar las similitudes de casos muy diversos” (p. 1295). En este sentido, siempre vela por matizar las categorías generales de los imperios con las especificidades propias de los espacios considerados. Esta articulación entre lo macro y lo micro le permite centrar su análisis en las experiencias respectivas de los actores de la época [2].
En palabras de Josep M. Fradera, el giro historiográfico global actual “es en algún sentido una venganza contra la estrechez que impusieron las historias nacionales, el férreo brazo intelectual de la nación-estado” [3]. No es baladí indicar que Fradera, joven militante antifranquista, dio sus primeros pasos en la Universidad Autónoma de Barcelona a inicios de los años setenta, en el contexto de la revisión historiográfica alentada por las descolonizaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial [4]. Impregnado por este cambio epistemológico y por las aportaciones más recientes de la historia global, el nuevo estudio de Fradera propone un marco interpretativo que contempla los imperios en sus interrelaciones y supera la anticuada dicotomía entre metrópolis y colonias. Siguiendo a especialistas como C. A. Bayly, Jane Burbank, Frederick Cooper y Jürgen Osterhammel, el historiador catalán quiere demostrar que los imperios desempeñaron un papel activo en la fabricación y la evolución de la ciudadanía y de los derechos, siempre con la idea de denunciar los nacionalismos contemporáneos, así como los atajos teleológicos y esencialistas que pudieron generar en el plano historiográfico.
Más allá de sus orientaciones metodológicas – e intelectuales -, La nación imperial constituye una aportación de primera importancia al ser, que sepamos, el primer estudio redactado en castellano que brinda un abanico espacio-temporal de semejante trascendencia. Al cotejar los grandes imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos entre 1750 y 1918 (con algunos apartados dedicados a Portugal y Brasil), el libro proporciona un análisis pormenorizado del proceso sinuoso que empieza con el advenimiento de la idea de libertad a raíz de las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, hasta la consagración de la desigualdad a nivel mundial a lo largo de las centurias siguientes.
Uno de los designios centrales del libro es evidenciar el modo en que las tensiones que sacudieron los grandes imperios occidentales a raíz de la era revolucionaria desembocaron en la adopción de fórmulas de especialidad o de “constituciones duales”, esto es, constituciones que establecían marcos legislativos distintos para las metrópolis y las posesiones coloniales. Es más, Fradera considera la práctica de la especialidad “como la columna vertebral del desarrollo político de los imperios liberales” (p. XV). Según explica, el proceso revolucionario que arrancó con el carácter radical y universalista de la idea de libertad presente en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 conoció una involución notable en el siglo siguiente. La reconstrucción de los imperios tras las revoluciones supuso una delimitación cada vez más marcada en términos de representación entre metropolitanos – es decir, ciudadanos masculinos de pleno derecho – y ultramarinos, cuyos horizontes igualitarios se fueron desvaneciendo a medida que avanzó el ochocientos.
Fradera sostiene que el arduo equilibrio entre integración y diferenciación descansó sobre interrelaciones constantes entre metropolitanos y coloniales. Al comparar múltiples arenas imperiales, el autor muestra también que los paralelismos de ciertas políticas de especialidad respondieron a un fenómeno de emulación en las prácticas de gobierno colonial entre distintas potencias. Por otra parte, una perspectiva de longue durée le permite comprobar que los regímenes de excepción sobrevivieron al ocaso del mundo esclavista atlántico y se reinventaron con los códigos coloniales de la segunda mitad del siglo XIX para extenderse a territorios de África, Asia y Oceanía. El título del libro, al asociar dos conceptos que no se solían pensar como un todo, sugiere, en última instancia, que las transformaciones de los imperios fueron determinantes en la forja de las naciones modernas.
El libro está estructurado en cuatro partes organizadas cronológicamente. La parte liminar resalta el carácter recíproco de la construcción de la idea de libertad entre los mundos metropolitanos y ultramarinos en los imperios monárquicos francés, británico y español durante los siglos XVII y XVIII. Los derechos y la capacidad de representación no se idearon primero en los centros europeos para ser exportados luego a las periferias, sino que se fraguaron de forma simultánea. Este enfoque policéntrico servirá de base analítica para explicitar la estrecha relación entre colonialismo y liberalismo que se impondrá tras la crisis de los imperios monárquicos en el Atlántico.
“Promesas imposibles de cumplir (1780-1830)” es el título de la segunda parte del libro. Se centra en la quiebra de los imperios monárquicos y muestra cómo la adopción de nuevas pautas constitucionales para las colonias y el advenimiento de situaciones de especialidad en el marco republicano contrastaron con los valores radicales sustentados por las revoluciones liberales de la época.
La independencia de las Trece Colonias, pese a la igualdad de principio que conllevaba, no supuso una ruptura con los patrones socioculturales instaurados por los británicos en el continente americano. La joven república norteamericana circunscribió la ciudadanía a sus habitantes blancos y libres (valga la redundancia) y estableció una divisoria basada en el origen sociorracial y el género. Indios, esclavos, trabajadores contratados y mujeres no tenían cabida en la “República de propietarios”, aunque permanecían en el “Imperio de la Libertad”.
Para Gran Bretaña, la separación de las Trece Colonias marcó un cambio de era e implicó una serie de transformaciones que llevaron la potencia a extenderse más allá del mundo atlántico – donde le quedaban, sin embargo, posesiones importantes – para iniciar su swing to the East, esto es, el desplazamiento de su dominio colonial hacia el continente asiático y el Pacífico. La administración de situaciones diversas del Segundo Imperio, que ya no se resumía a la ecuación binaria del hiato entre connacionales y esclavos, implicó tomar medidas políticas para gobernar a poblaciones heterogéneas que vivían en territorios lejanos. Entre los ejes principales del gobierno imperial, cabe destacar el papel central otorgado a la figura del gobernador y la no representación de los coloniales en el parlamento de Westminster, si bien se toleraban formas de representación a nivel local.
En Francia, las enormes esperanzas igualitarias suscitadas en 1789 fueron canalizadas dos años después con la adopción de una Constitución que sancionaba la marginalidad de los coloniales y establecía raseros distintos para medir la cualidad de ciudadano. Establecer un régimen de excepción en los enclaves del Caribe francés permitía posponer la cuestión ardiente de la esclavitud – abolida y restablecida de forma inaudita – y mantener a raya a los descendientes de africanos, ya fuesen esclavos o libres. Se postergaría igualmente la idea de una representación de los coloniales en la metrópolis.
La fórmula de “constitución dual” inventada en Francia encontraría ecos en España y Portugal. Los dos países ibéricos promulgaron sus “constituciones imperiales” respectivas en 1812 y 1822, en un contexto explosivo marcado por el republicanismo igualitario y el ejemplo de la revolución haitiana. Mientras que la Constitución española de 1812 limitaba los derechos de las llamadas “castas pardas”, los constitucionalistas portugueses hicieron caso omiso de los orígenes africanos, pero, en cambio, excluyeron a los indios de la ciudadanía. Pese a sus diferencias, los casos españoles y portugueses guardan similitudes que tienen que ver con el fracaso de sus políticas liberales de corte inclusivo en los años 1820, y con el retroceso significativo en términos legislativos que desembocarían en el recurso a regímenes de excepción a partir de la década siguiente.
La tercera parte de La nación imperial, intitulada “Imperativos de igualdad, prácticas de desigualdad (1840-1880)”, versa sobre la expansión de los imperios liberales en las décadas centrales del siglo XIX, época marcada por la estabilización de las fórmulas de especialidad y de los regímenes duales.
El imperio victoriano tuvo que encarar situaciones conflictivas muy diversas en sus posesiones ultramarinas heterogéneas. La resolución del Gran Motín indio de 1857-1858 constituyó una crisis imperial de primer orden que permitió a Gran Bretaña demostrar su capacidad de gobierno en el marco de una sociedad compleja y de un territorio enorme que no se podía considerar como una mera colonia. La India británica era, en palabras de Fradera, “un imperio en el imperio” (p. 504) que carecía de la facultad para autogobernarse y que, por lo tanto, tenía que ser administrada y representada de manera transitoria por la East India Company. El caso de las West Indies era distinto en la medida en que aquellas se podían definir como colonias. La revuelta sociorracial de habitantes del pueblo jamaicano de Morant Bay en 1865 y la sangrienta represión a que dio lugar tuvieron un impacto considerable en la opinión pública británica, ocasionando nuevos cuestionamientos sobre los efectos reales de la abolición de la esclavitud y el rumbo de la política caribeña. Como consecuencia, el Colonial Office decidió suprimir la asamblea jamaicana y conferir a la isla el estatuto de Crown Colony, lo que constituía una regresión constitucional en toda regla. La conversión de la British North America en dominion de Canadá en 1867 se resolvió de manera más pacífica, aunque la población francófona y católica sufrió un proceso de aminoración frente a los anglófonos protestantes, mientras que los pueblos indios de los Grandes Lagos perdieron sus tierras ancestrales.
Los sucesos revolucionarios de 1848 en Francia volvieron a abrir pleitos que el golpe napoleónico de 1804 había postergado. Se decretó finalmente la abolición definitiva de la esclavitud, sin resolver satisfactoriamente la situación subordinada de los antiguos esclavos. La Segunda República también heredó un mundo colonial complejo. Fue a raíz de la toma de Argel en 1830 cuando la política colonial francesa comenzó a diferenciar las “viejas” de las “nuevas” colonias. Mientras que en las primeras las personas libres gozaban de derechos políticos y de representación relativos, las segundas – a imagen de Argelia, que estaría regida por ordenanzas reales – se apartaban del espectro legislativo. En el marco de este replanteamiento imperial, se procedió a una redefinición múltiple de la ciudadanía, que se medía, entre otras cosas, según la procedencia geográfica de cada uno: metropolitanos, habitantes de las “viejas” colonias y, al pie de la escala simbólica de los derechos, habitantes de las “nuevas” colonias.
En Estados Unidos, los términos de la ecuación se presentaban de forma algo distinta. En efecto, a diferencia de los imperios europeos, las fórmulas de especialidad se manifestaron en el interior de un espacio que se entiende comúnmente como “nacional”. Con todo, dinámicas internas fraccionaron profundamente el espacio y la sociedad de este “imperio sin imperialismo” (p. 659). La expansión de los Estados esclavistas en el seno del “imperio de la libertad” constituyó una paradoja que solo se resolvería – aunque no totalmente – con la guerra de Secesión. De hecho, la “institución peculiar”, como se la llamaba, ponía al descubierto la diversidad social, étnica y cultural de una población norteamericana escindida en grupos con o sin derechos variables. La expansión de la frontera esclavista no solo concernía a los esclavos, sino que afectaba a poblaciones indias desposeídas de sus tierras y recolocadas en beneficio de oleadas sucesivas de colonos norteamericanos procedentes del Este y de europeos.
El carácter del Segundo Imperio español se aclaró con la proclamación de una nueva Constitución en 1837, que precisaba en uno de sus artículos adicionales que “las provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales”. A pesar de que dichas leyes nunca fueron plasmadas por escrito, quedan explícitas en la práctica del gobierno colonial. A años luz de las promesas igualitarias de las primeras Cortes de Cádiz, las nuevas orientaciones políticas para Cuba, Puerto Rico y Filipinas pueden resumirse en una serie de coordenadas fundamentales: la autoridad reforzada del capitán general, el silenciamiento de la sociedad civil, la expulsión de los diputados americanos y la política del “equilibrio de razas” (es decir, la manipulación de las divisiones sociorraciales y la defensa de los intereses esclavistas).
La cuarta y última parte del libro, que lleva por título “La desigualdad consagrada (1880-1918)”, coincide con la época conocida como el high imperialism. Sus páginas prestan especial atención al desarrollo y consolidación de enfoques de corte racialista. El hecho de que las ciencias sociales se hicieran eco de las clasificaciones raciales propias del desarrollo de los imperios a partir de la segunda mitad del ochocientos demostraba que el Derecho Natural del siglo anterior ya no estaba al orden del día.
El mayor imperio liberal de la época, Gran Bretaña, refleja muy bien la exacerbación de la divisoria racialista con respecto al Segundo Imperio. Los discursos que defendían la idea de razas jerarquizadas se nutrieron de los debates en torno a la representación de los coloniales e impregnaron los debates relativos al imperio. Tal fue el caso, por ejemplo, de Australia, donde se excluyó de los derechos a una población tasmana diezmada por la violencia directa e indirecta del proceso de colonización. Sin embargo, conviene no olvidar que los discursos racialistas actuaron como coartada de la demarcación entre sujetos y ciudadanos.
Argelia fue una pieza esencial del ajedrez político de la Tercera República, en particular, porque se convirtió en laboratorio para las legislaciones especiales del Imperio francés. El Régime de l’indigénat representó la quintaesencia del ordenamiento colonial galo. Este régimen de excepción dirigido inicialmente contra la población musulmana de Argelia fue el broche de oro jurídico de las fórmulas de especialidad republicana hasta tal punto que fue exportado al África francesa y a la mayoría de las posesiones del sudeste asiático y del Pacífico. Esta política de marginalización y de represión propia de la lógica imperial se tiñó de acusados acentos etnocentristas para justificar la “misión civilizadora” de Francia.
La Revolución Gloriosa de 1868 llevó el Gobierno español a mover ficha en sus tres colonias. Si la Constitución del año siguiente anunciaba reformas políticas para Cuba y Puerto Rico, las islas Filipinas quedaban sometidas a la continuidad de las famosas – e inéditas – “leyes especiales”. El ocaso del sistema esclavista explicaba en buena medida el cambio de rumbo colonialista en los dos enclaves antillanos, así como sus dinámicas propias. El archipiélago filipino pasó por un proceso de transformación económica, acompañado de reformas locales de alcance limitado y por una racialización política cada vez más intensa. Los fracasos ultramarinos de la España finisecular tendrían repercusiones en el espacio peninsular con la exacerbación de no pocos afanes de autogobierno a nivel regional.
Estados Unidos conoció serias alteraciones en su espacio interno tras la Guerra Civil. La reserva india, que emergió en el último tercio del siglo XIX, era un zona de aislamiento cuyos miembros no gozaban de derechos cívicos y a los se pretendía incluir en la comunidad de ciudadanos mediante políticas de asimilación. En este sentido, las reservas eran espacios de la especialidad republicana. La victoria de los unionistas distó mucho de significar la superación del problema esclavista y, sobre todo, de sus secuelas. El hecho de que el voto afroamericano se convirtiera en realidad en el mundo posterior a 1865 – conquista cuya trascendencia conviene no subestimar – no impidió que las elites políticas blancas siguieran llevando las riendas del poder, tanto en el Norte como en el Sur. En los antiguos Estados de la Confederación, ya no se trataba de mantener la esclavitud, sino de preservar la supremacía blanca. La segregación racial, que se puede asemejar a una práctica de colonialismo interno, contribuyó a instaurar situaciones de especialidad en las que los afroamericanos serían considerados como súbditos inferiores. En el ámbito externo, el fin de siglo sentó algunas de las bases futuras de este “imperio tardío” (p. 1276). Estados Unidos expandiría sus fronteras imperiales al ejercer su dominio sobre las antiguas colonias españolas y al formalizar el colonialismo que practicaba de hecho en Hawái y Panamá.
Resulta difícil restituir de forma tan sintética los mil y un matices delineados con una precisión a veces quirúrgica en los dos gruesos volúmenes que componen La nación imperial. La elegancia del estilo, la erudición del propósito y los objetivos colosales del libro – que se apoya en una extensa bibliografía plurilingüe – acarrean no pocas repeticiones. Pese a una edición cuidada, se echa en falta la presencia de un índice temático (además del onomástico) y de una bibliografía al final de la obra. Estos escollos, que incomodarán sin duda al lector en busca de informaciones y análisis sobre temas específicos, no cuestionan de modo alguno el hecho de que La nación imperial sea un trabajo muy importante y sin parangón.
Creemos que Josep María Fradera ha alcanzado su objetivo principal al mostrar, como indica en sus “reflexiones finales”, que “la crisis de las ‘monarquías compuestas’ (…) no condujo al Estado-nación sin más, sino a formas de Estado imperial que eran la suma de la comunidad nacional y las reglas de especialidad para aquellos que habitaban en los espacios coloniales” (p. 1291). Otra de las grandes lecciones del libro es que el etnocentrismo europeo no basta para explicitar el modo en que se articularon definiciones y jerarquizaciones cada vez más perceptibles de las poblaciones variopintas de imperios cuyas fronteras políticas, sociales y culturales fueron mucho más borrosas de lo que se suele pensar. El racismo biológico a secas nunca estuvo en el centro de las políticas imperiales, aunque pudo manifestarse puntualmente para justificar algunas de sus orientaciones. Lejos de responder a esquemas estrictamente dicotómicos, las lógicas imperiales, además de relaciones de poder evidentes, estuvieron condicionadas por una tensión permanente en cuyo marco la capacidad de representación – por limitada y asimétrica que fuese -, la sociedad civil y la opinión pública fueron decisivas. En última instancia, el largo recorrido por las historias imperiales invita a adoptar una mirada más crítica acerca de problemáticas tan actuales como el lugar ocupado por ciudadanos de segunda categoría en el interior de antiguos mundos coloniales que no han resuelto las cuestiones planteadas por el despertar de los nacionalismos, la inmigración de nuevo cuño y la construcción de apátridas modernos.
Notas
1. Al respecto, véase Jane Burbank y Frederick Cooper, “Empire, droits et citoyenneté, de 212 à 1946”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 3/2008, pp. 495-531.
2. Sobre el valor heurístico del vaivén entre varias escalas de análisis puede consultarse el estudio de Romain Bertrand, “Historia global, historias conectadas: ¿un giro historiográfico?”, Prohistoria, 24/2015, pp. 3-20.
3. Josep M. Fradera, “Historia global: razones de un viaje sin retorno”, El Mundo, 04/6/2014 [http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/06/04/538ed57f268e3eb85a8b456e.html].
4. Jordi Amat, “Josep María Fradera y los estados imperiales”, La Vanguardia, 23/5/2015.
Karim Ghorbal – Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Universitéde Tunis El Manar (Tunísia). E-mail: karim.ghorbal@issht.utm.tn
FRADERA, Joseph M. La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918). Barcelona: Edhasa, 2015. 2 vols. Resenha de: GHORBAL, Karim. Los imperios de la especialidad o los márgenes de la libertad y de la igualdad. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 287-295, set./dez., 2016.
Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640 | David Wheat
Recent studies of colonial and early national Brazil emphasize that the transatlantic slave trade forged not only economic but also cultural and political connections across the South Atlantic. As historians including Walter Hawthorne, Roquinaldo Ferreira, Mariana Candido, Paul Lovejoy, and James Sweet highlight how regular and sustained exchanges between West Africa and Brazil shaped societies on both sides of the ocean, they also offer new geographies for understanding the Lusophone Atlantic. In his new book, David Wheat engages with models of reciprocal exchange and inter-colonial connection in order to redraw the boundaries of the Atlantic World in an earlier period. Analyzing early modern Iberia, Africa, and Latin America as “complementary aspects of a single, unified history” (73), Wheat traces how developments in one area reverberated in the others. Doing so allows him to persuasively argue that the sixteenth- and seventeenth-century Spanish Caribbean should be viewed not as a precursor to the sugar colonies that later came to dominate much of the region, but as a natural extension of economic, social, and political precedents established in West Africa and the Luso-Atlantic world.
In addition to avoiding a teleological analysis of the rise of the plantation complex, Wheat’s innovative and deeply-researched book contributes to a growing body of work aimed at reconceptualizing the Atlantic World and the roles of African people within it. Enslaved Africans and their descendants constituted a demographic majority not just in export-oriented plantation economies, but in settlements that relied on mixed agriculture. In slave societies of this nature, which were first established by the Portuguese in Atlantic islands such as São Tomé and later replicated by Spanish colonizers in the Caribbean, African people performed many of the same functions as peasants in contemporaneous Iberia. Wheat shows how Africans’ diverse labors – as well as their very presence – strengthened Spanish expansion in the Americas. Not unlike their fellow ‘involuntary colonists’ in eighteenth- and nineteenth-century Brazil, these men and women also drew on their experiences in the broader Atlantic World in order to shape the foundations of new American societies in ways that historians are only beginning to appreciate. Drawing on archival materials housed in Colombia, Cuba, Spain, and Portugal, Wheat weaves together the histories and historiographies of Latin America, Iberia, and West Central Africa in order to emphasize a shared past that present-day boundaries tend to obscure. The resultant work highlights the possibilities of extending models of an interconnected Atlantic World backwards in time and across perceived political and geographic borders.
The first half of Wheat’s book is firmly grounded in the history and historiography of West Africa. Responding to critiques of the ‘foreshortening’ of African history, chapter one highlights continuities in African political and cultural identities from the thirteenth through the seventeenth century and beyond. As Wheat surveys key territorial, ideological, and political contests between a host of African states in the Upper Guinea and Senegambia regions, he demonstrates how these conflicts gave rise to slave raiding, which in turn provided captives for export. Attention to the tierra or ethnonyms of these captives – which Spanish officials carefully recorded in sixteenth-century slave ship rosters – allows Wheat to reconstruct the geographic and cultural origins of the enslaved. The fact that these ethnonyms were recognized and retained specific meanings for both Africans and Iberians in the early colonial Americas is important. In contrast to the plantation era, in which the mechanisms of colonial control often reduced Africans to an undifferentiated mass of people, in the early colonial period social and political identities forged in Africa continued to resonate in the diaspora. In his wide-ranging analysis of how events on the continent affected early colonial society, Wheat displays an impressive grasp of African history while also laying a compelling foundation for his interpretation of the Spanish Caribbean as an extension of West Africa.
Attention to the interconnected histories of Africa, Iberia, and the Americas carries into Wheat’s second chapter, which focuses on Angola. While most of the earliest Africans trafficked to the Spanish Caribbean came from Upper Guinea, in the seventeenth century Angola became a major point of embarkation for enslaved people. Arguing that Portuguese colonization of Africa and Spanish colonization of the Americas “mutually reinforced one another” (103), Wheat traces how the creation of the Luso-African state generated many of the captives who were then trafficked to the Caribbean. Elites who profited from the slave trade in Luanda also played active roles as merchants in Caribbean ports, thereby extending their influence and commercial relations across the Atlantic and further cementing ties between Portuguese West Africa and the Spanish colonies. Owing to a combination of factors – including the nature of warfare in West Central Africa and legislation favoring the introduction of enslaved people under age seven – many of the people forcibly transported across the Atlantic in the seventeenth century were children. As Wheat explores in later chapters, this in turn shaped the character of Spanish colonial society, as enslaved children more quickly adapted to Iberian linguistic, religious, and social norms.
Chapter three further develops Wheat’s argument that the character of Spanish Caribbean society was informed by Atlantic Africa. Wheat focuses on Portuguese tangomãos: merchants or mariners who ‘threw themselves’ into Africa, spending longer than one year and one day on the continent. In doing so, Wheat challenges the widespread misconception that the encounter between Africans and Europeans in the Americas always constituted a violent collision between two cultures with no prior experience of one another. Instead, Wheat shows that many men who went to the Caribbean did so after spending extended periods of time in Africa. These tangomãos then drew on their experiences to contribute knowledge of African languages and cultural practices that would have been unknown to colonists who arrived in Spanish America directly from Iberia.
Many tangomãos formed relationships with African women during their time away from Europe, further facilitating both commercial and cultural exchange. These and other gendered relationships inform Wheat’s fourth chapter, in which he emphasizes the predominance and importance of women in free-colored communities in the early Spanish Caribbean. Wheat’s attention to women makes an important intervention in the historiography of early colonial Afro-Latin America, which often focuses on the role of African men as military agents. Equally significant is Wheat’s critique of two notions that often inform discussions of interracial relationships in the colonial era: first, that unions between African or Afro-descended women and European men were generally viewed as illicit or socially unacceptable, and second, that these unions owed to a dearth of white women. While acknowledging the often unequal or exploitative nature of such relationships, Wheat works to dispel these notions by emphasizing the prevalence of legitimate – if often informal – interracial unions both in Africa and in Iberia.
Like their counterparts in Africa, Brazil, and elsewhere in the Atlantic World, women of color in the early Spanish Caribbean occupied a variety of roles. As sexual and marital partners, business people, and the owners of land and slaves, women were instrumental in shaping these societies. Wheat shows that African-born women who were incorporated into Spanish colonial society often shed their ethnonyms in favor of Iberian surnames, suggesting that changes in legal and social status accompanied changes in the identity that individuals claimed or were ascribed over the course of a lifetime.
Chapter five develops Wheat’s central argument that Africans and their descendants fulfilled the role of colonists in the early Spanish Caribbean. By the turn of the seventeenth century, the demographic profile of the Spanish Caribbean had much in common with that of other slave societies throughout the Americas; Africans and their descendants constituted a majority of the population in western Cuba, Hispaniola, Cartagena, Panama, and probably Puerto Rico. The occupations and the experiences of these men and women differed dramatically from those of their counterparts in sugar colonies, however. In these ‘African hinterlands’ of Latin America, free and enslaved black people grew food, raised livestock, and performed many of the same functions as rural peasants in contemporaneous Iberia. Wheat’s expansive view of the early Atlantic allows him to show that Spanish reliance on Africans to fuel self-sustaining farming and ranching economies was not unique; the practice was already well-established by the Portuguese in the Atlantic islands, where enslaved populations labored on mixed-agriculture farms rather than monocultural plantations.
In the final chapter of his book, Wheat further advances the argument that Africans and their descendants played essential roles in expanding Spanish claims to territory and legitimacy in the Americas. Paying careful attention to the terms used to describe Africans in Iberian commercial, legal, and ecclesiastical records, Wheat focuses on the process of acculturation. He argues that the difference between a ‘bozal’ and a ‘ladino’ was more than just place of origin; rather, such terms reflected the possibilities open to individuals of African descent within colonial society. Once again, Wheat artfully reorients the geography of the Spanish Atlantic to include Lusophone Africa. Drawing on historians of the region such as John Thornton and Peter Mark, Wheat shows that acculturation began on the Africa’s western coast, where decades of contact between Portuguese and African merchants provided a basis for mutual exchange. Although What is careful not to overstate African agency, he explores the ways in which Africans helped shape key features of Spanish Caribbean society, situating them as actors rather than passive recipients of the acculturation process. Whether as interpreters or godparents, ‘Latinized’ Africans selectively borrowed elements of Iberian culture in order to adjust – and to help others adjust – to life in the Americas. Wheat also stresses that the acquisition of a European language or religious practice did not necessarily signify the loss of African culture; newly-baptized slaves often shared an ethnonym with their godparents, further illustrating how links forged in Africa continued to inform relationships in the diaspora.
The historiographic stakes of Wheat’s work are high. In six chapters, he challenges the notion that the circum-Caribbean was a marginal or anomalous region of colonial Latin America; redraws the boundaries of the Spanish Caribbean to include Lusophone West Africa; and situates Africans as colonists-albeit involuntary ones-whose labor and presence underpinned Iberian colonial projects while simultaneously shaping early American society. His many interventions promise to inform future scholarship on Latin America and the Caribbean, West Africa, and the role of the Portuguese in the early Atlantic World. Missing from this otherwise ground-breaking and cogently-argued work is a detailed consideration of how Iberian geopolitics impacted the colonial sphere. The origins and specific effects of the Iberian Union-a sixty-year period (1580-1640) during which the same Hapsburg rulers controlled both Spain and Portugal-remain somewhat underdeveloped. Wheat notes that the union facilitated the traffic of some 450,000 enslaved people, as well as the circulation of untold numbers of Portuguese merchants between Iberia, Africa, and the Americas. But one is left wondering whether the unified history he describes would even have been possible without a decades-long era in which the division between Castile and Portugal “was especially blurred” (16). Although Wheat’s decision to devote equal attention to West Africa and the Spanish Caribbean accurately reflects the primacy he affords to events on the ground rather than abstract legislation, drawing the Iberian Peninsula more fully into this story may have further elucidated the inter-continental and inter-imperial exchanges he uncovers.
Studies of the transatlantic slave trade and the rise of the plantation complex continue to offer important insight on African contributions to colonial societies in Brazil and beyond. With Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, David Wheat pushes this model backwards in time, demonstrating the importance of African and Afro-descended peoples in a time and place where the plantation system did not predominate. His nuanced discussion of how events in Africa, as well as West Central Africans themselves, shaped some of the earliest settlements in the Americas significantly broadens and reorients existing understandings of the inter-connected nature of the Afro-Atlantic World. Viewed from the vantage point of West Africa and the Portuguese Atlantic, the early Spanish Caribbean looks not like an aberration in colonial Latin America history, but a natural product of longstanding relations and practices on the African coast.
Tessa Murphy Syracuse – University, Nova York NY, Estados Unidos da América. E-mail: temurphy@maxwell.syr.edu
WHEAT, David. Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640. Chapel Hill: Published for the Omohundro Institute of Early American History and Culture. Williamsburg, VA: by the University of North Carolina Press, 2016. Resenha de: SYRACUSE, Tessa Murphy. New Geographies of the Atlantic World: Connecting Lusophone Africa and Spanish America. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 308-313, set./dez., 2016.
A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830 | Aurelian Craitu
Em A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830, lançado em capa dura em 2012 e impresso em brochura três anos depois, o cientista político e historiador Aurelian Craiutu, professor da Universidade de Indiana, Estados Unidos, oferece aos leitores um livro desafiador e paradoxal.
Autor de vários textos sobre o liberalismo europeu dos séculos XVIII e XIX, dentre os quais se destaca seu livro de 2003 sobre os doutrinários franceses (Liberalism under Siege: The Political Thought of the French Doctrinaires ), Craiutu é tradutor e organizador de outros trabalhos sobre importantes pensadores liberais, tendo apresentado e traduzido para o inglês duas obras fundamentais para a doutrina liberal do século XIX, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française , de Mme. De Stäel, e Histoire des origines du gouvernement représentatif, de François Guizot, além de ter ajudado a organizar dois livros sobre Tocqueville. O estudioso reuniu o vasto arsenal adquirido em mais de uma década e meia de estudos sobre a doutrina liberal para avançar a seguinte tese: a moderação é a quintessência da virtude política, um “arquipélago perdido” que historiadores e cientistas políticos ainda estão por descobrir (p. 1).
Dividido em duas partes – cada qual contendo três capítulos -, o livro oferece um estudo aprofundado de certos autores liberais francófonos que, exceção feita ao clássico e bastante conhecido Montesquieu, se destacaram no cenário público francês entre os momentos de crise do Antigo Regime e a Revolução de 1789, muito embora não tenham recebido a devida atenção da academia e do público em geral no passado como no presente. São eles, na ordem, os líderes monarchiens (monarquianos), designação pejorativa que os jacobinos atribuíram a um grupo heterogêneo de deputados da Assembleia Constituinte formado por Mounier, Malouet, Lally-Tollendal e Clermont-Tonnerre entre outros, e os quais se destacaram por defender o bicameralismo e o veto absoluto do monarca (capítulo 3); o banqueiro suíço Jacques Necker, o célebre ministro das Finanças de Luís XVI, cujas reflexões sobre a Revolução Francesa e a relação entre o Poder Executivo e os demais Poderes continuam largamente ignoradas até hoje (capítulo 4); Germaine Necker ou Mme. de Stäel, a filha de Necker e prolífica autora de artigos, panfletos e livros, além de importante ativista política nos quadros do Diretório e da Restauração (capítulo 5); o suíço Benjamin Constant (capítulo 6), parceiro afetivo, intelectual e político de Mme. de Stäel sobretudo nos períodos do Diretório e do Consulado e, como ela, autor igualmente prolífico – depois de Montesquieu, certamente o mais conhecido e estudado entre os elencados.
Além do prólogo, no qual expõe as justificativas e a metodologia da pesquisa, e do epílogo, no qual conclui com uma espécie de “decálogo” explicativo da moderação, o livro apresenta um esboço sobre o lugar ocupado pelo conceito de moderação no pensamento político ocidental, da antiguidade clássica e pensadores cristãos aos humanistas da época Moderna e filósofos franceses da Ilustração (capítulo 1), bem como um longo capítulo dedicado ao autor de O Espírito das Leis (1748), o barão de Montesquieu (segundo 2) – a meu ver o melhor do livro e, não por acaso, a pedra-angular da obra.
A escolha de Montesquieu como marco epistemológico inicial do estudo e da Revolução Francesa como tela de fundo do trabalho se justificam. O primeiro, pelo fato de haver delegado papel central à moderação política em sua grande obra, a qual teve o mérito de destacar os traços constitucionais, institucionais e legais da moderação para além das considerações de ordem ética sobre o caráter dos governantes ou dos legisladores. Ademais, as reflexões políticas de O Espírito das Leis e das produções dos demais autores ilustram os dois principais temas do livro de Craiutu: a moderação como conteúdo de uma agenda crítica e reformista do Antigo Regime; e as diversas tentativas de institucionalização da moderação política durante e após a Revolução de 1789, o eixo ou pano de fundo do livro. Inspirado no conceito de Sattelzeit (“tempo-sela”, tempo de aceleração histórica), cunhado por Reinhart Koselleck, e ecoando reflexões de François Furet acerca dos impactos da Revolução Francesa sobre a cultura política contemporânea, Craiutu justifica a centralidade daquele evento pelo fato de que “continuamos a viver num mundo democrático moldado e construído pelos ideais e princípios da Revolução Francesa” (p. 2).
É tendo por base as reflexões políticas de Montesquieu e de seus intérpretes envoltos no fenômeno revolucionário francês que Craiutu desdobra o que ele próprio designou como as quatro meta-narrativas do livro: I. a moderação abordada pelo aspecto político e institucional (e não como uma virtude pessoal ou individual), cujo propósito é salvaguardar não apenas a ordem, mas também a liberdade individual; II. a afinidade existente entre a moderação política e a complexidade institucional ou constitucional, conforme ilustraram Montesquieu por meio de seu conceito de “governo moderado”, os monarquianos com a defesa do bicameralismo e do veto absoluto, Necker mediante sua teoria da “soberania complexa” ou do “entrelaçamento dos poderes”, Mme. de Stäel com a sua busca de um “centro complexo” para consolidar a república termidoriana e Benjamin Constant em sua teoria do poder neutro; III. a moderação como a defesa sensata da liberdade, o que não se confunde com o conceito filosófico do juste milieu, pois a moderação pode se traduzir em atitudes tanto equilibradas como radicais de acordo com o contexto político; IV. por isso, a ação moderadora não pode ser analisada por meio do vocabulário político usual (direita ou esquerda), uma vez que possui conotações radicais ou conservadoras conforme o tempo e o espaço. Como bem destacou o autor no prólogo, há momentos em que as intenções moderadoras deixam de ser virtude e passam a significar fraqueza ou traição de princípios – poderíamos exemplificá-lo com o infame Pacto de Munique celebrado entre as potências europeias e a Alemanha nazista, que suscitou um célebre discurso de Churchill.
Na esteira do caráter elástico de seu tema, Craiutu optou por uma abordagem eclética na qual o contextualismo linguístico da Escola de Cambridge e a tradição historiográfica revisionista de Furet e seus discípulos (especialmente Lucien Jaume, destacado estudioso do liberalismo francês do século XIX) se articulam para dotar o livro de um caráter duplo. A Virtue for Courageous Mind pode ser lido ora como obra de filosofia política, ora como trabalho de história das ideias, dado o constante diálogo entre a análise textual e interpretação contextual.
Além das referências citadas acima, é possível identificar outras figuras importantes para o desenvolvimento da hipótese do autor, tais como Jonathan Israel, Judith Shklar, Norberto Bobbio e Isaiah Berlin. De acordo com Craiutu, cientistas sociais ignoram o conceito político da moderação por vários fatores, dentre os quais se destacam a persistência de uma tradição filosófica radical que associa a agenda moderada à defesa conservadora do status quo (de Marx a Israel); a tendência a enxergar na moderação um programa minimalista pautado pelo medo ou pela oposição aos extremos (provável alusão a Shklar e seu artigo ”Liberalism of fear”, de 1989); por fim, indo ao encontro de Bobbio e de Berlin, a visão dominante, não restrita à academia, que vincula a moderação à sagacidade de um determinado agente político, o qual, para conquistar seus objetivos, recorre a quaisquer tipos de compromissos ou manobras (o político encarado como um leão ou uma raposa).
Na contramão do insistente e vigoroso senso comum acerca do tema, Craiutu sustenta – inspirado numa citação do liberal-conservador Edmund Burke, de quem toma de empréstimo nada menos que o título do livro – que a moderação é “uma arrojada virtude para mentes corajosas” (p. 9). Ela não deve ser reduzida a mero meio-termo entre extremos nem tampouco representa sinônimo de pusilanimidade, hesitação ou cálculo cínico de realismo político. Com implicações institucionais e, segundo o autor, desempenhando um papel crucial na aquisição ou fortalecimento dos valores democráticos e liberais, a agenda moderada dos autores selecionados possui em comum pluralismo (de ideias, interesses e forças sociais), reformismo (reformas graduais em vez de rupturas revolucionárias) e tolerância (postura cética que reconhece limites humanos, especialmente para a ação política).
Antes de comentar o que, a meu ver, constitui o problema central do livro, a saber, a identidade das reflexões moderadas desses autores para a aquisição, manutenção e fortalecimento da democracia liberal (p. 9), gostaria de destacar alguns méritos da obra.
O primeiro ponto que saliento é, se não a originalidade, ao menos a correção no tratamento de um autor clássico como Montesquieu. Craiutu sugere que, mais do que propor um governo moderado fundado na separação dos poderes, equívoco reproduzido por incontáveis intérpretes, o que Montesquieu efetivamente sustentou foi uma teoria sobre a divisão dos poderes na qual o Executivo e o Legislativo exerciam controles recíprocos e moderavam as iniciativas de cada um – sua visão, no espírito da doutrina do equilíbrio de poder vigente na época e inspirada na constituição inglesa, pode ser traduzida na fórmula de que só um poder é capaz de controlar e regular outro poder, de modo que a estrita separação entre ambos daria margem a usurpações ou levaria à paralisia institucional. Nos quadros da Revolução Francesa, esse tópico da complexidade constitucional/institucional como condição sine qua non para a obtenção de um governo livre (moderado) se desenvolve nas obras dos monarquianos (bicameralismo e veto absoluto), de Necker (teoria do entrelaçamento dos poderes) e, sobretudo, de Benjamin Constant (teoria do poder neutro). Para demonstrá-lo, Craiutu procedeu a uma criteriosa pesquisa de fontes primárias (obras e discursos dos autores e de seus interlocutores, além de textos legais ou constitucionais) e secundárias (nas mais diversas línguas, do francês e inglês ao alemão), bem como a um erudito exercício de interpretação e reconstrução contextual. Do ponto de vista formal, os únicos senões correm por conta da omissão de um importante intérprete atual da obra de Benjamin Constant (Tzvetan Todorov), bem como da inusitada ausência de uma bibliografia no final do livro, o que dificulta a leitura de suas inúmeras e ilustrativas notas.
Craiutu foi feliz na escolha e no tratamento dos autores, na medida em que eles possuem um núcleo conceitual comum, a moderação vista sob o prisma da complexidade institucional, e defendem princípios filosóficos semelhantes: de Montesquieu a Constant, a mesma preocupação com a moderação das penas e com a absoluta liberdade de expressão; os benefícios do comércio; as garantias para a propriedade privada; o entendimento das desigualdades sociais como resultantes da fortuna ou do intelecto, numa visão otimista da meritocracia; o estabelecimento de pesos, contrapesos e divisões entre os poderes, o que é diferente da separação entre eles; a necessidade de um Judiciário independente do Legislativo e do Executivo; e a crítica às visões monistas ou absolutistas do poder que, da vontade geral de Rousseau às críticas de Paine ao governo misto da Inglaterra, redundaram na mera transferência do poder absoluto do monarca para o poder absoluto do Legislativo (como sabemos, trata-se de uma das principais teses de Furet sobre a Revolução Francesa).
Segundo Craiutu, o pensamento liberal, devido em grande medida à experiência da Revolução Francesa e do traumático período do Terror, teria passado por uma nítida evolução. Aos poucos seus autores teriam se preocupado menos com quem exerce a soberania (o monarca, uma maioria popular ou uma minoria abastada e ilustrada) e mais com a maneira em que a soberania é exercida, até concluírem que o que realmente importa é o estabelecimento de limites ao poder a fim de proteger os indivíduos da autoridade política – ainda que exercida em nome do povo, da nação, da vontade geral, ou sob a bandeira de ideais generosos e humanitários como a igualdade.
Exceção feita a Montesquieu, que não viveu a tempo de testemunhar a Revolução Francesa, os demais autores apresentaram diagnósticos lúcidos sobre as causas que conduziram à “derrapagem” daquele grande evento. Para além das já conhecidas interpretações liberais de Mme. de Stäel e Benjamin Constant para o período de 1789-1794 – as quais são de conhecimento dos iniciados na historiografia da Revolução Francesa -, Craiutu resgata as valiosas contribuições teóricas e balanços históricos dos monarquianos, especialmente Mounier (Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres, 1792), e de Necker, cujo panfleto De La Révolution Française, de 1796, não recebeu uma única edição sequer ao longo de mais de 200 anos!
A despeito de uma visão consolidada pelos próprios revolucionários franceses, dos jacobinos aos girondinos, que viam na retórica dos deputados monarquianos intenções aristocráticas ou conspiratórias a serviço da Corte, Craiutu reabilita esse grupo, sustentando, à guisa de Tocqueville, que os monarquianos eram dotados de um verdadeiro espírito revolucionário. Embora lutassem pelo estabelecimento de um governo moderado balizado por garantias constitucionais, eles seriam unânimes na oposição aos privilégios da nobreza. Craiutu sugere, após reconstruir as causas que levaram à derrota política dos monarquianos, que o Terror poderia ter sido evitado se as propostas de Mounier, Malouet, Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal & Cia. tivessem sido adotadas, observando que o projeto constitucional triunfante em 1814 e consolidado durante a Monarquia de Julho guardava estreitas afinidades com os diagnósticos políticos do grupo (p. 106).
Outro ponto alto do livro é o tratamento nada condescendente dispensado a figuras tão complexas quanto Mme. de Stäel e Benjamin Constant, as quais, sobretudo no período em que apoiaram o governo republicano do Diretório, sustentaram posições dificilmente classificáveis como moderadas ou liberais. Embora Craiutu tenha examinado bem os panfletos termidorianos da dupla e o crítico contexto de sua elaboração, ele poderia ter devotado um pouco mais de atenção à questão religiosa – como fez, por exemplo, Helena Rosenblatt em seu estudo sobre Constant, autora com a qual Craiutu dialoga frequentemente e concorda sobre a importância da religião para o pensamento político da dupla (p. 200).
Por fim, o autor conclui que as modernas democracias devem ser encaradas como formas mistas de governo representativo, não como simples expressões do “governo do povo”, e que a moderação política “pode promover ideais democráticos” (p. 248). Esta última afirmação nos coloca diante de um problema e de um paradoxo. Problema, porque apesar de os autores em destaque apoiarem a igualdade civil, todos defendiam uma ou mais cláusulas de exclusão (nível de renda, posses ou conhecimento formal) quando o assunto era a participação ativa dos cidadãos na política – o que, ademais, constituía a regra para os liberais da época, sendo Thomas Paine, referência bastante citada no livro, rara exceção no campo liberal do período. Diante dessa constatação, e levando-se em conta o meticuloso trabalho de reconstrução histórica de Craiutu, é uma pena que este importante detalhe tenha sido inexplorado. Por outro lado, e aqui adentramos o paradoxo, o autor acerta em cheio ao apontar a relevância dessa agenda moderada para os estudiosos dos regimes democráticos do presente, na medida em que estes, para além do sufrágio universal como fundamentação e método de funcionamento do sistema, baseiam-se no pluralismo, nos direitos individuais e nos direitos das minorias (vide Lucien Jaume, Le discours jacobin et la démocratie).
Antes de encerrar, caberia levantar uma questão: afinal de contas, o autor logra ou não convencer o leitor de que a moderação é a quintessência da virtude política? Com base no problema relatado acima, arrisco dizer que não. Por outro lado, concordo com Craiutu (e Burke) quando ele (s) afirma (m) que a moderação deve ser encarada como virtude para mentes corajosas. Ao contrário do que afirmou Nietzsche, e com base nas trágicas experiências do século XX, podemos concluir que coube justamente aos estadistas moderados reconstruir o mundo após o apocalipse de guerras e regimes tirânicos engendrados a partir da “mentalidade de rebanho”.
José Miguel Nanni Soares – Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil. E-mail: miguelnanni@uol.com.br
CRAIUTU, Aurelian. A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830. Princeton: Princeton University Press, 2015. Resenha de: SOARES, José Miguel Nanni. Revisitando um arquipélago quase esquecido. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 314-320, set./dez., 2016.
The Art of Conversion: Christian visual culture in the Kingdom of Kongo – FROMONT (RH-USP)
FROMONT, Cécile. The Art of Conversion. Christian visual culture in the Kingdom of Kongo. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2014. Resenha de: SOUZA, Marina de Mello. O cristianismo congo e as relações atlânticas. Revista de História (São Paulo) n.175 São Paulo July/Dec. 2016.
A presença do cristianismo no Congo é tema abordado desde os seus primeiros momentos, nos relatórios e cartas de missionários, nas crônicas reais e documentos administrativos portugueses, nas narrativas de viagens, todos eles produzidos por estrangeiros, mas também em cartas de autoridades conguesas. A partir do século XVI, foi tratado com interesse e algum nível de minúcia, o que resultou em um volume significativo de informações. O livro aqui apresentado recorre a fontes muito pouco exploradas pelo conjunto dos estudos sobre o Congo cristão ao se voltar para a cultura visual e material. A partir deste campo específico do conhecimento, Cécile Fromont analisa pinturas, gravuras e objetos feitos por europeus, e objetos e performances criados por congueses, articulando a análise estética e simbólica aos diferentes contextos históricos nos quais esses produtos culturais circularam.
The Art of Conversion traz uma contribuição de grande peso para os estudos sobre o reino do Congo, como foi chamado desde o primeiro momento de contato com os portugueses, nomenclatura que predomina quase absolutamente na documentação e nos estudos sobre aquela sociedade. O livro trata de produções visuais e materiais gestadas pelas condições de espaços – não físicos mas cognitivos -, nos quais se realizaram encontros culturais, e onde existiu um ambiente propício a uma mutua fertilização. Tais espaços, nos quais novas produções culturais e formas de organização política ligaram mundos diferentes e introduziram novidades nos sistemas que as criaram, são chamados de “espaços de convergência” pela autora, inspirada por análises de seus professores do Departamento de História da Arte e Arquitetura da Universidade de Harvard. Este é o conceito chave de sua análise e nele está contida a ideia de que os produtos culturais resultantes do confronto entre grupos de diferentes sociedades também criam laços entre eles. Os capítulos que compõem seu livro são aplicações dessa chave de interpretação a objetos diferentes, mas interligados na sequência temporal. Todos eles expressam a adoção de elementos rituais e simbólicos cristãos pelas elites dirigentes do Congo: o sangamento, o crucifixo congo, algumas edificações, vestimentas e insígnias de poder. Para fechar o livro analisa alguns objetos e situações nas quais os símbolos do cristianismo dialogaram com os primeiros tempos do colonialismo.
O livro de Cécile Fromont, editado pela Universidade da Carolina do Norte, é um exemplo de obra bem cuidada e de imediato se coloca ao lado do que há de melhor sobre o Congo cristão. O texto é muito bem escrito, com as notas agrupadas ao final dos parágrafos a que se referem, o que resulta em uma narrativa agradável e fluida, sem interrupções constantes, ao mesmo tempo que há indicação minuciosa das obras utilizadas, como pede a norma acadêmica. E neste sentido, impressiona a dimensão da pesquisa e a erudição, especialmente por se tratar do primeiro livro da autora. A bibliografia pertinente foi esquadrinhada com rigor e a pesquisa em arquivos localizou documentação inédita. As imagens dos produtos culturais analisados estão inseridas no corpo do texto no momento em que são tratados, e a grande maioria é reproduzida novamente em cor, em caderno especial, permitindo que o leitor acompanhe passo a passo as interpretações da autora. Portanto, trata-se de um estudo de qualidade excepcional, apresentado em uma edição também excepcional em termos de qualidade gráfica e diagramação.
Na introdução do livro a autora esclarece que analisará a cultura visual cristã conguesa em três momentos, de três séculos diferentes (XVII, XVIII e XIX), sendo que desde 1500 homens e mulheres da elite local misturaram criativamente formas visuais, ideias religiosas e conceitos políticos locais e estrangeiros, criando uma visão de mundo nova e em constante transformação, que ela chama de cristianismo congo (Kongo Christianity). Alinha-se, portanto, ao maior estudioso do cristianismo no Congo, John Thornton, que segundo o entendimento da autora, junto com Richard Gray e Jason Young, entende que os congueses adotaram o cristianismo em graus variáveis e o interpretaram de maneira própria. Essa perspectiva seria diferente da de outros estudiosos que, ao contrário dos religiosos que primeiro se debruçaram sobre as fontes com muita erudição mas sem um olhar crítico, problematizaram o assunto sob outros pontos de vista, como Anne Hilton, Wyatt MacGaffey e James Sweet, para os quais a cosmologia centro-africana apropriou-se do cristianismo sem alterar sua estrutura fundamental, ou a de estudiosos anteriores e com olhares mais eurocêntricos, como George Balandier e W. G. L. Randles, que entenderam ter havido um fracasso da cristianização no Congo. A diferença maior de Cécile Fromont com relação a todos os estudiosos que a antecederam é que enquanto as fontes textuais – escritas e orais – sempre foram a base das análises, sua pesquisa partiu de fontes visuais e da cultura material. Ao considerar objetos e performances, e partir da ideia de que essas manifestações culturais ofereceram um espaço no qual seus criadores botaram lado a lado ideias radicalmente diferentes, confrontando-as e tornando-as partes de um novo sistema de pensamento e expressão, mostra como a elite conguesa refundiu ideias heterogêneas, locais e estrangeiras, em novas partes inter-relacionadas, em uma visão de mundo que constituiu o cristianismo congo: um novo sistema de pensamento religioso, expressão artística e organização política. Esse processo foi iniciado com a chegada dos portugueses à região no final do século XV, e deve muito à ação de D. Afonso, que governou o Congo de 1506 a 1545. Desde os primeiros tempos, o Congo cristão serviu, por um lado, à afirmação do padroado português e à sustentação do comércio de escravizados com a região e, por outro, de suporte à autoridade dos chefes locais que controlavam o cristianismo e o comércio. A implantação de redes comerciais e a adoção do cristianismo levou o Congo a ocupar, nos séculos XVII e XVIII, um lugar de alguma relevância no mundo atlântico, tanto em termos comerciais como políticos: influenciou a política da Igreja Católica Romana quanto às missões ultramarinas e participou das disputas entre Portugal e os Países Baixos. Mas foi o comércio de escravizados – moeda internacional – que permitiu sua entrada no mundo moderno, fez com que estivesse presente nas Américas e, junto com a diplomacia, que marcasse sua presença na Europa.
Aqui abro um parêntesis para fazer alguns esclarecimentos relativos à terminologia empregada para a abordagem do tema em questão. O primeiro diz respeito à minha opção pessoal em não utilizar o termo reino para designar o Congo, a despeito do uso corrente da noção na historiografia e no livro que agora trato, ou grafar Kongo, também opção predominante entre os estudiosos. A não utilização do termo reino diz respeito à tentativa de buscar entender aquela sociedade a partir de suas estruturas sociais específicas, que mesmo assemelhando-se aos reinos europeus, deles se distinguia. A segunda opção está de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa, em cujo alfabeto não há a letra o K. Como a utilização desta grafia liga-se à necessidade de distinguir a antiga formação social dos estados contemporâneos, opto por utilizar conguês, ou mesmo congo, quando me refiro aos habitantes do antigo Congo, e não congolês, termo associado aos morados dos atuais Congos, pois, para complicar ainda mais, hoje existem dois países africanos que assim se identificam: a República Democrática do Congo e a República do Congo, sendo que nenhum deles corresponde integralmente ao antigo Congo, localizado em sua maior parte no norte da atual Angola. Outra explicação diz respeito ao uso do termo cristianismo. Como não há uma justificativa explícita a respeito de por que Cécile Fromont optou pelo termo cristianismo, assim como John Thornton, podemos fazer duas suposições: pode ter sido para incluir a ação de missionários não católicos que atuaram na região a partir do século XIX, ou para indicar que a religião ali estabelecida não estava completamente de acordo com a doutrina católica romana. Nos meus trabalhos, que se referem todos aos séculos XVI, XVII e XVIII, sempre usei o termo catolicismo, uma vez que até então apenas missionários da Igreja Católica Romana atuaram na região.
O marco inaugural da integração do Congo ao mundo atlântico e ao universo europeu da época foi a chamada conversão do mani Congo ao cristianismo. Esse momento foi fixado em cartas escritas por D. Afonso Mbemba Nzinga. Em uma delas, enviada em 1514 a D. Manuel I, então rei de Portugal, ele narra a vitória que obteve sobre seu irmão, com a ajuda de um pequeno número de seguidores e de São Tiago, que durante a batalha apareceu no céu junto com uma cruz. Esta carta conta um episódio ocorrido sete anos antes e provavelmente teve como base a narrativa de como D. Afonso Henriques venceu os mouros na batalha de Ourique em 1139, dando origem ao reino de Portugal. Aprendiz aplicado dos missionários portugueses que eram enviados ao Congo, com quem aprendeu a ler e escrever, D. Afonso provavelmente se inspirou naquele episódio para construir sua versão da história da criação de um reino cristão sob sua égide. Seu governo consolidou a presença do cristianismo no Congo e estabeleceu as bases da organização política que vigoraria pelos séculos subsequentes.
A análise feita por Cécile Fromont no primeiro capítulo de seu livro, de uma aquarela do capuchinho Bernardino d’Asti, de cerca de 1750 e que integra seu manuscrito destinado a guiar o trabalho dos missionários no Congo, relaciona uma tradição anterior à adoção do cristianismo com esse episódio que inaugurou nova fase da história daquela sociedade. Na aquarela, um missionário, sentado em frente a uma pequena igreja, dá sua bênção a um chefe, ajoelhado à sua frente e trajado com as insígnias locais de poder, tendo ao seu lado uma grande cruz e atrás de si um grupo de músicos e homens armados que dançam com suas espadas levantadas e escudos empunhados. A legenda feita pelo autor da imagem identifica a cena como um missionário dando sua bênção ao mani – título dado aos chefes – durante um sangamento. A existência de sangamentos no Congo é anterior à chegada dos portugueses e no Congo cristão serviriam a dois propósitos: eram exercícios marciais e demonstrações de força por ocasião de uma declaração formal de guerra, e eram realizados em celebrações festivas de investidura, em desfiles diplomáticos e celebrações nos dias de festa do calendário cristão. Conforme a autora, novas coreografias, insígnias de poder e armas presentes nas danças refletiam as mudanças trazidas com a inserção do Congo nas redes diplomáticas, comerciais e religiosas do Atlântico. No seu entender, os sangamentos teriam sido espaços de correlação, nos quais a elite conguesa reinventou a natureza do seu mando no novo contexto. Seu simbolismo material e visual ilustraria como por meio deles os governantes criaram um novo discurso com a fusão de tradições centro-africanas e cristãs. Neles estaria presente a narrativa da criação do reino cristão após a batalha na qual D. Afonso saiu vitorioso sobre seu irmão.
Instruído desde cedo nos mitos de fundação do Congo, segundo os quais Nimi a Lukeni, vindo do norte e da outra margem do rio, teria conquistado a população local e inaugurado um novo tempo, assim como conhecedor dos princípios da religião católica e da história de Portugal, D. Afonso teria criado espaços de correlação nos quais não só o sangamento ritualizaria a fundação do reino cristão na mesma chave da fundação feita por Nimi a Lukeni, como a cruz, analisada com vagar no capítulo seguinte, seria alçada a importante símbolo de poder. Presente na narrativa de sua ascensão à chefia do Congo, no lacre de suas cartas, no brasão para ele criado em Portugal, Cécile Fromont acredita que o signo da cruz, que na América serviu à conquista, no Congo serviu para a implantação de um sistema político que permitiu sua entrada no quadro das relações internacionais atlânticas, graças à habilidade de D. Afonso em fundar um novo tempo articulando ideias europeias e centro-africanas.
Enriquecendo sua análise do sangamento retratado por Bernardino d’Asti, a autora introduz mais um elemento central na construção dos mitos fundadores de poderes políticos fortes ao explorar a imagem do rei ferreiro, presente em grande parte das histórias de fundação de sociedades centro-africanas. Nesses mitos, poder político e militar estão imbricados. A aquarela analisada expressaria uma segunda fundação do Congo cristão, mais de dois séculos depois do governo de D. Afonso, na qual também estaria presente o mito do rei ferreiro, registrado nas histórias orais coletadas no século XVIII por missionários. Àquela época, o ferro não estaria mais apenas nos braceletes e correntes que compunham a parafernália ligada ao signos de poder, mas também nas espadas, feitas de ferro, material ligado ao poder do chefe, mas que seguiam o padrão das espadas portuguesas do século XVI. As espadas apareciam, assim como as cruzes, nos lacres, brasões, estandartes e tronos do mani Congo, sendo outro atributo da nobreza europeia que se tornou parte integrante das insígnias de poder conguesas. Seriam mais um espaço de correlação no qual concepções europeias de cavalaria, de poder político e militar, fundiram-se com concepções centro-africanas que legitimavam o poder. Segundo a autora, as espadas que os dançadores levantavam no sangamento desenhado pelo capuchinho no século XVIII, referiam-se à história de D. Afonso, à luta que travou contra o irmão para conquistar o poder, e também ao significado do ferro na mitologia centro-africana. Para fortalecer sua argumentação, lembra que todas as espadas, das representações pictóricas, das escavações arqueológicas, das coletas feitas em tempos mais recentes, seguem o modelo das armas portuguesas do período manuelino, ou seja, do momento da conversão de D. Afonso ao catolicismo e de seu governo, que era assim rememorado. Até o século XX, as espadas de status, como são conhecidas, ligariam a elite que as carregava ao mito legitimador do seu mando.
Estendendo ainda mais a amplitude de sua análise, evoca os desenhos de Carlos Julião que representam a festa de rei negro e relaciona os sangamentos e as congadas brasileiras. Em análise semelhante à feita por mim há mais de quinze anos, ao comparar os desenhos de Carlos Julião, feitos no final do século XVIII, à aquarela de Bernardino d’Asti, afirma que para além da transmissão de objetos e rituais a festa de rei negro brasileira, ao articular elementos africanos e europeus, mostra uma significativa continuidade epistemológica através do Atlântico. No Congo, a elite combinou estrategicamente elementos locais e estrangeiros em um discurso de poder por meio do qual lidaram com as mudanças trazidas pela sua entrada nas redes comerciais, religiosas e políticas do mundo atlântico. Também na América emblemas e símbolos europeus foram usados como símbolos de uma identidade coletiva e instrumentos de expressão social.
O segundo capítulo do livro trata do símbolo da cruz, tema que aparece em muitos trabalhos sobre as culturas centro-africanas e afro-americanas a partir da divulgação da explicação de Fu-Kiau Busenki-Lumanisa sobre o lugar que ocupa nos sistemas de pensamento bacongo, feita principalmente por Robert Farris Thompson e Wyatt MacGaffey. Uma outra aquarela de Bernardino d’Asti, na qual um rito fúnebre é feito ao pé de uma grande cruz, serve como ponto de partida de sua análise. A presença da cruz em uma variedade de objetos relacionados às tradições locais e ao cristianismo congo confirma a centralidade desse símbolo tanto no pensamento local quanto nos processos de construção de novas ideias e relações. Isto a torna especialmente rica para uma abordagem a partir da noção de espaços de correlação, sendo cruzes e crucifixos signos para os quais convergiam significados religiosos centro-africanos e católicos, no que Cécile Fromont chamou de diálogo de devoções, de discursos de poder e de cosmologias.
O signo da cruz esteve presente com destaque nos momentos inaugurais da introdução do cristianismo no Congo: no batismo de Nzinga Kuwu, pai de D. Afonso, na visão que este teve durante a disputa pelo poder, no brasão e estandartes enviados pelo monarca português, que assim guiava o mani Congo no caminho de sua inserção no rol de reis cristão da época. Com a disseminação do cristianismo entre a elite conguesa, crucifixos tornaram-se comuns, e altamente cobiçada a obtenção do hábito da Ordem de Cristo, que trazia uma cruz de malta das costas. Como mostra a autora, a cruz foi um agente de comunicação entre as diferentes culturas, foi um chão comum que permitiu o diálogo entre europeus e centro-africanos. Presente em inscrições funerárias, nos cultos de uma sociedade secreta composta pelos filhos da elite chamada kimpasi, na qual eram praticados ritos de iniciação por meio dos quais os adeptos morriam e ressuscitavam, para os centro-africanos a cruz remete à relação entre os vivos e os mortos, ao ciclo completo da existência, que inclui o mundo dos homens, e o dos espíritos e ancestrais. Símbolo maior da morte de Cristo, também para os cristãos a cruz liga-se à morte e à ressureição. Era, portanto, um espaço de correlação privilegiado, entre a África e a Europa, entre a vida e a morte.
A introdução de objetos religiosos católicos em grande quantidade desde o século XVI, forneceu padrões para o desenvolvimento de uma produção local de imagens religiosas, santos e principalmente crucifixos. Mas se os objetos europeus forneceram o paradigma para o crucifixo congo, este expressava ideias centro-africanas, nas figuras ancilares a ele adicionadas, nos desenhos geométricos gravados nas suas bordas. Conforme Cécile Fromont, como um espaço de correlação, a cruz expressava uma nova visão de mundo na qual encontravam-se e misturavam-se signos locais e estrangeiros. Para ela, as centenas de crucifixos existentes, de tamanhos variados, constituíram uma sintaxe visual e religiosa, um conjunto coerente de objetos com uma iconografia consistente criada a partir do crucifixo católico e da cruz congo.
Para a autora, a iconografia dos crucifixos congo não é inteiramente decifrável, mas parece claro ser a acumulação recurso central na sua composição. Ao crucifixo cristão tradicional foram frequentemente acrescidas figuras sentadas nos braços da cruz, e no seu eixo vertical, acima e embaixo da figura que representa o Cristo, aparecem nossas senhoras, anjos, pessoas ajoelhadas de mãos postas. Além das marcas estéticas próprias da região presentes na representação de Cristo, as bordas com incisões são por ela associadas a ritos fúnebres da elite, quando os corpos eram envolvidos em panos com padrões decorativos semelhantes. No seu entender, essas bordas delimitam o espaço reservado aos mortos: Cristo, Nossa Senhora e os anjos, enquanto as figuras sentadas nos braços da cruz conectariam os dois mundos, na medida que seus corpos estariam parte fora e parte dentro desse limite. A ideia de ultrapassar fronteiras e a inter-relação entre os dois ambientes estaria de acordo com o significado maior do crucifixo – sendo a cruz representação do ponto preciso no qual as esferas da vida e da morte se conectam -, e as figuras ancilares dariam forma às noções abstratas de permeabilidade entre este e o outro mundo. Ao término de sua complexa e instigante análise dos crucifixos e da cruz, Cécile Fromont reafirma sua posição quanto ao cristianismo ter tido um desenvolvimento próprio na África centro-ocidental, não sendo resultado de um proselitismo violento ou de uma resistência a influências de fora, e sim de um processo de inclusão e reinvenção em uma situação de encontros culturais.
Atraída pela originalidade dos crucifixos congos, também eu ensaiei uma interpretação do que Cécile Fromont chama de figuras ancilares, baseando-me em análise feita por Anne Hilton sobre o processo de introdução do catolicismo no Congo, no qual símbolos cristãos foram reinterpretados a partir da cosmogonia local. No meu entender essas figuras sentadas nos braços da cruz seriam representações de bisimbi, entidades ligadas ao mundo natural, que tinham um lugar na legitimação do poder dos chefes. À época entendi esses crucifixos como a expressão material da criação de novas formas de representar o poder com a incorporação do catolicismo ao pensamento local, o que, nos termos propostos por Fromont seria um espaço de convergência.
O terceiro capítulo de seu livro trata de tema que penso ser inédito nos estudos sobre o Congo: a análise da indumentária da elite. Mais uma vez, parte das aquarelas de Bernardino d’Asti. Volta à que retrata um sangamento, e introduz outras, como o casamento de um chefe e o encontro entre a comitiva de um missionário com a do mani Soyo, e analisa elementos da vestimenta ali retratados, que aparecerão em outras imagens, estas do século XVII, como o busto de D. Antonio Manuel ne Vunda existente na igreja Santa Maria Maggiore em Roma, e retratos de embaixadores enviados pelo mani Soyo a Mauricio de Nassau, no Recife, feitos por Albert Eckhout. Com base nessa iconografia descreve a roupa padrão de um homem da elite conguesa: uma canga de tecido amarrada na cintura, na qual também está amarrada uma faixa vermelha e da qual pode pender uma pele de animal, uma rede que veste o tronco – nkutu -, um tecido jogado sobre um dos ombros, uma capa usada pelos chefes, assim como o mpu – um gorro alto -, correntes com crucifixos e colares de contas. Os desenhos de Eckhout, localizados em uma biblioteca da Cracóvia, retratam com minúcia as vestimentas dos três embaixadores e dos dois jovens que os acompanharam na missão junto a Mauricio de Nassau, pintados também por Beckx, com as roupas holandesas que lhes foram ofertadas no Recife.
Os desejados produtos europeus, como tecidos xadrez de azul e branco que eram sinais de distinção, eram trocados por escravos, e o comércio de gente foi um fator importante para a instabilidade do Congo e para a competição entre os chefes. É nesse contexto que o Congo buscou estreitar relações com os Países Baixos e com Roma, tentando se fortalecer frente às investidas ibéricas contra o sul do seu território. Se no início do século XVII o mani Congo enviou D. Antonio Manuel ne Vunda em uma embaixada a Roma, por meio da qual buscava neutralizar a autoridade do padroado português, em meados do mesmo século o mani Soyo procurou o apoio dos holandeses contra a pressão que os portugueses exerciam a partir de Angola, assim como aliança em suas disputas com o mani Congo. Nada desse contexto escapa à análise de Cécile Fromont, que ao interpretar elementos da cultura material e visual do Congo, e também as representações europeias sobre ele, torna evidente que àquela época o reino africano cristão estava inserido no jogo político internacional.
Se sob o governo de D. Afonso, no início do século XVI, o cristianismo serviu à sustentação de seu poder, no século XVII, estavam ainda mais consolidadas as relações entre riqueza, prestígio, cristianismo e poder político, o que a autora demonstra articulando o contexto histórico com a análise das representações visuais, como as imagens de santos feitas no Congo, nas quais eles estão vestidos à moda da elite local. Da mesma forma, o lugar de destaque que o Congo ocupava na Europa devido ao comércio de escravizados e também por ser reconhecido como um reino cristão é percebido por meio da presença das insígnias de poder conguesas, como o mpu e a indumentária, em obras de arte europeias do início do século XVII. Para Cécile Fromont, as imagens da elite do Congo, mesmo que por poucas décadas, funcionou nos círculos missionários europeus como uma metáfora da expansão da Igreja católica na África e no mundo. Quanto ao Congo, o processo de incorporação de elementos visuais europeus às insígnias de poder conguesas iniciado com a introdução do cristianismo, continuava mesmo em momento de menor presença de missionários europeus em atividade na região, pois os mestres e catequistas por eles formados mantinham vivos os ensinamentos cristãos e seus bastões, insígnia tradicional de autoridade que adotava modelos lusitanos, sendo encimados por cruzes, bulbos, imagens de santos e mesmo moedas portuguesas.
No quarto capítulo, são analisadas as construções e a ocupação de espaços, e além das maneiras como a elite lidou com o cristianismo aborda como este esteve presente na vida da gente comum, que frequentava os cultos nas igrejas, que convivia com as cruzes monumentais espalhadas pelo território e assim se relacionava com as manifestações visuais das ideias míticas e religiosas que sustentavam a organização política do Congo. Para a autora, as cruzes presentes em todo o território celebravam e relembravam a vitória de Afonso sobre seus oponentes e a subsequente conversão do reino ao cristianismo. Nos primeiros tempos da era cristã, o levantamento de cruzes monumentais teria se tornado um gesto característico do mando e, além dos significados associados ao cristianismo, ligava-se também às crenças relativas à circulação entre a vida e a morte, às articulações entre o mundo visível e o invisível.
A relação com os mortos, tão importante para que a existência dos vivos transcorresse bem, acontecia também nos cemitérios, sobre os quais muitas vezes foram construídas igrejas, que se tornaram locais de culto aos ancestrais, especialmente da elite. Dessa forma, a redefinição de cemitérios, que cederam espaço para igrejas cristãs, é parte da reformulação operada pela elite no processo de imposição do cristianismo para a massa da população. Mais um espaço de correlação detectado por Cécile Fromont, essa reformulação trouxe os ancestrais para os limites espaciais da nova religião, e dotou o novo edifício com a sua presença venerável. Essa prática espalhou-se por todo o território e no século XVII era norma que a elite fosse enterrada nas igrejas ou próximo a elas. Mais uma vez recorrendo a fontes escritas e relacionando-as com as descrições de túmulos, a autora fornece grande quantidade de dados que fundamentam seu argumento relativo a como cemitérios e igrejas foram espaços de correlação que articularam poder político, cristianismo e devoção aos ancestrais.
Mas ao lado das novas práticas, ritos e crenças que constituíram o cristianismo congo, houve também a adoção de alguns de seus elementos sem a alteração das práticas tradicionais, como no caso dos kimpasi, que adotaram em seus ritos altares semelhantes aos das igrejas, sem se integrarem ao cristianismo congo. Além dessas situações nas quais as práticas não foram transformadas apesar da adoção de algum elemento estrangeiro, a autora entende que na periferia do discurso congo cristão promovido e adotado pela elite como uma narrativa que legitimava seu poder, algumas vezes emergiram outras correlações de formas visuais e pensamento centro-africanos, cristãos e congo cristão. O exemplo mais conhecido é o movimento antoniano, que desafiou a narrativa congo cristã dominante. Liderado por uma jovem oriunda da elite conguesa, iniciada em rituais não cristãos e também educada nas normas cristãs, foi um movimento que emergiu durante uma guerra civil na qual diferentes linhagens disputaram o poder. Utilizando a linguagem cristã, ela criou um discurso original, segundo o qual morria toda sexta-feira, quando tinha encontros com Santo Antônio e Deus, e renascia a seguir trazendo a mensagem do mundo do além. O combate à cruz, símbolo maior do catolicismo congo articulado ao poder político, era o carro chefe de sua pregação, assim como a unificação do Congo e o fim das guerras internas. Buscou apoio de diferentes pretendentes ao trono, mas as alianças que obteve foram rompidas diante da sua insistência para que as cruzes fossem destruídas. Kimpa Vita, a jovem líder do movimento antoniano, acabou queimada a mando dos capuchinhos. O antonianismo não rejeitou o cristianismo, mas propôs uma hermenêutica alternativa dos seus princípios. Com esse exemplo, a autora reafirma o seu papel central na vida religiosa, política e social do Congo entre os séculos XVI e XVIII, mas também a existência de formas do cristianismo congo que não foram aceitas pelos poderes instituídos, tanto locais quanto dos missionários católicos.
No quinto capítulo, Fromont mostra como, no contexto da partilha e ocupação colonial, o que no passado havia sido visto como um reino cosmopolita passou a ser considerado “o coração das trevas”, terra de povos primitivos e canibais. O aparato ideológico colonial trabalhou no sentido de destruir as estruturas remanescentes do Congo cristão e obscurecer sua memória. Entretanto, antigos símbolos e histórias legitimadores do poder continuaram a sustentar os chefes e, apesar dos tratados de vassalagem com Portugal, o Congo permaneceu independente até 1910. A presença no século XIX de grupos identificados como “gente da igreja”, constituídos por comunidades que viviam na periferia das cidades, especialmente de Mbanza Soyo e Mbanza Kongo, e clamavam descender dos “escravos da igreja”, que serviam os missionários, confirma a continuidade das práticas do cristianismo congo. Viajantes que percorreram a região naquele século encontraram igrejas em uso, com uma grande quantidade de objetos litúrgicos e imagens de santos, cuidadas pela gente da igreja, quando a presença de missionários era rara e esporádica. É interessante que muitos desses objetos e imagens eram de confecção brasileira, o que indica a estreita conexão entre as duas regiões, em momento no qual o comércio de escravizados ainda vigorava.
Nos séculos XIX e XX, com os avanços da colonização, espaços de correlação continuaram a ser criados. Exemplos deles são as presas de marfim esculpidas feitas em Loango, e os minkisi minkondi, figuras antropomorfas protetoras dos caçadores nas quais lâminas e pregos eram enterrados e sobre os quais não há notícia anterior ao final do século XVIII. De acordo com o mesmo processo identificado desde o momento inicial de introdução do cristianismo na região, a autora entende que as novas formas e imaginária, ao incorporar símbolos e materiais estrangeiros, ampliavam a visão de mundo das populações nativas e permitiam que atribuíssem sentidos e participassem do mundo colonial em formação. Nesse novo contexto, também o sangamento ainda era feito, mesmo que entendido pelos colonizadores como manifestação folclórica.
A força do universo visual, cultural e espiritual do Congo cristão viajou para a América e, além de estar presente nas congadas, apareceu na vestimenta de um negro trajado como a elite conguesa fotografado em 1865, no Rio de Janeiro, por Cristiano Junior. A fotografia mostra que escravizados que participaram dos espaços de correlação na África centro ocidental deram continuidade a este processo entre seus descendentes, extraindo daí força espiritual e política. Incluindo em sua análise a América, mesmo que tangencialmente, e a Europa, a autora mostra que “o cristianismo congo é mais do que uma ocorrência histórica singular restrita a uma parte definida do continente africano”, sendo um fenômeno cuja influência repercutiu através do Atlântico.
Chegamos ao fim da leitura com a certeza de que estamos diante de um livro que nasce clássico, no sentido de ser indispensável para os estudos acerca do antigo Congo, onde o cristianismo passou a ser parte integrante de sua organização política e de seu universo mental desde os primeiros contatos com os portugueses, no final do século XV. O livro de Cécile Fromont coloca-a entre os maiores especialistas do assunto, e todos que estudam o Congo cristão só podem agradecer a sua contribuição.
Marina de Mello e Souza – Professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E-mail: marinamsouza@usp.br.
Spinoza and Medieval Jewish Philosophy – NADLER (CE)
NADLER, Steven (Ed.). Spinoza and Medieval Jewish Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Resenha de: DAVID, Antônio. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.35, Jul./Dez., 2016.
Vem em boa hora a coletânea de artigos editada pelo renomado historiador da filosofia Steven Nadler e publicada pela Cambridge University Press . Não porque se trate de empreendimento novo – e aqui convém reconhecer o mérito da historiografia da filosofia de língua inglesa, que tem se dedicado ao assunto com grande afinco. O próprio organizador, especialista em filósofos da chamada primeira época moderna, é autor de outros títulos dedicados à relação entre a filosofia judaica e Espinosa.
É exatamente o estatuto dessa relação que precisa ser examinado, razão pela qual Spinoza and Medieval Jewish Philosophy merece ser lido. Ainda que as respostas oferecidas no livro sejam questionáveis, é meritório o esforço em pensar sobre uma relação que, sob todos os ângulos, é tensa.
Espinosa pode ser considerado um “filósofo judeu”? Nadler é taxativo:
Não se pode negar que textos, história e pensamento judaicos continuam a cumprir um papel importante no pensamento de Espinosa – de tal forma que Espinosa pode com justiça ser considerado um filósofo judeu, seja porque suas ideias revelam um forte compromisso com a filosofia judaica que o precedeu, seja porque em suas principais obras ele filosofou sobre judaísmo (Nadler, 2014, p. 3-4).
Não obstante as duas razões oferecidas por Nadler procedam, elas não parecem ser suficientes para encerrar a questão. Aliás, a questão pouco nos interessa. Mais interessante e profícuo do que perguntar sobre a identidade judaica da filosofia de Espinosa – questão que nunca cessará de gerar polêmica, uma vez que envolve a identidade judaica do próprio Espinosa –, é perguntar sobre a maneira específica pela qual a filosofia deste autor lida com conceitos e ideias próprios da ou assimilados pela filosofia judaica e, consequentemente, do judaísmo, para forjar sua própria filosofia.
Nesse sentido, a coletânea traz uma grande contribuição. Ela ajuda a ampliar o escopo de interpretação da obra de um dos mais importantes nomes da filosofia, interpretação essa que tem sido bastante exitosa em estabelecer os laços que unem Espinosa à modernidade (são inúmeros os trabalhos que comparam Espinosa com Maquiavel, Hobbes, Descartes e Leibniz) e que já deu passos importantes no estabelecimento da crítica de Espinosa às tradições antigas e cristãs, tanto medievais como modernas1
Que Espinosa tenha debruçado-se sobre o judaísmo, não é novidade. Estabelecida no Tratado teológico-político, essa leitura contém teses e argumentos que lhe renderam severas acusações, em particular talvez a tese de que a natureza dos hebreus amparava-se pela piedade para com a própria pátria e no ódio para com outras nações (Spinosa, 1997, p. 371) . Poliakov, por exemplo, dirá que a obra de Espinosa expressaria um “anti- semitismo virulento” (Poliakov, 1996, p. 23) .
Em contrapartida, o forte compromisso para com a filosofia judaica é menos evidente à primeira vista, inclusive por estar como que disseminado na obra, presente não só naquelas passagens em que Espinosa examina práticas e história judaicas. É notório e belo o exemplo de uma das últimas proposições que fecham sua mais importante obra, e também a mais conhecida: “Disso inteligimos claramente em que coisa consiste nossa salvação ou felicidade ou Liberdade: no Amor constante e eterno a Deus, ou seja, no Amor de Deus aos homens. E não é sem razão que este Amor ou felicidade é chamado Glória nos códices Sagrados” (Espinosa, 2015, e v, p 37 . Esc.) 2 .
A obra de Espinosa está impregnada de filosofia judaica – o que não necessariamente significa estar ela impregnada de filosofia exclusivamente judaica, uma vez que, como dissemos anteriormente, os conceitos, teses e argumentos transitaram na rica interlocução entre diferentes tradições. Os autores foram felizes em expressar esse diálogo, sobretudo em se tratando de filósofos judeus e árabes, com especial destaque para os excelentes artigos de Charles Manekin e Julie R. Klein.
O livro possui muitos méritos, dos quais o maior mérito reside no exame dos conceitos e sua “passagem” entre Espinosa e seus interlocutores judeus. Só pela enorme quantidade de citações da Ética demonstra-se que a presença do judaísmo em Espinosa transborda e muito o escopo do Tratado teológico-político, chegando ao núcleo de sua filosofia.
Vemos dois pontos francos no resultado final da proposta, sendo um na coletânea e outro nos artigos. A coletânea concentrou-se demasiadamente, quase exclusivamente, na recepção de determinados filósofos na obra de Espinosa, como Gersonides, Crescas e, com especial ênfase, Maimônides – o que é reconhecido pelo organizador, na Introdução. Com isso, ela deixou de lado dois campos de interlocução extremamente importantes para a compreensão da obra de Espinosa: de um lado, seus contemporâneos na comunidade de Amsterdam; de outro, as tradições místicas judaicas.
Em relação aos artigos, a despeito de seu mérito, percebemos certa inclinação nos autores em procurar estabelecer débitos demasiado diretos e mecânicos de Espinosa para com este ou aquele filósofo. Jacob Adler, por exemplo, após constatar a similaridade entre certa tese de Espinosa e Alexandre de Afrodísias, conclui: “tal pormenor fornece a mais forte evidência de que Espinosa estava seguindo Alexandre” (ibidem, p. 25) . T. M. Rudavsky, por sua vez, argumenta que Espinosa “segue a sugestão de Ibn Ezra’s de que Moisés não teria escrito toda a Torá” (ibidem, p. 86). Já Warren Zev Harvey, numa controversa interpretação de Espinosa, conclui: “ao atribuir alegria e amor intelectual a Deus, Espinosa faz companhia a Maimônides, e segue Avicena e Gersonides”. Na sequência, este mesmo autor afirma: “ao sustentar que o autoconhecimento de Deus implica em Seu conhecimento de todas as coisas, Espinosa segue a interpretação de Aristóteles do Timeu, presente em Metafísica, XII 7 e 9” (ibidem, p. 114 – 115). Fiquemos nestes três exemplos.
Em certo sentido, todo filósofo segue outros que o precederam. Mas este é um sentido fraco, que designa apenas e tão somente o fato de haver interlocução entre os filósofos. Os autores, no entanto, procuraram muitas vezes estabelecer laços fortes entre Espinosa e seus interlocutores, como se certo conceito, certa tese ou certo argumento presente na obra de Espinosa já figurasse nesse ou naquele autor. Ao proceder dessa forma, o intérprete corre o risco de perder de vista o sentido da presença do conceito, da tese ou do argumento no interior da obra daquele que a recebeu. Ao se estabelecer recepções e linhagens, há que se tomar cuidado.
Quanto a isso, estamos de acordo com Nadler, quando este afirma que a filosofia de Espinosa “assimila, transforma e subverte um projeto antigo e religioso” (ibidem, p.2). A este projeto, acrescentaríamos outras tradições e correntes, como a filosofia de Aristóteles, o estoicismo e as filosofias de Hobbes e Descartes. Espinosa segue Gersonides, Maimônides, Crescas e outros, tanto quanto Hobbes, Descartes e Maquiavel, mas sob o preço de subvertê-los.
A despeito destes dois pontos, ressaltamos que o conjunto da coletânea compreende artigos escritos com rigor e erudição. Esperamos que sua publicação encoraje os espinosistas fora do mundo anglófono a engajar-se mais no estudo da presença da filosofia judaica em Espinosa.
Notas
1 A coletânea contém dez artigos. Para um resumo de cada um dos artigos, cf. Nadler, 2014, p.8-12.
2 Essa passagem foi abordada na coletânea por Warren Zev Harvey (Nadler, 2014, p.115), Kenneth Seeskin (Ibidem, p.122) e Julie R. Klein (Ibidem, p.210).
Referências
NADLER, s. (Ed.) (2014), Spinoza and Medieval Jewish Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
POLIAKOV, l . (1996) De Maomé aos Marranos. História do Anti-semitismo II, São Paulo: Perspectiva.
SPINOSA, b . (1997) Tratado teológico-político, Barcelona: Altaya.
ESPINOSA, b . (2015) Ética, São Paulo: Edusp, 2015.
Antônio David – Doutorando Universidade de São Paulo. E-mail: mdsf.antonio@gmail.com
Iberoamérica y España antes de las Independencias, 1700-1820. Crecimiento, reformas y crisis | Jorge Gelman, Enrique Llopis e Carlos Marichal
Algunas veces las obras colectivas resultan en una suma de textos escasamente cohesionados en torno a un período, un espacio geográfico o un tema genérico que apenas logran disimular la carencia de objetivos metodológicos y hipótesis estructurantes en torno a las cuales hacer un aporte al avance del conocimiento. El libro en comento no corresponde a este tipo de publicaciones, ya que define con claridad el ámbito temático en que se inscriben sus ensayos. Por un lado, sus textos dan cuenta del estado de las economías de Iberoamérica y España, en su amplia heterogeneidad, en vísperas de las independencias nacionales. Por otro, revisitan la noción de que las reformas administrativas introducidas por las monarquías de España y Portugal a mediados del siglo XVIII impulsaron un prolongado período de expansión económica, tanto en las metrópolis como en sus colonias, que comenzó a declinar al comienzo de la última década de la centuria hasta llegar a una crisis que, en gran medida, explicaría el colapso del orden colonial. Como dicha noción, admitida a partir de los aportes de John Lynch, es en extremo general, la obra se encarga de contrastarla con distintas realidades americanas y metropolitanas para, según corresponda, confirmarla, descartarla o matizarla.
Para el caso del Río de la Plata Jorge Gelman y María Inés Moraes muestran que, en efecto, desde la década de 1760 se registra un ciclo de expansión articulado por el flujo de plata altoperuana hacia el Atlántico. Aunque este circuito comienza a declinar junto con el inicio de la crisis del orden colonial, la economía en su conjunto logró mantenerse estable gracias al fortalecimiento del intercambio entre Buenos Aires y las regiones interiores y, simultáneamente, al desarrollo de la ganadería en las provincias, que dio lugar a una fase de exportación de carne y cueros que se prolonga hasta el período nacional.
Sobre el desempeño del virreinato peruano, Carlos Contreras da cuenta de todas las aristas que impiden tener una noción precisa que explique la casi triplicación del PIB a lo largo del siglo XVIII. Además de la separación del Alto Perú, que le restó su principal fuente de recursos mineros, los indicadores demográficos, agrícolas y fiscales apuntan a una expansión sólo imputable al fortalecimiento de las economías regionales, el intercambio comercial entre ellas y la incorporación de un significativo contingente de indígenas a la población asalariada. Lo anterior permitió resolver la falta de mano de obra en la minería e incrementar la recaudación virreinal a través del tributo.
Menos variables en juego tiene el Virreinato de Nueva Granada, el que a partir de los datos de sus Cajas Reales, entre 1761 y 1800, Adolfo Meisel caracteriza como una economía rudimentaria, basada en el tránsito aurífero a través del río Magdalena, la ganadería en la provincia de Santa Marta y el mantenimiento de las fortalezas de Cartagena de Indias con los aportes del situado de Quito y Bogotá. El período examinado muestra un crecimiento del producto de 1,6% anual en promedio, cifra muy cercana a su ritmo de crecimiento demográfico, lo que da cuenta de una economía muy precaria, al borde de la subsistencia y sobre la que tuvieron muy pocos efectos las reformas administrativas de mediados del siglo XVIII.
Para el caso cubano José Antonio Piqueras describe una situación que resulta por completo ajena a las reformas borbónicas y sus consecuencias. Teniendo al azúcar como base de su economía, durante el siglo XVIII su consumo aumentó de forma extraordinaria en el mundo, aunque el ritmo de producción en Cuba fue inferior al de otras regiones competidoras, ya que hasta la última década de la centuria se mantuvo aferrada a los métodos tradicionales. No obstante estas limitaciones, el autor constata que la economía de la isla creció sostenidamente y, más aun, que dicha expansión coincide con las distintas guerras internacionales, pues, estando comprometida directamente o no en cada conflicto la Corona española, aportó recursos adicionales para reforzar el aparato militar de la Gobernación (“diluvio de plata”); otras regiones productoras, como las Antillas y Barbados, fueron escenario de enfrentamientos por lo que Cuba ocupó su lugar en el abastecimiento del comercio mundial de azúcar; y porque la apertura del intercambio con países neutrales, durante los conflictos de España con Francia e Inglaterra, en la práctica permitieron al azúcar cubano acceder al mercado de las trece colonias rebeldes, un consumidor seguro y generoso.
Sobre México la recopilación aporta dos estudios que contribuyen a, por lo menos, matizar la visión pesimista que impera sobre el desempeño de su economía durante las últimas dos décadas virreinales. Luis Jáuregui y Carlos Marichal ofrecen una visión panorámica de la economía novohispana entre 1760 y 1810 a partir de tres indicadores: la acuñación de monedas de plata, el comportamiento del comercio exterior y el del comercio interno, estos últimos dimensionados por su aporte tributario a las arcas virreinales. Los autores comienzan constatando que entre 1770 y 1810 la acuñación de pesos de plata creció a un ritmo oscilante entre el 1 y el 1,4% y que sus pulsaciones respondieron a la disposición de azogue (mercurio) antes que a otros factores sensibles para una actividad que, estimulada por las reformas de la década de 1760, arrastraba a los demás sectores productivos con su demanda por bienes y servicios.
Aunque el impacto del aumento en la producción de monedas de plata fue limitado para el comercio interno, ya que no se acuñaban monedas divisionarias, este creció a lo largo del período impulsado por el crecimiento de la población urbana que, además de alimentos, demandaba manufacturas y bienes artesanales de elaboración local. Mientras que el comercio exterior, animado por la liberalización de 1789, también marcó una tendencia ascendente.
Sin embargo, la noción común apunta a que la economía novohispana finicolonial experimentó una severa recesión y crisis demográfica, que en gran medida provocaron la disolución del vínculo con la metrópoli europea. Ernest Sánchez Santiró discute esta afirmación señalando que se trata de impresiones subjetivas del período 1815-1820, cuando las guerras de independencia sí habían afectado al aparato productivo, lo que llevó a muchos contemporáneos a formarse una impresión negativa de las décadas anteriores.
En base a las cuentas fiscales y a criterios metodológicos, el autor matiza y desmiente varios de estos supuestos. Sobre la disminución de la población, del orden de las 250 a 500 mil personas, asegura que más bien se trató del despoblamiento de los principales núcleos urbanos, personas que huyeron de los enfrentamientos hacia sectores rurales. En cuanto a la caída de la producción minera, estimada por algunos en torno al 50%, señala que esta es una apreciación fundada a una baja en la acuñación de plata, pero si se considera que los ingresos de los estancos del azogue y la pólvora no muestran fluctuaciones significativas, estaríamos en presencia de un contrabando masivo de metal en bruto. Sobre la caída superior al 40% del comercio exterior para la década de 1810, señala que ella corresponde a las cifras que entrega el Consulado de Veracruz y que dan cuenta de la situación del hasta entonces principal puerto de intercambio con Europa. Pero que si se considera el incremento de la actividad de los puertos menores, tenemos que el flujo mercantil no disminuye sino que cambia de dirección, imponiéndose el comercio hacia otras regiones.
Resulta interesante el hecho de que todos los diagnósticos pesimistas sobre el desempeño de la economía mexicana del crepúsculo colonial conviven con la constatación de un aumento en la recaudación fiscal. Sánchez Santiró explica esta aparente paradoja con una lista de nuevos impuestos, contribuciones forzosas y alzas tributarias que, junto con resolver esta contradicción, da a entender porque la temprana república mexicana emprendió un camino liberalizador de facto.
En relación a Brasil, el libro incluye dos estudios que permiten comparar la evolución histórica de las colonias españolas con las lusas en Américas, teniendo como referencias que ambas monarquías emprendieron procesos de reformas administrativas que apuntaban a impulsar el desarrollo económico. En el primero de estos ensayos, Angelo Alves Carrara se propone evaluar el resultado de las reformas pombalinas, introducidas en la década de 1750, en el escenario de una economía que llevaba más de sesenta años de expansión minera, pero que sus centros productivos en Minas Gerais no habían logrado estimular el desenvolvimiento y la diversificación productiva en las demás provincias. Esto porque la propiedad de los yacimientos estaba en extremo concentrada y empleaba muy poca mano de obra, de preferencia esclava, lo que representaba escasos incentivos para la agricultura y la ganadería.
Si algún cambio debe la economía brasilera al ciclo minero es el haber propiciado que Río de Janeiro desplazara a Salvador como principal núcleo portuario y comercial de la Capitanía, consagrado por el traslado de la corte hasta la ciudad carioca en 1763. La demanda urbana de la novel capital sí logró incentivar el desarrollo de las economías regionales y con ello a otras actividades de exportación, como el algodón y el café, que diversificaron la base de exportación y lograron la ocupación efectiva de regiones interiores. Sin embargo, el autor atribuye este fenómeno al aumento de la demanda europea por dichos productos, más que a las medidas diseñadas por el marqués de Pombal, cuyo único mérito sería haber logrado afinar el aparato de recaudación fiscal.
Luego, un interesante artículo de Joao Fragoso dedicado a entender por qué ni el ciclo de exportaciones mineras ni luego las reformas pombalinas lograron modernizar la economía brasilera, ya sea a través de la formación de una clase burguesa que liderara una necesaria transformación de la relaciones sociales e invirtiera sus utilidades en mejorar los procesos productivos, o de políticas concretas que facilitaran a la economía brasilera superar la fase preindustrial. Tal atraso es atribuido por el autor a la permanencia de una “sociedad regida por los muertos”, heredada del ciclo azucarero y que sobrevivió en el tiempo como consecuencia de la persistencia de un afán de nobleza que poco aportaba para el inicio de una transición hacia el Capitalismo. De esta forma, la organización social de la plantación de azúcar, basada en la esclavitud y métodos productivos primitivos, continuó vigente durante todo el ciclo de expansión minera. Entonces, la continuidad de la costumbre de legar parte importante de las fortunas, ya sea a través de donaciones, censos y capellanías, en la práctica dejó un limitado volumen de capital para reinvertir en la producción. Mientras que la permanencia de un régimen laboral esclavista impidió la formación de un mercado de consumo que se constituyera en una demanda interna significativa, al mismo tiempo que encadenaba las exportaciones brasileras al circuito imperial portugués formado por Lisboa – Río de Janeiro – Luanda – Goa, mediante el cual las utilidades de las exportaciones terminaban pagando el consumo de bienes suntuarios y la compra de esclavos.
Al final del ensayo, el autor señala que un indicador importante para establecer el perfil de una estructura económica radica en identificar cuál es el principal agente que controla el mercado del crédito. En el caso brasilero, hacia 1740, este actor sería el comercio esclavista y la propia Iglesia, más preocupados en perpetuar el sistema “esclavista católico” que de impulsar transformaciones de tipo capitalistas y burguesas.
Sobre la situación de España en la segunda mitad del siglo XVIII, Enrique Llopis analiza su comportamiento demográfico y económico constatando que su población creció a un promedio anual del 0,4%, inferior al 0,52 europeo, y que las provincias de Cataluña y Murcia fueron donde este incremento se dio con mayor intensidad. Esto, por el dinamismo del sector manufacturero que contrasta con el moderado desempeño de la agricultura y la ganadería predominantes en las regiones interiores y meridionales. El general, todos los sectores económicos mostraron una tendencia al alza, destacándose los sectores agrícolas que modernizaron sus métodos productivos y comenzaron a requerir menos mano de obra. Lo anterior se reflejó en un acelerado crecimiento de la población urbana, lo que redundó en una caída salarial y en altos niveles de marginalidad.
Luego, el autor constata que, hasta 1790, la economía española creció moderadamente. Pero, a partir de entonces y como consecuencia de la Revolución Francesa, enfrentó una severa recesión, agravada por una seguidilla de epidemias, convulsiones sociales y guerras que terminaron por provocar un descenso demográfico cercano al 15%. Curiosamente, durante el mismo período se registró un alza en la recaudación fiscal (25% promedio anual), gracias a la continuidad, y a veces aumento, del aporte americano y a la introducción de impuestos directos sobre las actividades productivas y el comercio. Como es bien sabido, estos recursos no fueron destinados a revertir el ciclo económico sino que fueron invertidos en el financiamiento de la política exterior imperial.
Se complementa el trabajo de Llopis con el artículo de Pedro Tedde de Lorca, dedicado a examinar la política financiera ilustrada entre 1760 y 1808. Para Carlos III el manejo de estas variables debía tener como objetivo estimular la producción de bienes y servicios, para luego la Corona extraer sus ingresos gravando al comercio y el tráfico de caudales. Además, debía llevar a cabo el anhelo planteado en 1749 por su tío Fernando VI, en orden a dejar atrás el antiguo régimen de castas y privilegios, introduciendo un sistema tributario universal y proporcional a las rentas. Sin una fórmula política para alcanzar tal objetivo y con la permanente necesidad de financiar las guerras internacionales en que se comprometió para proteger su monopolio comercial, la monarquía borbónica continuó recurriendo a las remesas de las Indias y a un creciente endeudamiento, configurando una ecuación que, de forma creciente e irremediable, arrojó números negativos.
El último ensayo de la recopilación en comento, de Rafael Dobado y Héctor García, está dedicado a perfilar el bienestar biológico de la América borbónica, y hacer una comparación internacional en base a salarios y estaturas. El estudio arranca constatando que en la América borbónica el trabajo asalariado estuvo mucho más extendido que lo que comúnmente se ha supuesto, lo que permite los cálculos sobre ingreso y desigualdad que los autores presentan. Luego y a partir de algunos ajustes metodológicos, sus resultados apuntan a señalar que en comparación con las principales ciudades europeas, durante la segunda mitad del siglo XVIII, América española tuvo un nivel de salarios más alto. El análisis presentado no se basa en el ingreso nominal, sino que en la cantidad de ciertos productos que permitían adquirir distintos promedios salariales. Entonces, las estimaciones arrojan que en América un salario equivalente al europeo permitía un mayor consumo de carne, azúcar y granos. Ciertamente, esta afirmación es matizada si se consideran distintas particularidades regionales, como la abundancia de tierras desocupadas en el Río de la Plata, Nueva Granada y Chile, que explicaría el alto consumo de proteínas animales por el predominio de la ganadería; o la prevalencia de costumbres prehispánicas en México y los Andes Centrales, que mantuvieron alta la oferta de granos.
En cuanto a las estaturas, se tomaron los casos de Yucatán, Campeche y México entre 1730 y 1780, que se compararon con los disponibles para diversas ciudades europeas en el mismo período, arrojando resultados de nuevo favorables a América que, en el caso de la población blanca de Maracaibo, la situaría dentro de las más altas del mundo. Una explicación para esto sería la elevada ingesta de carne, pero no resulta válida para México central, que se ubica debajo del promedio internacional, lo que obedecería a la influencia genética del componente maya.
A partir de la última década del siglo XVIII los indicadores económicos y antropométricos americanos comienzan a declinar, aunque a un ritmo inferior al que registran en Europa y Asia, lo que conduce a afirmar que los grandes problemas de América son la desigualdad y el lento crecimiento, pues sus valores promedio no permiten entender el origen del subdesarrollo y la pobreza.
En síntesis y volviendo a los objetivos planteados al comienzo, los trabajos reunidos en la recopilación comentada ofrecen una visión de la economía hispanoamericana antes de la Independencia y confirma la advertencia de que siempre es necesario tener en cuenta que convivían realidades regionales muy diversas, por lo que conclusiones y explicaciones generales deben ser hechas con cautela. Luego, esta heterogeneidad regional también debe ser considerada al momento de evaluar la hipótesis de un gran declive económico y biológico como trasfondo y causa estructural de la disolución del orden colonial. Los casos presentados indican que se trata de una exageración proveniente, en algunos casos de crónicas contemporáneas alarmistas, y en otros de errores metodológicos en la agrupación y análisis de los datos cuantitativos disponibles. Además de dar cuenta de los objetivos que se propusieron los editores, la obra tiene el mérito de ofrecer visiones renovadas de diferentes espacios americanos, líneas interpretativas útiles para comprender algunos desarrollos históricos que siguieron al período estudiado y vetas de investigación que permitirían explicar de forma aún más exhaustiva las distintas singularidades que se aprecian en la historia económica de Iberoamérica. Una de ellas es el comercio al interior y entre las colonias, pues aunque muchas veces es mencionado como una variable para explicar por qué cierta estructura económica mantiene su dinamismo o se ralentiza a un ritmo inferior al que se aprecia en las cifras agregadas a nivel imperial, su respaldo empírico es frágil.
En suma, Iberoamérica y España antes de las Independencias aborda tres cuestiones de importancia para todo ámbito desde donde se cultive la historia americana: la primera es que, comparada con el Viejo Mundo, la calidad de vida en América pareciera ser no tan desmejorada como se ha dado por supuesto, por lo tanto la “herencia colonial” tendría menor responsabilidad en los cuadros de pobreza, desigualdad y subdesarrollo que se aprecian durante el período nacional, que es donde habría que buscar explicaciones más rigurosas. Luego, se confirma la noción, aunque mucho más atenuada, de que América colonial experimentó un ciclo de expansión a partir de las reformas de mediados del siglo XVIII y otro de recesión desde la última década de esa centuria. Hasta ahora la mayor parte de los estudios que han intentado entender esta oscilación se han encapsulado buscando causalidades al interior del imperio, en lugar de atender a los fenómenos globales, que es donde parecieran estar las respuestas más sencillas y satisfactorias. Esto conduce a una última consideración, en especial para quienes se dedican a la economía colonial: se ha convertido en un hábito buscar en las variables fiscales las causas de las palpitaciones de las distintas economías regionales, como si los monarcas y sus súbditos experimentaran por igual fortunas y miserias. Los artículos reunidos en la obra demuestran que esta aproximación es insuficiente, incluso errónea, pues todos ellos muestran que, en distintos grados, al iniciarse el siglo XIX los mercados internos habían alcanzado una dinámica autónoma de suficiente vigor como para comenzar a albergar intereses y concebir proyectos distintos a los de sus metrópolis.
Jaime Rosenblitt B. – Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile. E-mail: jaime.rosenblitt@dibam.cl
GELMAN, Jorge; LLOPIS, Enrique; MARICHAL, Carlos (Coordinadores). Iberoamérica y España antes de las Independencias, 1700-1820. Crecimiento, reformas y crisis. México D. F.: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; El Colegio de México, A. C., 2014. Resenha de: B., Jaime Rosenblitt. Hispanoamérica e Iberoamérica: una convergencia en el ocaso del mundo colonial. Almanack, Guarulhos, n.13, p. 215-220, maio/ago., 2016.
A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI) (vol. I). (Séculos XVI e XVII) (vol. II) – CALAFATE (FU)
CALAFATE, P. A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI) (vol. I). (Séculos XVI e XVII) (vol. II). Coimbra: Edições Almedina, 2015. Resenha de: NASCIMENTO1, Marlo do. Os mestres da Escola Ibérica da Paz. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.17, n.1, p.81-84, jan./abr., 2016.
A publicação da obra A Escola Ibérica da Paz vem a ser um resgate de textos latinos manuscritos e impressos de alguns professores renascentistas das Universidades de Coimbra e Évora. Os dois volumes da referida obra foram publicados sob a direção de Pedro Calafate, professor da Universidade de Lisboa, e são fruto do trabalho de uma equipe interdisciplinar que realizou suas atividades via projeto Corpus Lusitanorum de Pace: o contributo das Universidades de Coimbra e Évora para a Escola Ibérica da Paz2. Este grupo de pesquisadores tratou de investigar, transcrever e traduzir manuscritos e textos latinos impressos de autores como Luís de Molina, Pedro Simões, António de São Domingos, Fernando Pérez, Martín de Azpilcueta, Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
O volume I tem por título A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI), com direção de Pedro Calafate e coordenação de Ana Maria Tarrío e Ricardo Ventura. Este volume contém dois estudos introdutórios, apresentação dos textos e, em seguida, a transcrição e tradução de textos de Luís de Molina, Pedro Simões, António de São Domingos, Fernando Pérez (todos em versão bilíngue latim/português) e ainda, em anexo, um texto transcrito de autor anônimo. Os temas abordados versam sobre questões da guerra e da paz, relacionando-as a temáticas que implicam problemáticas de cunho ético, político e jurídico. Conforme aponta Pedro Calafate, est es textos não deixam de ser verdadeiros manifest os sobre o valor da paz e o respeito pela soberania dos povos.
O Estudo introdutório – I, escrito por Pedro Calafate, tem por título “A Guerra Justa e a igualdade natural dos povos: os debates ético-jurídicos sobre os direitos da pessoa humana”. Nest a introdução, o autor aborda várias temáticas desenvolvidas pela Escola Ibérica da Paz, entre elas: o limite do poder papal e do imperador, a legitimidade das soberanias indígenas, a noção de que o poder dos príncipes pagãos não difere daquele dos príncipes cristãos, a compreensão de que a rudeza dos povos não lhes impede a liberdade nem o direito de domínio e de posse. Discute ainda as punições de crimes contra o gênero humano (sacrifícios humanos, morte de seres humanos inocentes) e apresenta a compreensão de que o cumprimento de ordens superiores não deve justificar o ato de um soldado cometer um crime contra o gênero humano. Ressalta ainda a importância do respeito ao direito natural de sociedade e comunicação, e ainda o direito ao comércio, sendo justa causa de guerra o caso de haver impedimentos violentos contra est es direitos.
No Estudo introdutório – II, escrito por Miguel Nogueira de Brito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o qual versa sobre “A primeira fundação do Direito Internacional Moderno”, ressalta o autor a relevância dos escritos dos teólogos-juristas da segunda escolástica para a fundação do direito internacional moderno. Para isso, ele apresenta o contraste entre as doutrinas dos autores da segunda escolástica (primeira fundação do direito internacional) e os autores da “segunda” fundação do direito internacional público, com destaque para Grócio e Pufendorf. Assim, expõe que os da primeira fundação entendem o direito internacional como direito dos povos e os da segunda assumem que a comunidade é como um instrumento de proteção do indivíduo. Compreender o direto internacional a partir do direito dos povos conduz o autor a relacionar o pensamento dos autores da segunda escolástica com o pensamento de John Rawls. Isso porque a obra de Rawls A Lei dos Povos (1999) é alvo de muitas críticas justamente porque ele aborda as relações internacionais na perspectiva dos povos havendo uma grande semelhança com o pensamento dos autores da segunda escolástica. Por fim, enaltece a importância das ideias destes escolásticos para as discussões sobre o direito internacional mais recente.
Antes de adentrar propriamente os textos transcritos e traduzidos, Ricardo Ventura, da Universidade de Lisboa, tece uma apresentação dos textos, o que muito auxilia na posterior leitura. A apreciação destes textos não só traz à tona a cultura presente nas universidades portuguesas do século XVI, como também mostra o que se tem de mais original no pensamento português, fruto de uma extensão da influência da Escola de Salamanca.
Como primeiro texto temos o escrito de Luís Molina intitulado Da fé – Artigo 8 Se os infiéis devem ser forçados a abraçar a fé (p. 76-105), transcrito e traduzido por Luís Machado de Abreu. A primeira conclusão que se tem é que não é lícito obrigar nenhum dos infiéis a abraçar o batismo e tampouco a fé, e que não é lícito fazer guerra contra eles por est a razão ou subjugá-los. Como uma segunda conclusão se tem que é lícito atrair aqueles que são infiéis com favores, dinheiro e afabilidade, para que desta forma possam ser levados a prestar culto a Deus. A terceira conclusão é que qualquer pessoa tem o direito de anunciar o Evangelho em qualquer lugar. Quarta conclusão: é lícito fazer guerra, se for necessário, contra aqueles que impedem a pregação do Evangelho como forma de vingar alguma ofensa, com a devida proporcionalidade. Mostra-se lícito forçar os hereges e apóstatas a conservar a fé que receberam no batismo ou fazê-los abraçá-la novamente, porque a ideia é que a Igreja tem poder sobre aqueles que receberam o batismo.
Em seguida, temos o texto chamado Notas sobre a Matéria acerca da Guerra, lecionadas pelo Reverendo Padre Pedro Simões no ano de 1575 (p. 106-209). Este teve a transcrição de Joana Serafim, tradução e anotação de Ana Maria Tarrío e Mariana Costa Castanho, com o estabelecimento do texto e revisão final de Ana Maria Tarrío e Ricardo Ventura. Pouco se sabe sobre Pedro Simões: apenas que em 1557 ingressou na Companhia de Jesus e em 1569 foi professor da Universidade de Évora. Nest e escrito, o autor trata da questão da guerra em três momentos. Além da referência tomista, o texto tem como inspiração as cinco questões sobre a guerra apresentadas na suma de Caetano. Os três momentos abordados por Pedro Simões são: (i) Acerca das condições da guerra justa; (ii) acerca dos soldados e dos restantes que cooperam na guerra; e (iii) acerca do que é lícito fazer em uma guerra justa. Uma das temáticas que permeia est es momentos e vale ser destacada é a importante discussão sobre os títulos que legitimam o poder português nas Índias.
Em seu escrito, António de São Domingos também discute sobre a matéria da guerra. Este autor nasceu em Coimbra em 1531 e professou em 1547 no convento de São Domingos em Lisboa. Assumiu a cadeira prima na Universidade de Coimbra em 1574 e veio a falecer entre 1596 e 1598. Seu texto De bello. Questio 40 (p. 210-341) tem a mesma estruturação feita por São Tomás ao tratar do tema em sua Suma Teológica, ques ão 40, que a estrutura em quatro artigos. Este escrito teve a transcrição e o estabelecimento do texto feitos por Ricardo Ventura e contou com a revisão final da transcrição, tradução do latim e notas de António Guimarães Pinto. Os quatro artigos são assim apresentados: no Artigo 1º, a questão é se fazer guerra é sempre pecado; no artigo 2º, se é lícito aos clérigos combater; no artigo 3º, se numa guerra justa é lícito usar de ciladas; e no artigo 4º, se é lícito combater nos dias santos. É importante destacar, deste manuscrito, que Frei António, ao elencar os títulos que dão direito à guerra justa, diverge de Francisco de Vitória e seus discípulos que defendiam que o direito que Cristo concedeu aos apóstolos de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura (Mc 16,15) era um direito natural. Para Frei António de São Domingos não era assim, pois est e direito concedido por Cristo não poderia ser confundido com um direito natural. Além disso, salienta (f. 68) que o Evangelho deve ser pregado com mansidão e não por força das armas. Desta maneira, é possível revelar o reconhecido respeito que o autor possuía por quem ainda não era conhecedor da revelação cristã.
Temos ainda o escrito de 1588 intitulado Sobre a Matéria da Guerra (p. 342-497), de Fernando Pérez. A transcrição e o estabelecimento do texto são de Filipa Roldão e Ricardo Ventura, e ele teve como revisor final da transcrição e tradutor António Guimarães Pinto. Fernando Pérez, nascido em Córdoba por volta de 1530, foi professor da Universidade de Évora, ocupando a cadeira prima nesta Universidade de 1567 a 1572. In materiam de Bello a Patre Doctore Ferdinandus Perez é um texto inspirado, principalmente, na questão 40 da II-II da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Desta forma, o autor também desenvolve sua temática por meio de quatro artigos a partir das questões levantadas por São Tomás. Cabe lembrar que o texto de Pérez é semelhante em estruturação ao De Bello de António de São Domingos. Talvez a novidade apresentada neste texto seja justamente a relação que Pérez faz das questões levantadas por Tomás com questões pertinentes à sua época, como, por exemplo, reflexões sobre a questão da soberania dos hispânicos sobre as Índias, sobre a guerra contra mouros e turcos, sobre o poder papal, se o mesmo se estende para fora da Igreja, sobre a defesa do direito natural no caso de matar inocentes, sobre a legitimidade de subjugar povos considerados bárbaros (africanos, indígenas do Brasil e outros).
No final deste primeiro volume, também podemos encontrar a minuta de uma carta dirigida a D. João III, de autor anônimo, de 1556 (?), e nela se encontram as causas pelas quais se poderia mover guerra justa contra infiéis. A minuta desta carta tem a transcrição paleográfica de João G. Ramalho Fialho. Este texto carece de um pouco mais de atenção do leitor pelo fato da grafia ser um pouco distinta daquela com que est amos acostumados.
É possível dizer que este primeiro volume é um convite a pensar o direito internacional e seus vários desdobramentos, principalmente no diz respeito a questões de guerra e de paz. O que fica muito claro nestes escritos é a preocupação dos autores em pensar a guerra em função da paz, e est a relação é um dos motivos que tornam seus escritos fascinantes. Por fim, imagino que seja preciso ressaltar uma pequena falha do volume I, que é a falta do Índice Onomástico, o que se pode encontrar no Volume II, que em seguida abordaremos. Ressalto a falta deste tipo de índice porque est a é uma obra com uma da gama de autores importantes citados e a busca dos mesmos se torna um pouco mais difícil sem est a ferramenta.
Ao adentrar o Volume II, deparamo-nos com escritos sobre a justiça, o poder e a escravatura. Sob a direção e coordenação de Pedro Calafate, est e volume é estruturado em duas partes. A primeira parte contém uma introdução à Relectio C. Novit de Iudiciis de Martín de Azpilcueta, de autoria de Pedro Calafate. Em seguida, temos o texto propriamente dito e, no final dest a primeira parte, em anexo o Novit Ille de Inocêncio III. A segunda parte também possui uma nota introdutória elaborada por Pedro Calafate. Na sequência temos três capítulos, nos quais encontramos, respectivamente, a tradução dos escritos de Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
Inicialmente, é importante ressaltar que a introdução à Relectio de Martín de Azpilcueta, feita pelo Pedro Calafate, é muito válida, pois ela cumpre o intuito de realmente introduzir o leitor no escrito de Azpilcueta que vem em seguida. Nela, Pedro Calafate apresenta claramente o contexto em que o escrito se insere, além de destacar as principais questões discutidas nele. O escrito Sobre o Poder Supremo (p. 23-181), propriamente dito, de Martín de Azpilcueta, tem a tradução do latim e anotação realizada por António Guimarães Pinto. Martín de Azpilcueta, que foi professor da Universidade de Coimbra, aborda em sua Relectio C. Novit de Iudiciis variados temas, porém a discussão central gira em torno do poder supremo dos reis e dos papas, uma temática um tanto delicada de ser trabalhada, pois o que est á em pauta são os limites do poder temporal e do poder espiritual, questões que envolvem a relação de soberania do Estado e da Igreja.
A Relectio é estruturada em forma de anotações, seis no total. Elas foram desenvolvidas a partir da reflexão sobre o texto de Inocêncio III Novit Ille (1204), que pode ser encontrado em anexo à Parte I deste volume, logo após o escrito de Azpilcueta. Nas duas primeiras anotações, encontramos discussões de questões referentes à onisciência divina à sua relação com o livre-arbítrio, e a crítica à astrologia supersticiosa e às práticas de adivinhação, pelo fato de que elas interferem no âmbito da ciência divina. Porém, é nas anotações III a VI que podemos encontrar o centro do escrito, que versa mais propriamente sobre a questão do poder supremo dos monarcas supremos (tanto reis como papas). Cabe ainda ressaltar que Azpilcueta, fazendo jus à Escola Ibérica da Paz, trata da defesa da soberania legítima dos povos do Novo Mundo, defendendo, no âmbito jurídico, que nem o papa nem o imperador possuíam direito sobre o território e a soberania indígena do Novo Mundo.
Na segunda parte deste volume, podemos encontrar uma nota introdutória seguida de três capítulos onde temos, respectivamente, a tradução de escritos de Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
A nota introdutória desta parte, de autoria de Pedro Calafate, apresenta a relevância do conjunto de textos escolhidos dos professores das Universidades de Évora e Coimbra, que tratam de questões como: origem e natureza do poder civil, a escravatura, as relações entre infiéis e cristãos no período entre os séculos XVI e XVII.
No primeiro capítulo, encontraremos excertos de Martín de Ledesma, professor na Universidade de Coimbra entre os anos de 1540-1562, tendo como título Secunda Quartae (p. 197-202). A seleção de textos e a tradução do latim são de Leonel Ribeiro dos Santos a partir da edição príncipe (Coimbra, 1560). São seis excertos intitulados pelo próprio tradutor. Neles são tratados temas que envolvem a defesa da soberania dos povos e do direito natural, o combate do argumento de que a inferioridade civilizacional justifica a guerra e a escravatura, condenando, assim, a escravatura e declarando-a ilegítima quando se tem como pretexto tornar cristãos os escravos. Também discorre sobre o poder papal, destacando que o mesmo não é senhor das coisas temporais e que o poder civil não está sujeito ao poder temporal do papa.
No segundo capítulo, temos o texto de Fernão Rebelo, nascido em 1547, que foi professor da Universidade de Évora. Este escrito tem por título Opus de Obligationibus, Justitiae, Religionis et Caritatis3 (p. 203-241), cuja tradução do latim é de António Guimarães, a partir da edição príncipe (Lyon, 1608). A opção por traduzir apenas algumas questões desta obra se deve à escolha temática. Pelo fato deste escrito possuir uma gama variada de temas, explica Calafate (p. 194), optou-se traduzir apenas as questões relativas à escravatura. E é dentro dessa temática que Fernão Rebelo discorre sobre algumas questões como: quando é legítimo um homem tornar-se escravo de outro, o que legitima a posse de escravos, que tipo de poder tem o senhor sobre o escravo e quais os limites desse poder, quais direitos possui um escravo, quando é lícita a fuga de um escravo e quando est e deve tornar-se livre.
No terceiro e último capítulo deste volume, encontramos o texto de Francisco Suárez chamado Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae Adversus Anglicanae Sectae Errores4 (p. 243-301). Suárez é movido a escrever est a obra no intuito de combater a teses jusdivinistas do rei Jaime I de Inglaterra. A tradução destes capítulos do livro III, cujo título Principatus Politicus se justifica pelo fato deles incidirem mais especificamente sobre a questão da fundamentação da doutrina democrática de Francisco Suárez, conforme explica em nota o tradutor do texto, André Santos Campos (p. 245). Já o capítulo IV do livro VI, que tem por título De Iuramento Fidelitatis, vem de certa forma complementar o que foi exposto no livro III, porém com destaque para o direito à resistência ativa e a discussão em torno do poder indireto do papa ao tratar de questões de ordem temporal.
Cabe ressaltar que a obra A Escola Ibérica da Paz (vol. I e II) é importante por vários motivos. Dentre eles, pode-se destacar que est a obra é válida por resgatar o pensamento destes autores do Renascimento através de seus escritos, pensamento est e que ilumina de maneira crítica vários acontecimentos históricos dos séculos XVI e XVII referentes às questões de guerra e paz, justiça, poder e escravatura. Ela também resgata uma memória histórica que nos auxilia e influencia a pensar o presente e o futuro sob uma nova perspectiva, ou seja, sob a perspectiva de quem compreende o direito como algo inclusivo, do qual todos fazem parte, não distinguindo as pessoas por raça, credo, classe social, costumes, etc. Além disso, é importante ressaltar que a obra A Escola Ibérica da Paz (vol. I e II), que pode ser adquirida através do site da Editora Almedina, permite o contato, de maneira mais fácil, com textos de autores que, de outra forma, seriam de difícil acesso ao público menos especializado.
Notas
1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Av. Unisinos, 950, Cristo Rei, 93022-750, São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: marlo_kn@hotmail.com 2 Projeto PTDC/FIL-ETI/119182/2010 do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tendo como investigador responsável o Professor Pedro Calafate.
2 Projeto PTDC/FIL-ETI/119182/2010 do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tendo como investigador responsável o Professor Pedro Calafate.
3 Desta obra foram traduzidas as questões 9, 10, 11, 12, 13 do livro I.
4 Traduziram-se do latim, a partir da edição príncipe (Coimbra, 1613), apenas os capítulos II, III e IV do livro III, que possui em sua totalidade nove capítulos, e o capítulo IV do livro VI, que possui em sua totalidade 12 capítulos.
Marlo do Nascimento – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: marlo_kn@hotmail.com
[DR]
Empire of cotton: A globalhistory – BECKERT (PR-RDCDH)
BECKERT, S. Empire of cotton: A globalhistory. 2006. Resenha de: MULLINS JÚNIOR, R. D. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, 159-160, 2016.
Every year in Virginia, many teachers instruct students that capitalism is a system in whichgovernment stays out of the way. The author of this review, being a former high school teacher inVirginia, taught this very concept. Nevertheless, Sven Beckert tells a different story in his book Empire of Cotton: A Global History. Beckert argues that not only was the state involved in the development of capitalism, but also “the needs of nation-states were not conflicting”, meaning that in many instancescapitalism intertwined with goals of the state (p. xxi) He uses a commodity, cotton, as a centerpieceto exemplify his point. From the onset, the reader may think they are embarking on a history ofcotton, but that is not Beckert’s goal. His goal is to tell the story of capitalism, by focusing on a topicthat everyone knows something about: cotton.
Beckert begins his book by discussing cotton’s presence in South America a “half of millennium ago” in small villages in “what is today called Mexico” (p. 3). By starting the story this early, he not only shows that “cotton had a long history”, but he also shows that so did capitalism (p. xx). Next, Beckert addresses Christopher Columbus’ landing in 1492; Columbus’ landing was a major event that “recast global connections” and made way for the global rise of capitalism (p. 31). It is after making this point that Beckert is able to get to the meat of his story.
From the landing of Columbus, Beckert progresses, arguably quickly, through roughly four hundred years of history. Through out the four hundred years, he describes the different phases of capitalism, and how different nations experienced it. Although this is a daunting task, Beckert does well in this endeavor and describes how major events, such as the American Civil War, affected capitalism (p. 242-273). By looking at world changing events such as wars, Beckert is able tocapitalize on exemplifying how capitalism had global connections. By emphasizing how major eventshad worldwide ramifications, he is successful in the pursuit of constructing a global history.
As Beckert reaches into the nineteenth and twentieth century, he supports his argumentof state involvement in capitalism even more by discussing how when individuals from differentc ountries attempted to enter the global world of cotton, “they learned about the importance of strongstates to industrialization” (p. 412). Although this point is not direct, it strengthens Beckert’s argumentby showing that although many argue capitalism is a system in which government should stay outof the way, a strong state is practically a prerequisite for entering the industrial realm. As Beckert concludes, he reminds the reader that even into the twentieth century, “the trajectory of the empire of cotton converged more and more with the goals of state-led development” (p. 436).
Beckert thoroughly researched this work, which is evident by examining his notes at the end of the book. However, the choice of having the notes at the end can be laborious when the readerwants to reference one of his notes, as it requires constantly flipping to the back of the book. It wouldbe helpful to have notes within the page for a quick reference, which would provide a smoother read.
Aside from arrangement issues, Beckert makes a statement that could have used more clarification. While describing how America was different from the rest of the world, he discusses that America was the only colonial ruler “which had made cotton-growing territories available byremoving the native people who had dwelled on those lands for centuries” (p. 359). Here it wouldhave been helpful if Beckert could have added more context to this statement. One could arguethat the precedent of taking native lands for business endeavors started with Spanish and English colonization. Although Beckert specifies he is talking about cotton, the way in which he argues thispoint makes it appear as if America set the precedent for taking native lands for business endeavors.
Sven Beckert successfully conquered the task of writing a thorough history of capitalism. Hischoice to focus on a commodity, rather than on individuals, offer a unique and intriguing story to thoseinterested in economic history or the history of capitalism. His story is best suited for the professional historian, but would also be something of interest to the economist or possibly even the political philosopher due to his focus on state affairs. Beckert reminds the reader through his narrative of atruth that is present even today; “a world that seems stable and permanent in one moment can be radically transformed in the next” (p. 443).
Ricky D. Mullins Júnior – History and Social Studies Education at Virginia Tech (Blacksburg, VA. USA).
[IF]
Los reinos bárbaros em Occidente – COUMERT; DUMÉZIL (PR-RDCDH)
COUMERT, M.; DUMÉZIL, B. Los reinos bárbaros em Occidente. Resenha de: CASTILLO LOZANO, J. A. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, p.161-162, 2016.
El libro que nos proponemos reseñar es una traducción de Rafael G. Peinado Santaella delconocido libro Les royaumes barbares en Occident (Presses Universitaires de France, 2010) ycuya autoría recae en Magali Coumert y Bruno Dumézil. Magali Coumert es profesora titular en laUniversidad de Bretaña occidental y su campo de estudio siempre ha versado en la época conocidacomo Antigüedad Tardía y/o Alta Edad Media, destacando su obra L’origine des peuples. Les récitsdu Haut Moyen Áge occidental (550-850) (Institut d’Études Augustiniennes, 2007). El segundo autorde este libro es Bruno Dumézil que es profesor titular en la Univerdad de París Oeste-Nanterre LaDéfense y su campo de estudio ha estado enfocado sobre todo al mundo de la tardoantigüedadcon cierta predominancia del reino austrasiano en sus trabajos, de ahí que sea autor de grandespublicaciones entre la que debemos destacar su obra de referencia: La Reine Brunehaut (Fayard,2008).
El estudio de los pueblos germánicos siempre ha sido un tema que ha originado abundantesdebates desde las primeras voces que los señalaban como destructores del Imperio romano hastaa aquellas que en el s. XIX-XX los ponían como los padres fundadores de las naciones europeasa la luz de la génesis de los nacionalismos europeos. En definitiva, este nuevo volumen pretendearrojar luz sobre la interesante historia de estos pueblos.
El libro está compuesto por una serie de capítulos que van acordes a las principales ideas quesurcan la mente de los historiadores de este periodo histórico y que se articulan en torno a la entrada,el establecimiento y la consolidación de los reinos de estas gentes/nationes. De esta manera, enel primer capítulo se nos hace un recorrido sobre aquellas fuentes a las que debemos acudir a lahora de conocer el pasado de estos pueblos antes del contacto con el imperio de la ciudad eterna,Roma (11-17). Estas fuentes son los etnógrafos antiguos (como es el caso de Heródoto), las fuenteshistoriográficas romanas (como es la conocida obra de Tácito: Germania), los restos materiales através de los estudios arqueológicos y, finalmente, la Historia Gentium, es decir, la historia de losorígenes de estos pueblos creadas (o puestas por escrito) mucho tiempo atrás en un intento dedotar de historia y legitimidad a los reinos bárbaros como es el conocido caso de la Getica u Origeny gestas de los Godos de Jordanes. Este capítulo se complementa con una teoría actualizada enla que, siguiendo las últimas tesis del mundo académico, se deja de señalar una supuesta invasióno macro-migración (pp. 17-22), un concepto que tiene claros tintes políticos, para ir dando fuerzaa una migración constante que al mismo Imperio le favorecía, sin olvidar el interesante proceso de etnogénesis progresiva que se iba dando (pp. 22-25).
El segundo capítulo (“Roma y sus vecinos”, pp. 31-54) y el tercero (“Las formas delestablecimiento”, pp. 55-76) son complementarios e intentan sintetizar esos contactos que hubieronentre Roma y los reinos bárbaros antes de la caída de la pars occidental del Imperio. Siguiendo unmodo divulgativo, no carente de un método científico totalmente pulido, el libro traza la existenciade ese limes, de esas fronteras vivas del Imperio que eran testigos de la entrada y de la convivenciaentre esos “bárbaros” y los habitantes del Imperio. De igual manera, se muestra como Roma, dentrode ese espíritu pragmático que siempre la caracterizó, adoptó a estas tribus para su beneficio propio.
Es decir, siempre que pudo sacar beneficio de ellas, lo sacó bien fuera a través de pactos, como losconocidos foedus, o a través de la asimilación directa de este mundo a su organigrama estatal bienformando parte de las tropas regulares o de la administración pública. Todas estas ideas, si bien hansido estudiadas por grandes expertos, nosotros intentamos recogerlas y analizarlas en un recienteartículo nuestro centrándonos en el pueblo godo.
En los siguientes capítulos, bajo los títulos “La cultura bárbara en el siglo V” (pp. 77-99) y“La construcción de los Estados Bárbaros” (pp. 101-125) se nos muestra un momento clave enel devenir de la historia europea ya que tras la simbólica caída de Roma en el 476, la autoridadimperial en Occidente desaparece, se crea un vacío que estos pueblo tenderán a llenar. Si bien escierto, que ya en este mismo siglo, Roma no tenía la suficiente autoridad como para manejar loshilos del destino de estos bárbaros por lo que en cierta medida este proceso de la génesis de losreinos bárbaros lo podemos retrotraer antes de esta fecha simbólica. De este modo, los autores deesta monografía pretenden arrojar una síntesis completa de este complejo pero apasionante arcocronológico a través de las fuentes arqueológicas y literarias.
El último capítulo del libro (“La conversión de los reinos bárbaros”, pp. 101-126) correspondesegún los presupuestos teóricos de los autores al último momento del proceso de la consolidaciónde estos reinos que ya se vienen viendo ellos mismos como los continuadores/herederos del otrorapoderoso Imperio romano.
El libro finaliza con unas breves conclusiones (pp. 147-148) y una selección de aquellasfechas más significativas para los autores y de los trabajos más importantes para adentrarse en estecampo de estudio (el traductor del libro añade una breve selección de títulos recientes en españolsobre este tema).
En definitiva, y a modo de conclusión, nos encontramos ante una monografía que con untono divulgativo intenta demostrar y trazar una historia general de los pueblos bárbaros desde sullegada y primeros contactos con el Imperio romano hasta su instalación como reinos. En definitiva,se trata de una buena manera para aproximarse por primera vez a estos temas y que sirve como unmagnífico recurso para aquellos alumnos o personas con inquietudes que se enfrentan por primeravez a este complejo mundo.
José Ángel Castillo Lozano – Universidad de Murcia
[IF]
Gente de guerra – MIRANDA (RH-USP)
MIRANDA, Bruno Romero Ferreira. Gente de guerra. Origem, cotidiano e resistência dos soldados do exército da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil (1630-1654). Recife: Ed. UFPE, 2014. Resenha de: FRANÇOZO, Mariana. Gente de guerra: novas perspectivas sobre o Brasil holandês. Revista de História (São Paulo) n.174 São Paulo Jan./June 2016.
Na introdução a Gente de guerra, o historiador Ronaldo Vainfas acertadamente descreve Bruno Miranda como parte de uma nova geração de historiadores que, munida do conhecimento da língua holandesa e debruçada sobre vasta e variada documentação primária, vem repensando e expandindo a tradicional historiografia sobre o domínio holandês no Brasil no século XVII. Esse livro, fruto de tese de doutoramento em História defendida na Universidade de Leiden, em 2011, constitui – pela primeira vez na historiografia nacional e internacional sobre o Brasil holandês – uma obra dedicada exclusivamente à história “de alguns dos muitos personagens anônimos que participaram da conquista e manutenção do Brasil” (p. 30): os soldados da Companhia das Índias Ocidentais (WIC). Cabe adicionar: personagens que participaram também da perda do Brasil holandês e das derrotas da WIC na América do Sul. Afinal, como mostra Miranda, a má condição geral das tropas foi decisiva para o destino frustrado das intenções militares e políticas dos holandeses no Brasil.
Na introdução, um pouco seca – pois não há floreios – e bastante direta – porque é descritiva, como o livro todo -, Miranda introduz seus personagens principais, bem como a estrutura da obra, centrada em perguntas sobre quem era e como (sobre)vivia a soldadesca da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Ao longo dos capítulos, encontram-se as motivações e os diálogos teóricos que impulsionaram o autor a formular suas questões. A começar, com efeito, com a dúvida lançada no início da década de 1980 pelos historiadores Pieter Emmer e Ernst van den Boogaart sobre a própria possibilidade de escrever uma história dos soldados da WIC (p. 44). Em um livro bem escrito e bem composto, o leitor encontra numerosas descrições de momentos significativos do cotidiano dessa gente: os motivos para se alistarem na Companhia, as circunstâncias da viagem atlântica, as dificuldades da vida diária no Brasil, o trabalho, as lutas, as doenças, a revolta e, finalmente, a volta – quando possível – para a Europa.
Ainda que a possibilidade de reconstruir integralmente o cotidiano desses soldados seja limitada pela incompletude das fontes – drama e circunstância de todo historiador -, Miranda consegue esboçar com fidelidade um quadro diversificado de pessoas, motivações, escolhas e trajetórias que, em conjunto, fazem sentido. Isso só foi possível porque o autor mergulhou sem medo nos acervos documentais dos Países Baixos – muitos dos quais já lidos e analisados anteriormente por célebres nomes da historiografia do Brasil holandês, como José Antônio Gonsalves de Mello, Charles Boxer, Evaldo Cabral de Mello e o próprio Ronaldo Vainfas. Foram consultados velhos conhecidos, como os arquivos da Velha Companhia das Índias Ocidentais (OWIC) e os arquivos dos Estados Gerais (ambos no Arquivo Nacional de Haia), que provaram neste livro ser fonte ainda rica de novos dados, quando lidos sob nova perspectiva. O autor expande o acervo documental ao investir também nos registros notariais das cidades de Amsterdã e Roterdã para cruzar dados e, assim, estabelecer redes e relações entre esses soldados e a vida diária na colônia e nos Países Baixos. Outra fonte central foram os vários relatos dos soldados que escreveram sobre suas experiências na WIC, alguns dos quais aparecem repetidamente no livro (como Stephen Carl e Peter Hansen), dada a riqueza de sua narrativa. As imagens aparecem apenas eventualmente como ilustrações ou fontes que confirmam hipóteses – com destaque, nesse sentido, para o problema da indumentária dos soldados expresso em gravura que registra soldados roubando as vestes de inimigos mortos ou feridos (p. 193).
Nos capítulos 1 e 2 do livro, que tratam de dados demográficos e do engajamento na companhia, os achados sobre os soldados do Brasil holandês são constantemente confrontados com dados de mesma natureza sobre os soldados da Companhia das Índias Ocidentais (VOC), com inspiração clara no trabalho de Roelof van Gelder sobre a “aventura” asiática dos soldados da VOC.1 Dessa forma, e para compensar as fontes inconclusivas, Miranda compara, contrasta e confirma suas hipóteses com respaldo em sólida literatura sobre os militares europeus na Ásia e África, bem como a soldadesca europeia no período moderno. Da mesma forma, no capítulo 4, ao tratar das doenças que afligiam as tropas no Brasil, Miranda esboça uma comparação com os casos de militares europeus na África e Ásia (p. 231-240). Assim, apesar de não ir a fundo na comparação, o autor sugere a possibilidade de ampliar o escopo dos estudos do Brasil holandês, levando-o a um cenário de história atlântica – como alguns pesquisadores já vêm fazendo – e, quando cabível, mesmo de história global. O livro, assim, afasta-se de uma “historiografia pernambucana”, na qual o prefaciador do livro parece querer enquadrar Bruno Miranda (p. 15), e aproxima-se de uma historiografia comparativa, que analisa as origens e o funcionamento dos impérios coloniais europeus em perspectiva transnacional.
Gente de guerra traz pelo menos três importantes proposições sobre os “personagens anônimos” cujas histórias pretende recuperar. Em primeiro lugar, mostra que a maioria dos soldados da WIC – companhia holandesa – não era holandesa, mas tinha origem geográfica variada, com numerosa presença de homens vindos dos Estados alemães, seguidos por aqueles dos Países Baixos espanhóis, Inglaterra, França, Escandinávia e Escócia (p. 56). Em segundo lugar, o livro contribui para desmistificar a ideia de que esses soldados eram gente “da pior fama”, pobretões em busca de riqueza rápida, homens de má índole e pouca formação. Ao contrário, Bruno Miranda revela a diversidade das origens sociais desses soldados, e mostra, com rigor, como muitos deles só conseguiram se alistar na WIC e garantir lugar no exército no Brasil justamente porque sabiam algum ofício que poderia ser útil durante as lutas ou depois delas. Finalmente, o livro indica o papel fundamental da condição de vida desses soldados na derrocada dos holandeses no Brasil. Na segunda parte do livro, Miranda mostra como as tropas eram, via de regra, mal alimentadas, doentes, mal pagas e em geral maltratadas tanto por seus superiores no Brasil quanto pelas autoridades da WIC na Holanda, que não respondiam às suas demandas com a rapidez e a eficiência necessárias. Sem vitimizá-los, o autor conta as estratégias de sobrevivência empregadas, com maior ou menor grau de sucesso, pelos soldados da WIC. Assim, se alguns desses soldados escolheram desertar, passar ao lado inimigo, ou amotinar-se (capítulo 6), as origens de seu descontentamento residiam na tentativa da WIC, operando muitas vezes perto de decretar falência, de gerar lucro a qualquer custo (ou, em bom holandês: voor een dubbeltje op de eerste rang zitten – por alguns centavos, sentar-se no melhor lugar). Em tais condições de miséria, combater o inimigo era uma missão quase impossível e, por isso, o malogro da WIC no Brasil tem que ser compreendido também pela lente das experiências sofridas desses homens.
Se há críticas ao livro, elas recaem em certa falta de posicionamento mais claro do autor em relação à literatura brasileira e estrangeira sobre o Brasil holandês. Um pouco por modéstia, Miranda parece querer sugerir que o livro trata de um aspecto até agora negligenciado dessa história – as trajetórias e o cotidiano dos soldados da WIC. Em relação a esse aspecto, o livro de fato traz uma contribuição clara e o autor não se furta a indicar, quando cabível, pequenos erros ou grandes deslizes da literatura da área. Porém, mais do que “um tijolinho a mais” ou uma narrativa a mais, Gente de guerra ajuda a situar o próprio Brasil holandês em outro plano de análise. Muitas vezes tratado como evento episódico tanto na historiografia sobre o Brasil Colônia quanto na bibliografia holandesa sobre a expansão ultramarina, as três décadas em que a WIC ocupou parte da costa nordeste da América portuguesa tiveram impacto militar, econômico, político, social e cultural dos dois lados do oceano Atlântico, bem como na política local nos Países Baixos. Menos que um episódio histórico interessante, o período do Brasil holandês fez parte de um sistema atlântico de relações (desiguais) de poder que marcaram a história de pelo menos três continentes interligados ao mesmo tempo que ajudou a construir esse sistema. Menos do que apenas recontar a história dos soldados da WIC, Gente de guerra ajuda a lançar nova luz sobre as redes de relações que compuseram o emaranhado do Brasil holandês. Por isso, deverá ser lido por todos aqueles interessados no período moderno, em história atlântica e na (nova) história militar.
1VAN GELDER, Roelof. Het Oost-Indische Avontuur: Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800). Nijmegen: SUN, 1997, 335 p.
Mariana Françozo – Doutora em Ciências Sociais pela Unicamp. Professora na Faculdade de Arqueologia, Universidade de Leiden, Países Baixos. Email: m.francozo@arch.leidenuniv.nl
História dos jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500-1840) | Matías M. Molina
Em 1863, Manuel Duarte Moreira de Azevedo, bacharel em letras, doutor em medicina, membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e mais conhecido por Dr. Moreira de Azevedo, publicou, na revista do IHGB, o texto Origem e Desenvolvimento da Imprensa no Rio de Janeiro, um dos primeiros, senão, o primeiro, que explorou detalhadamente as publicações da imprensa carioca daquele tempo. O escrito, que, muito provavelmente, foi o único do Oitocentos que se dedicou a tal empreitada, teve como principal objetivo elencar e comentar os periódicos publicados na capital imperial pela tipografia da Impressão Régia ou pelas tipografias particulares instaladas na corte, entre os anos de 1808 e 1863. Depois dele, apenas o historiador Alfredo de Carvalho, aproveitando-se da comemoração do centenário da imprensa no país, publicou, em 1908, Gênese e Progressos da Imprensa Periódica do Brasil, também na revista do IHGB. Diferentemente do Origem e Desenvolvimento da Imprensa no Rio de Janeiro que se ocupou apenas dos periódicos da cidade do Rio de Janeiro, o estudo de Carvalho foi, e continua sendo considerado pela historiografia brasileira como o primeiro estudo que se comprometeu com a audaciosa tarefa de listar todos os periódicos produzidos no Brasil naqueles primeiros cem anos de impressos, independentemente da região em que foram publicados.
Trabalhos abrangentes como o pretendido por Alfredo de Carvalho no começo do século XX ocuparam pouco espaço na historiografia brasileira. No decorrer do século XX e no início do século XXI, a maior parte das obras teve como objeto apenas um determinado periódico, como os estudos de Nelson Dimas Filhos, Jornal do Comércio: a notícia dia a dia (1827-1887), de 1972, e de Maria Beatriz Nizza da Silva, A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822), de 2007, ou se dedicaram aos periódicos publicados de uma certa região, como o de Gondim da Fonseca, Biografia do jornalismo carioca, de 1947, e o de José de Freitas Nobre, História da imprensa de São Paulo, de 1950.
Ressalva-se nesse habitual da historiografia, todavia, o estudo de Nelson Werneck Sodré, História da Imprensa no Brasil, publicado em 1966. A obra, além de listar um grande número de periódicos publicados no país desde a época colonial até meados do século XX, realiza uma análise do desenvolvimento e da produção dos impressos sob a “óptica da luta de classes”, isto é, por um viés marxista. A imprensa, na visão de Sodré, sempre teria sido utilizada como um meio de comunicação de massas e, assim, sempre funcionou como um aparelho de sujeição dos trabalhadores. Na época de seu lançamento a obra ocupou uma lacuna da historiografia brasileira, que desde o início do século não tinha trabalhos dedicados a tentar realizar uma história mais completa dos impressos produzidos no Brasil. A História da Imprensa no Brasil de Sodré, nesse sentido, foi muito bem recebida por aqueles estudiosos da segunda metade do século XX e foi considerada por muitos pesquisadores, durante um bom tempo – e por alguns até hoje –, o principal trabalho sobre a história da imprensa do Brasil, principalmente em razão do grande levantamento de Sodré acerca dos títulos produzidos. Contudo, o estudo de Sodré encontra-se, de certo modo, datado dentro da atual historiografia brasileira e a necessidade de uma história da imprensa do Brasil, que contemple os aspectos culturais e sociais mais abrangentes, permanece sob demanda.
A historiografia brasileira, em vista disso, desde a década de sessenta do século passado carecia de uma obra que se propusesse a realizar um estudo sobre os impressos publicados no Brasil, da colônia à contemporaneidade, a partir de um viés mais cultural e social. É nesse espaço desabitado, pois, que se insere o estudo do jornalista Matías M. Molina,[1] História dos Jornais no Brasil. Dada à ambição do trabalho, Molina propôs dividir o estudo em três volumes, pois, segundo ele mesmo justificou, dar conta dos impressos publicados nesse longo espaço de tempo é uma tarefa que requer muitas páginas escritas. Este alto número de impressos, aliás, interferiu diretamente na estrutura de seu projeto, que precisou ser repensado e dividido diversas vezes. Por esse motivo, o estudo de Molina se concentrou “apenas nos jornais de informação geral. Ficaram de fora os diários especializados, como os esportivos e econômicos, e os jornais em língua estrangeira […]”.
Outro fator que, segundo o jornalista, também contribuiu para a estrutura de seu projeto, foi o livro do professor da universidade norte-americana de Princeton, Paul Starr, The Creation of the Media. O livro do americano pretende mostrar “de que maneira algumas instituições como o Correios, a expansão do ensino, a introdução do telégrafo e outras tecnologias” foram importantes para a criação e a evolução dos meios de comunicação nos Estados Unidos. Inspirado por este trabalho, Molina adaptou “a maneira de Starr ver a criação da mídia em seu país para tentar compreender melhor as condições em que nasceram e desenvolveram os jornais brasileiros”. Por meio de uma pesquisa minuciosa, Molina tem como objetivo realizar uma história dos jornais brasileiros, ou seja, seu estudo “não tenta adivinhar” o futuro de um jornal, “não antecipa seu fim nem assegura que terão vida eterna. Limita-se a contar a história dos jornais no contexto de uma época. Dezenas deles”. Não se encaminha, portanto, no sentido de discutir o destino dos jornais, ou melhor, no sentido de discorrer sobre uma história dos jornais para desnudar o futuro dos impressos.
O primeiro livro, do que promete ser um vasto estudo, História dos Jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500-1840), foi publicado no início de 2015 e analisa, de maneira geral, a chegada das primeiras tipografias, os primeiros impressos publicados e alguns homens das letras que se envolveram com as artes gráficas. A obra se encontra dividida em quatro partes. Intitulada A era colonial, a primeira parte do estudo destaca a tipografia e a imprensa da colônia com intuito de, segundo o autor, compreender melhor os porquês de o Brasil só ter conseguido firmar uma imprensa nacional apenas no século XIX. Na segunda, A corte no Brasil, Molina explora o recorte que ele chamou como o “período de transição”, ou seja, o momento marcado pela vinda da Corte portuguesa, pela instalação da Impressão Régia e pela produção dos primeiros impressos. Jornais na independência e na regência é o título da terceira parte deste volume e, como sugere, tem como proposta investigar o envolvimento e o posicionamento de algumas folhas diante do governo, em tempos, vale lembrar, de conturbados debates que tomavam as ruas, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, e tinha os jornais como principal veículo de informação. A quarta e última parte, Infraestrutura, discute a respeito dos “fatores que condicionaram o desenvolvimento da imprensa e ajuda a explicar a baixa penetração dos jornais no Brasil”, nos séculos XVI, XVII, XVIII até meados do XIX, mais especificamente até 1840.
Molina abre espaço, neste primeiro volume, para uma reflexão a respeito da história dos impressos do Brasil na época colonial. Não por achar que a colônia teve uma importante produção de impressos, mas para tentar refletir sobre os porquês de o país não ter uma imprensa, ou mesmo, uma tipografia, nos seus primeiros séculos de vida – uma vez que o Brasil, “três séculos e meio depois das primeiras obras estampadas por Gutemberg”, só desempenhou tal atividade a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa. Destaca Molina que não foi proibida oficialmente no Brasil a instalação de tipografias nem a produção de impressos durante a colônia, mas o fato – simples até – foi que as terras brasileiras não eram propícias para o desenvolvimento das artes gráficas. Com uma minguada população, praticamente toda analfabeta, e um grande território, a colônia de Portugal não recebia incentivos nem para a produção de pequenos folhetos. No período inicial, destarte, a instalação de uma tipografia poderia, de acordo com Molina, “ser considerada supérflua”, mas com o aumento da população e o aumento da dependência dos portugueses em relação ao Brasil, a ideia passou a ser aceita e, aos poucos, ganhou corpo.
Logo na primeira década do século XVII, quando as capitanias do Norte ficaram nas mãos dos holandeses, isto é, da Companhia das Índias Ocidentais, e diferentes povos imigraram para essa região, o plano para a existência aqui no Brasil de uma tipografia passou a ser concreto. O principal governante deste domínio, o conde João Maurício de Nassau pediu, várias vezes durante seu governo, que fosse instalada uma tipografia naquela região com o argumento de que a impressão de documentos naquelas terras seria benéfica para a sua administração e, consequentemente, para a manutenção do domínio. Todavia, com a expulsão dos holandeses e a retomada do território pelos portugueses, em 1654, o projeto de Maurício de Nassau não foi executado. Os portugueses, como era de se esperar, e dado seu posicionamento frente a esse assunto, engavetaram rapidamente a iniciativa do conde. Outra tentativa de se instalar uma tipografia no Brasil foi a do português Antônio Isidoro da Fonseca que, em meados do século XVIII, se acomodou no Rio de Janeiro com seus equipamentos e até chegou a imprimir algumas obras. A Corte de Lisboa, infelizmente, não aprovou a ação e, além de determinar o retorno de Isidoro da Fonseca para Portugal em razão desse episódio, passou a proibir a instalação de tipografias bem como a produção dos impressos na colônia. Nota-se, nesse sentido, segundo Molina, que na colônia a não existência de uma lei que proibisse a impressão não significava que ela era permitida, pois sempre que existia alguma iniciativa de impressão ela era rapidamente coibida pelos portugueses.
A vinda da corte portuguesa para as terras do Brasil ocasionou variadas mudanças na administração dos portugueses e a instauração de determinados órgãos até então inexistentes na colônia, como a imprensa. Com a instalação, em 1808, da Impressão Régia no Brasil, a proibição de fabricação de impressos na colônia foi deixada de lado e substituída por investimentos do governo português: nessa época, o Brasil recebeu um variado maquinário para que fossem desenvolvidas as artes gráficas em suas terras. Molina, levando em consideração tais mudanças ocasionadas com a presença da corte no Brasil, mapeou os principais jornais que começaram a ser publicados pela Impressão Régia ou por tipografias particulares, que tinham a autorização do governo.
Destacou, assim, impressos variados, tais como a Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822), a publicar artigos que se posicionavam de forma favorável ou contrária ao governo de Portugal no Brasil.
Todavia, os jornais voltados para as discussões nos momentos da Independência ou da Regência tiveram um destaque especial na terceira parte deste volume. Foram apresentados primeiramente os jornais do Rio de Janeiro contrários à Independência, como o Conciliador do Reino Unido (1821) de José da Silva Lisboa, que, segundo Molina, não se omitia em defender a união entre os reinos de Portugal e Brasil. E, em seguida, um dos jornais que mais debateram sobre a possibilidade de o Brasil ser ou não um Império: O Republico, que começou a ser publicado durante um ano antes do início das regências, em 1830, mas que saiu por diversas vezes até 1855. Outros jornais publicados na cidade do Rio de Janeiro, que tiveram importante participação na história da imprensa do Brasil receberam igual atenção nesta parte do livro, tais como: o Correio do Rio de Janeiro (1822-1823), o Diário do Rio de Janeiro (1821-1959/1860- 1878), o Jornal do Commercio (1827-atual) e A Aurora Fluminense (1827-1835). Destacase, ainda, a presença de alguns jornais baianos, pernambucanos e, também, de outras províncias do país como, por exemplo, os do Rio de Grande do Sul.
O problema de maior relevo na história da imprensa nesse período apontado por Molina, na última parte de seu livro, foi a contradição entre os jornais terem sido importantes instrumentos na redefinição da vida social e política do país, mas, ao mesmo tempo, pouco lidos pelos brasileiros. Molina pontua, desse modo, as dificuldades da produção dos impressos: o maquinário ultrapassado, o grande número de analfabetos da população brasileira, as dificuldades de transportes, o valor elevado dos impressos, entre outros. Molina evidencia que as adversidades encontradas na fabricação das folhas periódicas fizeram que a mesma elite letrada que produzia os impressos era também quem os comprava.
Molina oferece nesse volume que, como mencionado, integrará futuramente um estudo de maior fôlego, uma análise minuciosa sobre o que a presença ou ausência de impressos pode revelar sobre história da imprensa brasileira. Destaca, sobretudo, as dificuldades de se manter a publicação dos jornais e a importante participação que eles tiveram na vida política e social do Brasil, independentemente de sua duração ou de sua posição ideológica. Em suma, com uma escrita agradável, uma leitura rigorosa das fontes e uma análise que inclui diferentes aspectos, a obra de Molina contribui para diminuir a falta desse tipo de estudo na historiografia brasileira e deixa estudiosos e interessados à espera dos próximos volumes.
Notas
1. Matías M. Molina também é autor de Os melhores jornais do mundo: uma visão da imprensa nacional (2007), de vários artigos publicados no Valor Econômico, entre outros.
Referências
AZEVEDO, Dr. Moreira de. Origem e desenvolvimento da imprensa no Rio de Janeiro.
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: B. L.
Garnier, t. XXVIII, v. 2, 1865, p. 169-224.
CARVALHO, Alfredo de. Gênese e progressos da imprensa periódica no Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, parte I, 1908.
DIMAS FILHO, Nélson. Jornal do Commercio: A notícia dia a dia (1827-1987). Rio de Janeiro: Fundação Assis Chateaubriand; Jornal do Commercio, 1987.
FONSECA, Manuel José Gondin da. Biografia do jornalismo carioca: 1808-1908. Rio de Janeiro: Quaresma, 1941.
MOLINA, Matías M. História dos jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500- 1840). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. v. 1.
NOBRE, José de Freitas. História da imprensa de São Paulo. São Paulo: Leia, 1950.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822): cultura e sociedade. Rio de Janeiro: Eduerj, 2007.
SODRÉ, Nelson Werneck. A história da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.
Amanda Peruchi
MOLINA, Matías M. História dos jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500-1840). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. v. 1. 560p. Resenha de: PERUCHI, Amanda. No rastro das folhas periódicas: os impresos na historiografia brasileira. Revista Ágora. Vitória, n.23, p.292-297, 2016. Acessar publicação original [IF].
Elites e instituições no Brasil colonial | Escrita da História | 2016
A nova edição da Revista Escrita da História – REH, de número cinco, é composta pelo dossiê Elites e instituições no Brasil colonial, que reúne quatro trabalhos de jovens que buscam, cada qual a seu modo, relacionar as trajetórias de setores das elites coloniais às transformações políticas e econômicas da sociedade colonial. Percorrem-se os espaços mais diversos da colônia, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, para mostrar como, em cada contexto, respeitadas as devidas particularidades, as elites locais se articulavam, se apropriavam das prerrogativas das câmaras municipais, e se relacionavam com as autoridades régias, defendendo seus interesses e integrando-se ao Império português.
O artigo que inaugura o dossiê recebe o título O papel das elites locais na criação de vilas na porção meridional da América portuguesa (séc. XVI-XVIII): o caso da capitania de São Vicente. Trata-se de uma síntese da pesquisa de doutorado do autor, Fernando V. Aguiar Ribeiro, defendida recentemente junto ao Programa de PósGraduação em História Econômica da Universidade de São Paulo. Ao longo do texto, é feita uma análise do papel das elites políticas paulistas no processo de criação de vilas no planalto da capitania de São Paulo ao longo dos séculos XVI, XVII e grande parte do século XVIII. Procura-se demonstrar que, ao contrário do que ocorria em outras regiões, grande parte das vilas paulistas coloniais foram criadas por iniciativa de setores específicos das próprias elites locais, normalmente por aqueles indivíduos que ocupavam postos periféricos na Câmara Municipal de São Paulo. O estudo evidencia que o acesso à cúpula dessa instituição era condição essencial para garantir a posse da terra na região, e por isso os ocupantes de postos periféricos na administração local acabavam edificando, ao longo do planalto, outras estruturas político-administrativas, onde poderiam ocupar postos centrais e, a partir deles, garantir seu acesso a terra, gozar de maior prestígio e controlar todas as prerrogativas inerentes às câmaras municipais coloniais. Leia Mais
La carte perdue de John Selden: sur la route des épices en mer de Chine – BROOK (DH)
BROOK, Timothy. La carte perdue de John Selden: sur la route des épices en mer de Chine (1). Paris: Payot & Rivages, 2015, 295p. Resenha de: NICOD, Michel. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.177-178, 2016.
Comment rédiger un ouvrage d’histoire à partir d’une carte du Sud-Est asiatique et de la Chine ? Pour l’enseignant qui le lirait, comment, se basant sur cet ouvrage, élaborer une séquence pour ses élèves ; à savoir faire étudier le trafic commercial au xviie siècle dans la région du monde qui connaît l’essor le plus florissant du commerce maritime.
Timothy Brook est sinologue. Plusieurs de ses travaux ont été consacrés à la Chine des Ming au xviie siècle, et à ses relations avec l’Europe. Son ouvrage précédent, Le Chapeau de Vermeer2, se place dans le courant de l’histoire connectée.
Dès lors, dans La Carte perdue de John Selden, nous nous intéressons aux tentatives des Européens, et ici des Anglais, de nouer des relations commerciales avec la Chine au xviie siècle. Quelles sont les difficultés rencontrées par les Européens dans cette entreprise ?
Le dernier ouvrage de Timothy Brook répond à ces questions. Il se place parmi de nombreuses publications d’historiens qui, depuis 20 ans, étudient les relations entre l’Europe, l’Asie et la Chine. Alors que bien des études mettent en relief l’isolement de la Chine, Brook nuance cette vision. Ainsi, du xve au xviiie siècle, la Chine est considérée comme l’un des pays les plus avancés du monde. Son artisanat, son administration, son imprimerie, son économie font d’elle l’un des pays les plus riches. Ses exportations, même faibles, participent au commerce international et satisfont les consommateurs européens3.
Or, le gouvernement impérial n’encourage pas le commerce maritime, car il s’estime menacé et concentre ses forces pour garder sa frontière nord. Par ailleurs, le gouvernement de l’empereur ne porte pas d’intérêt à l’ouverture de la Chine vers le monde extérieur. Mais les aléas climatiques et les menaces sur la Grande muraille fragilisent4 le pouvoir impérial qui, finalement, cède place à une nouvelle dynastie.
Ainsi, le pays ne se maintient pas constamment dans cet isolement immuable que nous lui prêtons. Dès lors, des commerçants chinois se mettent à voyager et s’établissent en Asie du Sud-Est, notamment à Java. Ils vendent et achètent des articles en porcelaine et des épices.
Dans cette région, à Bantam, vers 1608, une carte a sans doute été fabriquée, puis acquise par un capitaine anglais faisant du commerce avec le Japon. Brook nous précise qu’il s’agit d’une carte, unique, remarquablement précise sur laquelle sont tracées les principales voies de navigation empruntées par les marchands chinois. Les inscriptions de la carte, en chinois, désignent les villes et pays avec lesquels les Chinois commerçaient. Il est dit que ces inscriptions sont la transcription phonétique des mots d’origine espagnole, japonaise et chinoise d’où la maîtrise nécessaire pour accéder à leur compréhension.
En 2008, cette carte a été découverte dans la bibliothèque Bodléienne en Angleterre où John Selden, juriste et humaniste, l’avait déposée en 1654. Les historiens spécialistes de cette époque ont organisé un colloque, suivi par la publication d’un article de Robert Batchelor5, puis de l’ouvrage de Timothy Brook.
Dans son ouvrage, Timothy Brook étudie cette carte et le monde dans lequel elle a été produite. L’ouvrage contient trois parties:
Une présentation de l’Angleterre des derniers rois Stuarts où les premiers érudits tentent d’apprendre le chinois et certains annotent la carte. Les débats des humanistes au sujet du droit d’accès à la navigation figurent dans cette partie.
Les premiers efforts infructueux de l’EIC (Compagnie anglaise des Indes orientales) pour nouer des contacts commerciaux avec la Chine depuis le comptoir qu’elle avait établi au Japon. La concurrence hollandaise, les difficultés de la navigation, la malchance la poussent à renoncer à ses efforts après 10 ans.
Une étude minutieuse de la carte permet de comprendre la vision géographique du monde de son auteur: à savoir, la description de l’Asie du Sud-Est en sus de celle de la Chine. En effet, contrairement aux cartes chinoises de cette époque, cette carte se distingue par le fait que la Chine n’y occupe pas une place centrale.
Pour rédiger ce livre, sa maîtrise hors pair du chinois permet à Timothy Brook d’employer deux ouvrages chinois de la même époque pour déchiffrer les inscriptions de la carte. Les moyens techniques dont disposaient les navigateurs chinois et européens, les représentations que Chinois et Européens se faisaient du territoire chinois sont parmi les points mis en valeur dans ce livre.
Brook nous rappelle qu’au xviie siècle, l’économie chinoise est la plus importante du monde. Ses navires sont aussi performants que les navires européens, et elle occupe une place centrale dans le monde marchand. Rappelons que les routes maritimes en Asie suivies par les commerçants européens ont été ouvertes par les Asiatiques.
Ainsi, l’ouvrage de Timothy Brook est une prouesse d’érudition, où le lecteur se perdra parfois dans la très riche onomastique. Cet ouvrage précieux et riche pour le public déjà initié à ce domaine reste une découverte pour le lecteur peu familiarisé avec cette période: à mi-chemin entre les grandes découvertes et la colonisation européenne du xixe siècle.
[Notas]1 Brook Timothy. La carte perdue de John Selden: sur la route des épices en mer de Chine. Paris: Payot & Rivages, 2015, 295p.
2 Brook Timothy, Le Chapeau de Vermeer, le xviie siècle à l’aube de la mondialisation, Paris: Payot, 2010.
3 Voir Trentmann Frank, How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First, Allen Lane Hb, 2016.
4 Voir Brook Timothy, Sous l’oeil des dragons, Paris: Payot, 2012, p. 73-74.
5 Batchelord Robert (2013): « The Selden Map Rediscovered: A Chinese Map of East Asian Shipping Routes, c.1619 », in Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography, 65 (2013);1, p. 37-63.
Michel Nicod – EPS Roche-Combe Nyon.
[IF]História Mínima de Chile | Rafael Sagredo Baeza
Intitulada História Mínima de Chile, a obra de Rafael Sagredo Baeza propõeuma interpretação atual dos processos que auxiliaram na constituição da história do Chile, estabelecendo um panorama que se inicia com uma discussão acerca daqueles a que chama de “os primeiros americanos” e que se estende até a retomada da democracia após o regime militar chileno e a ditadura de Augusto Pinochet. Dotada de um virtuosismo informativo e descrições minuciosas e extremamente pertinentes para a narrativa que deseja empreender, a História Mínima de Chile é uma produção de imenso fôlego que condensa uma perspectiva de larguíssima duração acerca das personagens e dos eventos que figuram a história chilena.
A obra de Rafael Sagredo divide-se em catorze capítulos, além da apresentação e de um epílogo, a que o autor nomeia Colofón. Na apresentação, Sagredo expõe que seu intuito consiste em propor uma distinta explicação dos processos essenciais que, de alguma forma, teriam corroborado com a paulatina edificação de uma história propriamente chilena do ponto de vista sumariamente nacional. Em menção a Claudio Gay, naturalista francês autor da primeira história do Chile, datada de 1839 – chamada por Baeza de “a monumental” História Física y Política de Chile -, o autor afirma que a necessidade de que fosse escrita uma história do Chile era fortíssima em meados do século XIX, pois que àquela altura era urgente “constituir uma comunidade imaginada, entre outros meios, mediante a invenção de uma tradição” (p.12). Tanto isso é legítimo, que a própria noção de América Latina teria sido formulada três anos antes da publicação da obra de Gay pelo viajante francês Michel Chevalier, como enunciam diversos estudos sobre o tema.
Em “Los Habitantes de lo más hondo de la tierra”, capítulo que inicia a obra, Rafael Sagredo trata do Chile por meio do vocativo “el último Rincón del continente”, em apelo ao aspecto periférico em termos geográficos que, de acordo com o autor, justifica muitas das especificidades e peculiaridades da trajetória chilena que são explicitadas no desenrolar da obra. Em “La Conquista de América y sus Protagonistas”, bem como em “Chile, finis terrae imperial“, o autor trata da expansão europeia e do estabelecimento dos chamados conquistadores espanhóis em território chileno, discorrendo principalmente acerca do “afã de glória” e do “espírito aventureiro dos conquistadores espanhóis” – traços que, segundo Baeza, também constituíram fortes estímulos para a conquista, pois que os homens que a empreenderam desejavam relacionar seus nomes a “grandes descobrimentos ou com a origem de algum povo”; algo que, para o autor, desencadeou um processo cujos resultados marcaram de forma notável a sociedade que dele se originou.
No capítulo seguinte, intitulado “Chile colonial, el jardín de América”, Sagredo parte da ocorrência da chamada Guerra de Arauco para estabelecer um ponto de mudança no fluxo da trajetória narrativa, pois que a vitória araucana no conflito possibilitou a emergência de novas situações no contexto colonial que, segundo ele, permitiram “que se realizasse plenamente os processos econômicos, sociais e culturais”, dado que agora adquiriam sua real significação (p.70). Nesse capítulo, se faz patente uma das prerrogativas apresentadas pelo autor na apresentação da obra: a de que a historiografia de “praticamente qualquer nação” (p.12) engendra uma propensão a exaltar os fatos que narra, tornando qualquer história nacional uma história predominantemente épica – aspecto interpretativo que será retomado nesta resenha.
O capítulo “La Sociedad Mestiza” apresenta uma perspectiva acerca dos perfis sociais em pauta, tratando de sua relação com a vida material, com a arte e com a cultura a partir do modo com que se constituíram desde o período que sucedeu a Guerra de Arauco. Merece destaque o intertítulo “La hospitalidad como compensación coletiva”, em que Baeza trata dos testemunhos emitidos pelos viajantes e cientistas que passaram pelo território americano e documentaram os costumes da comunidade com que se depararam. O autor enaltece o fato de que havia uma consciência comum entre esses viajantes em relação à ideia de que o Chile – como espaço de dinâmica formativa – era um local a receber “muito generosamente” os estrangeiros que por ali transitavam; e dedica uma atenção especial à questão do comportamento feminino em relação aos forasteiros.
Em “La Organización Republicana” e em “El orden conservador autoritário”, Rafael Sagredo condensa em cerca de vinte páginas o período que se inicia com os antecedentes da independência chilena e que se estende até uma interessante proposição em que sugere ser possível afirmar que o Chile se desenvolveu como uma sociedade marcada por sua posição geográfica e sua realidade natural, aspectos que teriam condicionado inevitavelmente sua organização republicana:
O impacto da realidade natural na organização institucional chilena se aprecia na opção nacional de privilegiar a ordem e a estabilidade sobre a liberdade, chegando a implementar um regime de tal maneira autoritário que, inclusive a noção de república em algumas ocasiões ficou suspensa. Interpretamos que tenha sido um imperativo derivado da ponderada ordem natural o que levou à correspondente ordem autoritária que caracterizou a existência republicana do Chile. (p.132)
Nos dois capítulos que subsequentes, intitulados “La Capitalización Básica” e “La Expansión Nacional”, o autor da Historia Mínima de Chile aborda o desenvolvimento social e cultural chileno por meio de a partir de processos como a mineração, a expansão agrícola e os investimentos no sistema monetário e nas indústrias, destacando que, apesar do extraordinário progresso experimentado pelo país ao longo do século XIX, as melhorias na instância sanitária foram muito lentas. Tanto que, no âmbito da microeconomia, o povo chileno se manteve inserido por muito tempo num contexto de doenças e epidemias que garantiram uma altíssima taxa de mortalidade ao longo do século. Entre os meios para superar as enfermidades, era comum que se realizassem banhos de água quente com ervas, que se fizessem pomadas à base de resíduos vegetais e animais, e que se consumisse uma quantidade considerável de erva mate e aguardente. De acordo com Sagredo, “a varíola, transformada em doença endêmica, foi a que provocou maior mortalidade ao longo do século” (p.171).
Em “Los conflitos internacionales”, Rafael Sagredo aborda a guerra enfrentada pelo Chile contra a Espanha, bem como as disputas territoriais relacionadas ao que chama de controvérsias limítrofes, tratando dos conflitos intracontinentais inerentes ao estabelecimento das fronteiras geográficas americanas. Além dos dois fenômenos, o autor discorre acerca da chamada Guerra do Pacífico – peleja em que estiveram envolvidos também o Peru e a Bolívia -, que concebe como “um conflito de caráter econômico”, dado que o grande mote do embate estava na disputa por recursos naturais como o guano e o salitre, nitratos abundantes na região do deserto do Atacama – território sobre o qual o drama do conflito se estendeu (p.191).
No capítulo “La sociedad liberal”, Baeza faz um contraponto muito bem detalhado entre o Chile colonial, de perfil paternalista e agrário, e as mudanças ocorridas ao longo do século XIX que fomentaram a emergência de um país de bases capitalistas firmadas na exploração minera e no comércio. O autor afirma que, em consequência da dinâmica da economia do século 19, “apareceram novos grupos sociais como a burguesia, a classe média e o proletariado”, o que culminou na consolidação de “uma nova cultura marcada pela ética liberal, que acabou por legitimar o domínio burguês” (p.195). O capítulo se encerra com uma pertinente abordagem sobre a Guerra Civil de 1891 e prenuncia os temas tratados em “La crisis del régimen liberal”, que engendra a vitória dos chamados congresistas e a instauração do Parlamentarismo, o que teria condicionado o enfraquecimento da figura presidencial naquele contexto. De acordo com Baeza, “para a opinião pública, o presidente teria deixado de ser o protagonista da vida nacional, transformando-se em um ator ‘impotente’, um ‘elemento decorativo’, uma ‘pedra de esquina'” (p.213). Tratando da situação social, da fragilidade econômica que acometia o panorama chileno e do paulatino surgimento de intelectuais, escritores, ensaístas, literatos e acadêmicos que começaram a “denunciar as desigualdades e abusos existentes na sociedade liberal”, Sagredo menciona o gradual advento de um programa definido e consciente de governo que teria emergido do citado estrato intelectual chileno. Algo que teria impulsionado o chamado “esforço desenvolvimentista”, expressão que nomeia o capítulo seguinte.
Em “El esfuerzo desarrollista”, Rafael Sagredo trata das tentativas de industrialização no Chile a partir de projetos empreendidos pela chamada Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), cujo magno intuito era transformar o Estado chileno em um agente econômico fundamental, apesar do “flagelo da inflação” que acometia o cenário socioeconômico do Chile àquela altura. Como bem pontua o autor, o “impulso determinante” para que o esforço desenvolvimentista começasse a ser aplicado foi a ocorrência do terremoto de Chillán, “que em 1939 destruiu a Zona Central do Chile, e para cuja reconstrução o Estado se envolveu idealizando um plano que incluiu a agência promotora de desenvolvimento que foi a Corfo, cujos conceitos básicos já tinham sido esboçados na década de 1930, entre outros, pelas organizações e uniões de empresários” (p.228).
Para Baeza, uma das principais características da história do Chile na segunda metade do século XX está na existência de “profundos desequilíbrios nas estruturas sociais e econômicas”.O autor menciona, por exemplo, que o desenvolvimento do setor industrial e minero teria sido muito superior àquele alcançado pelo mundo agrícola – no que diz respeito ao viés econômico -, e trata também do grau de bem-estar alcançado pelos setores médios e proletários urbanos quanto ao âmbito social, se comparado às circunstâncias que engendravam a realidade camponesa que fora vigente até então (p.248). No último capítulo da obra, intitulado “Crisis y recuperación de la Democracia”, Baeza sintetiza o período que se inicia com o episódio significativo da eleição de Jorge Alessandri em 1958, passando pelo golpe militar de 1973 – e aqui, vale destacar o intertítulo “El autoritarismo em Chile” – e direcionando a conclusão de sua análise para uma discussão acerca de recuperação da democracia, fato que viabilizou a implantação das políticas econômicas denominadas de “crescimento con equidad” e das expectativas que deveriam ser fomentadas através da celebração do bicentenário chileno, dado que a insatisfação social pós-regime militar era pungente e se refletia sobretudo na demanda por um sistema educacional de qualidade (indagação essa tida pelo autor como uma “constante histórica” na sociedade chilena, pois que há muito eram presentes as manifestações de descontentamento quanto à educação nacional).
Para além do panorama redigido acerca da Historia Mínima de Chile, é necessário ponderar minimamente certo viés de abordagem épico – que pode soar teleológico a um leitor que não se disponha a compreender o projeto narrativo de Rafael Sagredo – que perpassa toda a obra, e que se pode notar a partir da seleção lexical do autor desde a menção à “La Araucana”, poema do espanhol Alonso de Ercilla que figura um dos trechos da apresentação da Historia. Muitos são os vocábulos que denotam a questão aventada. Sagredo afirma que “os chilenos têm motivos para sentirem-se orgulhosos de uma evolução histórica“, e dialoga a todo o momento com a necessidade de explicar por quais razões os fatos em questão “teriam ocorrido de um modo inesperado, diferentemente de como, de acordo com a ‘história oficial’, supõe-se que deveriam ter acontecido”. No epílogo, Baeza trata do Chile como a chamada “estrela solitária” que deveria atingir o estágio de “cópia feliz do Éden” ao longo de sua história. Ora, se o projeto narrativo de Sagredo Baeza tem a ver com a elaboração de uma história nacional regida pela ideia de “ciclos históricos” conformados por três etapas “perfeitamente identificáveis”, que se associam a períodos de expansão, crise e autoritarismo, se faz plausível que os vocábulos empregados pelo autor expressem, em alguns momentos, uma face épica e um tanto quanto heroica. Se, para o autor, a historiografia de “praticamente qualquer nação” propende a exaltar os fatos que narra, é admissível que sua linguagem contenha traços de pujança, magnificência e grandiosidade épica.
Coesa e informativa, a Historia Minima de Chile se apresenta como uma grande contribuição historiográfica que não se esgota à consecução do âmbito acadêmico. Por sua linguagem fluida, explicativa e de fácil compreensão, a obra pode destinar-se também àqueles que se interessem pela trajetória chilena sem que estejam impreterivelmente inseridos nas discussões científicas acerca da mesma. Essa talvez seja, inclusive, uma das grandes virtudes que abarcam o fluxo narrativo de Sagredo em sua indispensável – sobretudo porque renovada e contemporânea – abordagem sobre a história do Chile.
Mariana Ferraz Paulino – Departamento de História da Universidade de São Paulo – USP São Paulo, SP, Brasil. E-mail: mariana_ferraz_paulino@hotmail.com
BAEZA, Rafael Sagredo. História Mínima de Chile. Madrid: Turner Publicaciones S. L., 2014. Resenha de: PAULINO, Mariana Ferraz. História nacional na longa duração: Chile, dos “primeiros americanos” ao século XXI. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 223-226, jan./abr., 2016.
Acessar publicação original [DR]
História da América Latina / Maria Ligia Prado
O espaço reservado à história da América Latina em editoras de livros didáticos e acadêmicos – assim como da África – tem se ampliado no decorrer dos últimos anos. Parte do resultado deve-se ao empenho de professores-pesquisadores dessa área, que têm empreendido inúmeros esforços para que os brasileiros conheçam melhor os fatos, personagens e processos que compõem a rica narrativa histórica dessa região tão complexa e diversificada em termos tanto geográficos quanto culturais. Embora essa realidade esteja se configurando, ainda é perceptível a ausência de trabalhos que sejam, além de acessíveis a públicos distintos, também, confiáveis, sob o ponto de vista histórico, teórico e metodológico.
A obra História da América Latina é parte integrante da Coleção “História na Universidade”. A larga experiência de pesquisa e de ensino na área de História da América de suas autoras, Maria Ligia Prado e Gabriela Pellegrino Soares, ambas, docentes-pesquisadoras da Universidade de São Paulo, confere legitimidade ao trabalho. Dividido em doze capítulos a publicação é composta por um panorama amplo de temas, privilegiando aqueles mais recorrentes nos cursos de graduação de História, na disciplina de América Latina.
Respeitando os protocolos próprios do ofício do historiador – leitura crítica das fontes, conhecimento sólido da bibliografia e emprego das ferramentas teóricas e metodológicas (p.9) –, as pesquisadoras demonstram cautelas necessárias na análise das conjunturas históricas e ações dos múltiplos sujeitos ali tratados. Distanciam-se, por exemplo, de armadilhas traiçoeiras, como dividir personagens em dois campos opostos e simplistas, que oscilam entre a “heroicização” e a “demonização”.
O leitor não encontrará análises e discussões metodológicas sobre as múltiplas fontes citadas – não é a proposta. Contudo, ao tratarem sobre os temas, fazem frequentes referências a romances, textos de imprensa, filmes, ensaios, memórias, cartas, imagens (pinturas, fotos), músicas e filmes que foram explorados – de forma crítica e aprofundada – por elas e/ou outros historiadores, noutros trabalhos nos quais se debruçaram sobre grandes questões da América Latina, analisando tais documentações. Algumas dessas pesquisas são relacionadas, no fim da obra, como indicações de leituras.
Prado e Soares fazem questão de ressaltar a dificuldade e, ao mesmo tempo, a urgência da ênfase às especificidades no trato das histórias dos países latino-americanos. Dessa forma, ao tratarem das temáticas, embora busquem estabelecer conexões entre os respectivos contextos históricos, contemplando experiências que transcenderam fronteiras nacionais, demonstram sérias preocupações em marcar as diferenças que caracterizaram a história de cada Estado nacional. Frente à impossibilidade de abordarem todos os temas e países de forma equânime, optaram por alguns enfoques com o formato “box”, de modo que certos temas e trajetórias biográficas foram analisados separadamente. Alguns deles: as independências do Haiti, do México e de Cuba; Reforma Universitária de Córdoba, de 1918; escravidão na América Espanhola; os conflitos políticos na região do Rio da Prata; a guerra entre México e Estados Unidos, a Guerra no Pacífico e suas implicações e um recorte biográfico de Eva Perón.
Sobre o Brasil, “parte da América Latina” – como gostam de sublinhar –, pode-se afirmar que não foi tomado como alvo de reflexões específicas. No entanto, as pesquisadoras traçaram uma narrativa paralela, travando aproximações com os demais países, desde o processo de colonização ibérica, as lutas por independências políticas, a formação dos Estados nacionais, chegando até o século XX, com assuntos ligados às Ditaduras Civis-Militares.
Optaram por iniciar o texto historicizando a denominação “América Latina”. Ali, já fica evidenciado o quanto a origem e difusão do termo trouxeram, no seu bojo, variados interesses – externos e internos – que estiveram presentes no tabuleiro das pelejas políticas e ideológicas. São colocadas em discussão as apropriações e manipulações do conceito bem como as disputas envolvendo interesses expansionistas, considerando os campos de atuação e influência por parte da Europa – naquele momento, França, em especial. Merece atenção a vertente mais recente, que considera que “[…] a denominação não foi imposta, mas cunhada e adotada conscientemente pelos latino-americanos, a partir de suas próprias reivindicações […].” (p. 9)
Ao abrirem o livro com o tema das identidades, tão caro aos pesquisadores da área, a América Latina é apresentada como um cenário marcado por complexas estratégias da parte de atores e interesses em disputa que se travaram (e se travam) no cenário geopolítico e cultural. Textos ensaísticos clássicos, bastante conhecidos por estudiosos da área são mencionados, com o intuito de dar uma dimensão do quanto a região tem uma história vibrante, além de mostrar os embates identitários em jogo. Entre outros, Nuestra América, do cubano José Martí, Carta de Jamaica, do venezuelano Simon Bolívar ou Ariel, do uruguaio Enrique Rodó.
As Independências Latino-americanas, um dos “grandes temas” de América, mereceu destaque e a análise considerou as dificuldades inerentes à difícil arte da conciliação de interesses, as disputas e visões divergentes de líderes políticos e grupos sociais que compuseram a trama que marcou o longo e complexo trajeto de luta. Não foi omitido o registro dos sentimentos díspares de líderes que, como Simón Bolívar ou Bernardo de Monteagudo conviveram com esperanças e desencantos ao longo do processo.
A “guerra” de símbolos, a construção de representações e discursos identitários, em disputa pelos sujeitos históricos, também estiveram presentes no momento da formação dos Estados nacionais, processo longo, marcado por inúmeros avanços e recuos na história de cada um dos povos da região. Maria Ligia Prado e Gabriela Pellegrino Soares deixam evidenciado, na escrita, o quanto o processo envolveu embates de forças antagônicas que evidenciaram dissensos regionais articulados em torno de duas forças principais: Liberais e Conservadores ou, no caso argentino, “Unitários” e “Federalistas”. Cada um dos grupos é bem examinado, de forma que o leitor possa entender os seus horizontes políticos e as razões de suas disputas.
O tema da “Modernidade” perpassa alguns capítulos, sendo entrelaçado, especialmente, com a temática da identidade nacional. Ao abordarem-no, não negligenciam as necessárias distinções entre conceitos relacionados (modernização e modernismos). No campo da Educação, enfatizam projetos culturais colocados em prática pelos governantes, em associação com artistas e intelectuais. Com campanhas de alfabetização e outras ações, eles buscavam “elevar” o nível cultural e técnico de grupos subalternos, preparando-os para as necessidades e exigências da “modernidade”. A leitura de artistas e intelectuais frente aos esforços de governantes e elites econômicas para engendrarem a modernização, não passou ao largo da análise. Seja quando esses artistas se referiam às mudanças, dando conotações positivas ou quando se manifestaram, denunciando os custos sociais e humanos que as inovações técnicas, o “desenvolvimento” alteraram as relações de grupos com a terra e com o trabalho.
Sobre o papel da Igreja Católica no imbricado jogo das questões políticas, em vez de simplesmente reforçarem a atuação da instituição ao lado de grupos conservadores que desejaram, desde a Colonização, a manutenção do status quo de grupos dominantes, bem como de antigos privilégios e prerrogativas assegurados a ela (educação, posse de terras), Maria Ligia Prado e Gabriela Pellegrino exploraram as complexidades do papel desempenhado pela instituição, no contexto latino-americano. Ressaltam, claro, que sendo a Igreja altamente hierarquizada esteve, em inúmeros contextos, ao lado de grupos dominantes, usando de ideologias religiosas para dissuadir os rebeldes. No entanto, lembram que figuras atreladas ao universo religioso nem sempre estiveram do lado conservador, mas se destacaram em momentos importantes, como nas lutas pela Independência, atuando ao lado dos “rebeldes”, abraçando causas sociais de movimentos populares. Casos emblemáticos foram os curas Miguel Hidalgo e José María Morelos, que lideraram o primeiro movimento pró-emancipação do México em relação à Espanha, em 1810. A rebelião alimentou esperanças, ao proclamar o fim da escravidão negra, o fim do pagamento de tributos indígenas e propor a distribuição de terras – inclusive da Igreja –, contando, assim, com a adesão de indígenas e camponeses. Pela radicalidade contida no movimento, nessa fase inicial, logo foi sufocado e seus líderes executados.
Ao contemplarem numerosos temas, explorando um amplo recorte cronológico que foi do século XVI – marco do processo colonizador – até o século XX, incluíram múltiplos atores sociais que participaram dos eventos citados e narrados. Além dos “grandes vultos”, que se tornaram conhecidos pela liderança exercida nos movimentos políticos, outros sujeitos e suas formas de ações foram contempladas pelas autoras: soldados anônimos, intelectuais, negros, mulheres, indígenas, camponeses e operários. Vale ressaltar que não foram esquecidas as diversas formas com as quais aqueles que ocuparam o poder – no plano interno e externo –, em fases distintas da História, lidaram com as demandas dos grupos reivindicantes. Assim como em determinados momentos esses grupos não se privaram de usar a força para reprimirem duramente as demandas, em outras circunstâncias, viram-se obrigados a ceder, fazendo uso do diálogo e das negociações, desenhando, assim, novas configurações nas relações de poder.
Conceitos como “caudilhos” e “populismo”, usualmente utilizados erroneamente em determinados textos e contextos relacionados à América Latina, não compõem o repertório da escrita da obra. Este último, por exemplo, tão recorrente em segmentos da imprensa quando se referem a algumas lideranças latino-americanas, foi evitado pelas autoras, por entenderem-no “demasiadamente genérico, eclipsando as particularidades nacionais” (p. 131). Em vez disso, optaram por tratar de “políticas de massas”, discutindo ações de lideranças carismáticas de alguns países latino-americanos (anos 1940 e 1950), que se mostraram capazes de manter a ordem, num período em que as classes populares lutavam por ganhar espaço no cenário político e exigiam reformas. Sob a égide do Estado, uma série de mudanças ocorreram e as formas de ações desses governantes variaram entre reformas que concederam direitos sociais, propaganda, cooptação e, também, repressões.
Dois movimentos revolucionários ocorridos na América Latina, no século XX, mereceram maior atenção em História da América Latina: a Revolução Mexicana e a Cubana. Em comum, o fato de imprimirem novos contornos na ordem estabelecida, tanto no plano interno, quanto externo. A do México, por ter sido a primeira do século, antes mesmo que a Russa, ocorrida em 1917, quase uma década após a da América. Também, por seus desdobramentos políticos, culturais e sociais, envolvendo novas configurações nas relações de gênero, leis de reforma agrária, nacionalizações de bancos e empresas estrangeiras. A de Cuba, além de alguns desses aspectos, pelas consequências produzidas no cenário latino-americano. Uma delas e a mais crítica, por tornar-se símbolo de luta contra o imperialismo norte-americano. Sob o temor de que outras nações latino-americanas seguissem o “mau” exemplo cubano, redundou no apoio do “irmão do Norte”, os Estados Unidos, na implantação das ditaduras.
A partir dos anos 1960, tempos de “Guerra Fria”, quando duas ideologias dominantes provocavam polarizações no globo, os países da América Latina coincidiram no compartilhamento de experiências políticas de regimes autoritários. Com intervalos maiores ou menores e com distintos graus de repressão, guardam feridas abertas em diversos países, inclusive no Brasil. Não mais são denominadas simplesmente como “militares”, mas “civis-militares”, posto que, sabidamente, contaram com o apoio da parte significativa de forças conservadoras da sociedade civil – empresários, imprensa, Igreja, cidadãos comuns. São apresentadas, na obra, como resposta ao alto grau de mobilização de alguns setores em países latino-americanos naquele momento: sindicatos, partidos de esquerda, ligas camponesas, guerrilhas indígenas ou movimentos estudantis. Chile, Nicarágua, Peru, Paraguai, Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia, El Salvador são contemplados nessa questão, ressaltando-se as especificidades de cada caso.
“Cultura e Política”, além de ser abordagem presente durante todo o livro é, também, o título do último capítulo. A imagem da “Orquestra Sinfônica Simón Bolívar”, composta por 180 músicos venezuelanos que tocaram na Sala São Paulo, em 2013, foi a estratégia utilizada para encerrar a obra, focando a América Latina Contemporânea. O resultado visto na apresentação em São Paulo teve sua origem em 1975, por meio da iniciativa de um musicista-economista que, como outras iniciativas colocadas em prática na América Latina, ao longo do século XX, buscou difundir acesso gratuito à cultura – nesse caso, educação musical – promovendo inclusão social e cultural a jovens e crianças provenientes de meios populacionais carentes.
A música como intervenção social foi motivo para reflexões, colocando a ênfase do capítulo sobre a Nueva Canción, movimento artístico e político que articulou nomes da música de alguns países no engajamento de oposição aos governos militares, nos anos 1960 e 1970. O pano de fundo serviu para evidenciar o quanto, em diversos momentos e contextos, a circulação de ideias e o compartilhamento de experiências contribuíram para que latino-americanos se articulassem em utopias e perspectivas de transformações sociais e políticas.
O contexto latino-americano das últimas décadas, marcado por cenários de ascensão de mulheres ao andar mais alto da política; a chegada ao poder de governos “progressistas” em alguns países, avanços sociais e, por sua vez, numa perspectiva ainda mais recente, as reações de grupos conservadores às mudanças colocadas em prática; a apresentação de possibilidades de recomposição das relações de Cuba com os Estados Unidos são fatos que conferem à obra uma relevância ainda maior, já que os leitores terão condições de compreender melhor o diálogo entre passado e presente.
História da América Latina atende, portanto, às expectativas e necessidades de um público bastante amplo – acadêmico ou não. Aos “iniciantes”, o prazer da leitura de uma obra na qual poderão embarcar no horizonte histórico (político e cultural) latino-americano, conduzidos pela experiência de duas pesquisadoras sérias que decidiram compartilhar parte do seu fascínio por essa região do globo. Aos “iniciados”, a satisfação de terem contato com uma narrativa histórica livre de voluntarismos e anacronismos, comuns a algumas obras que, essencialmente comprometidas com o aspecto comercial, são lançadas no mercado editorial vendendo-se como “guias”, isto é, como promotoras de um suposto e ilusório contato com a “verdadeira” história da América Latina. Sem tais pretensões, a obra resenhada cumpre a função de atender a estudantes e professores que queiram e necessitem acesso a abordagens e interpretações fundamentadas, oferecendo importante contribuição no que concerne à construção do conhecimento histórico crítico.
Romilda Costa Motta – Doutora pela Universidade de São Paulo. Professora do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP-SP). São Paulo, Brasil. E-mail: romildamotta@hotmail.com.
PRADO, Maria Ligia; SOARES, Gabriela Pellegrino. História da América Latina. São Paulo: Contexto, 2014. 206p. Resenha de: MOTTA, Romilda Costa. A História da América Latina sob perspectiva crítica. Outros Tempos, São Luís, v.13, n.21, p.285-290, 2016. Acessar publicação original. [IF].
Nzinga Mbandi e as guerras de resistência em Angola: século XVII / Mariana F. Bracks
A obra publicada recentemente pela editora Mazza e intitulada “Nzinga Mbandi e as guerras de resistência em Angola, século XVII” é fruto da dissertação de mestrado defendida pela professora Mariana Bracks Fonseca na Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo sob a orientação da professora doutora Marina de Mello e Souza. Com experiência na área de História da África, especialmente História de Angola durante os séculos XVI e XVII, temáticas como o desenvolvimento do tráfico negreiro e a resistência política de personagens africanos, como a rainha Nzinga Mbandi, compõem os principais interesses de pesquisa da autora.
Nas primeiras páginas que compõem a introdução, Mariana Fonseca atenta para o exaltar da rainha Nzinga pelos movimentos políticos como MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) e UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola). Utilizando conceitos como “nação” associado a concepções modernas, ou ainda “luta de classes”, estes movimentos políticos mitificam a rainha como uma personagem símbolo de resistência ao colonialismo português. O texto de Fonseca grifa que essa produção de memória, ou imagem como quer a autora, habita o imaginário angolano contemporâneo.
Como sugere Fonseca, houve exageros interpretativos que fomentam os nacionalismos nos movimentos políticos em Angola. Observando o posicionamento da autora, compreendemos a utilização da imagem de capa, que consiste em uma fotografia da estátua da rainha Nzinga erguida em Luanda no ano de 2015. O maximizar desse sentido de “resistência” cunhado à obra é o objetivo principal, e talvez por isso a escolha da ilustração. O mobiliário urbano luandense possui símbolos que enaltecem personagens históricos como a rainha Nzinga, com o objetivo de construir um ideal calcado em interpretações míticas da história.
A historiadora Mariana Fonseca está atenta a essas problematizações, no entanto, o esforço em ressaltar Nzinga enquanto uma líder tenaz falou mais alto. Isso resulta ao leitor alguns ganhos, como o adentrar por entre as instabilidades políticas de sobas e europeus, as complexidades das flutuações de fronteiras ou as empreitadas igualmente movediças do aliançar dos jagas, bem como discussões acerca da legitimidade do poder feminino do Ndongo, visto que o enfoque da obra de Fonseca são as resistências de Nzinga no século XVII, principalmente entre os anos de 1620 e 1630, quando segundo a autora houve maior oposição aos portugueses.
A rainha Nzinga, Jinga, Ginga ou Njinga habitou muitos escritos em diferentes contextos. Logo, há dificuldades em padronizar uma grafia. Esse problema é recorrente quando se atenta para historicidades das Áfricas nos seiscentos. As fontes documentais utilizadas no trabalho de Fonseca foram escritas por europeus falantes de diferentes línguas, além de difundidas e traduzidas de modo impossível de quantificar. Os escritos do padre Cavazzi e do soldado António Cadornega, e também de Fernão de Souza, fontes amplamente utilizadas pela autora, são um exemplo. Há ainda documentos administrativos advindos da compilação realizada por António Brásio junto ao Monumenta Missionária Africana, que também apresenta grafias não uniformes para designar a insígnia Nzinga.
Fonseca explica que grafa não só Nzinga, mas ainda outros termos como rios e localidades, bem como nomes e insígnias de diferentes personagens como os angolanos convencionam em um kimbudo. Essa decisão, principalmente se o trabalho se afasta temporalmente de uma África contemporânea será sempre arbitrária, como alerta a autora. Traduzir é já trair, e as opções tomadas pelos africanólogos caminham sempre em direção à coerência entre as interpretações das fontes e dos pesquisadores que já abordaram determinada temática.
Para além das fontes documentais, outros escritores também grafam a insígnia Nzinga de diferentes maneiras e constroem rainhas múltiplas em suas obras. Castilhon, Marquês de Sade, Bocage e mais tarde Hegel são exemplos citados brevemente no trabalho de Fonseca. Historiadores como Beatrix Heintze, John Thornton, Joseph Miller, Adriano Parreira e Roy Glasgow também são problematizados quanto as suas “Nzingas” e são substanciais para os estudos sobre essa personagem. Dentre muitos caracteres trabalhados por esses intelectuais, citamos o debruçar sobre um amplo corpus documental e o cruzamento deste, metodologia também empregada por Fonseca.
Mesmo com obras produzidas em contextos e sentidos distintos, como por exemplo, romances, poemas, crônicas e produções historiográficas, a personagem rainha Nzinga ainda é pouco conhecida no Brasil, como os estudos sobre História da África em geral. O livro de Mariana Fonseca não é uma biografia sobre a rainha. Apresenta muitos elementos que podem ser considerados como compondo experiências nominadas pela autora como “uma longa e conturbada trajetória”, caso pensarmos nos movimentos políticos, militares e ainda religiosos, que apesar de costumeiramente os distinguirmos nos seiscentos e regiões adjacentes ao Ndongo, se entrelaçavam em uma instigante tessitura.
O território do Ndongo, nas descrições de Cavazzi e Cadornega, era um território cuja liderança pertencia ao Ngola, ou reis guerreiros, que sabiam confeccionar objetos de metais, facas, lanças e todo o tipo de armamento. Esses utensílios eram muito utilizados nos cotidianos e nas guerras, os artesãos que os fabricavam tinham a estima do povo e em virtude disso foram sendo proclamados pelos régulos como líderes daqueles territórios. A própria insígnia Ngola deriva do modo como designavam objetos de metais. Ngola poderia ser qualquer objeto de metal e, mais tarde, emprestou denominação como uma corruptela aos territórios que os portugueses e demais europeus mercadejavam, ou a Angola.
As supracitadas descrições compõem o capítulo primeiro da obra de Mariana Fonseca. Intitulado “O reino do Ndongo”, proporciona ao leitor acessar informações sobre, por exemplo, a constituição do poder no Ndongo e adjacências. A autora cita os estudos de Joseph Miller como um passo importante para compreensão das genealogias na África Central, bem como as constituições de poder. O autor foi um dos precursores ao afirmar que os termos tidos por nomes próprios, como Ngola Inene ou Ngola a Kiluange, eram na verdade insígnias que distinguiam as escalas de poder.
Miller trouxe novas interpretações às palavras “filho”, “pai”, “irmão”, “casamento”, revelando o caráter metafórico dessas expressões nas genealogias centro-africanas. Pai e filho poderiam revelar relações políticas entre títulos e não biológicas. Talvez, os avultados escritos deixados pelos europeus traduziam o que os mesmos observavam calcados nas suas experiências. Ou seja, explicavam o mundo a partir daquilo que conheciam.
Isso não quer dizer que as fontes escritas são menos credíveis, ao contrário, elas são fundamentais. Podemos exemplificar expondo características dos Jagas que nunca teriam sido conhecidas caso não fosse a interpretação de documentos. Cavazzi frisa a heterogeneidade dos Jagas, descrevendo rituais que eram comuns, como mitos, ritos, juramentos, crenças, formas de moradia e alimentação. Essas descrições maximizam o caráter guerreiro e antropofágico dos bandos Jagas, como o ritual magi a samba, que consistia em jogar um recém-nascido em um caldeirão com ervas, e em um pilão esmagar até virar uma pasta que seria passada no corpo de guerreiros para garantir forças mágicas e imortalidade.
Joseph Miller sugere que esse ritual servia para romper os laços de linhagem que alguns guerreiros poderiam trazer como resquícios de outras sociedades. Os jovens raptados e não iniciados de outros grupos, como os Mbundos, após passarem por esse ritual se desprendiam das regras e costumes do grupo anterior, devendo obediência ao chefe do Kilombo, que nesse contexto era o modo de organização dos Jagas, ou seja, altamente hierarquizado e com funções bem definidas, ou ainda como define Miller: “máquina de guerra”. Para Vancina, os bebês mortos também serviam para garantir a mobilidade das tropas que viviam em guerras permanentes, logo, o infanticídio garantia o progresso das tropas, para além de uma “inovação” nas táticas de guerrilhas.
O capítulo segundo “Angola portuguesa: conquista e resistência” inicia com a problematização da libertação de Paulo Dias de Novais, que permanecera como cativo durante cinco anos, visto que o Ngola interessava-se apenas pelo comércio com os portugueses, pelas sedas e bebidas, e não pela fé que condenava a poligamia. O Ngola com dificuldades em derrotar um soba vizinho liberta Novais para que ele peça reforços a Portugal, segundo descrições de fontes documentais. Para Fonseca, não faz sentido o soberano do Ndongo, um rei poderoso que já conseguira derrotar inclusive o exército do Congo, ter dificuldades em sublevar um reino menor, necessitando o auxílio dos portugueses.
Ao retornar a Portugal, Paulo Dias de Novais planeja uma entrada com armas no Ndongo, já que a tentativa pacífica de levar a fé tardava em mostrar resultados. Os jesuítas fomentavam essa intervenção, e mesmo após o regresso de Novais ao Ndongo, com o mercadejo próspero e as investigações no solo para obtenção de metais, os jesuítas não se contentavam com o comportamento do Ngola. Eis a chama de articulações políticas e dissidências que cunharam conflitos entre os sobas, fundamentais no jogo político da “conquista”, pois para os religiosos mercadejar não bastava.
Isso não significa que a coroa, os jesuítas e Paulo Dias de Novais não fossem parceiros nas empreitadas da “conquista”. Ao contrário, a insistência em propagar a fé católica instrumentalizava a escravização, justificando-a através da necessidade de salvar as almas. Conforme Fonseca, a palavra “resgate” comumente aparece nas fontes documentais, ou seja, os negros seriam resgatados por viverem em meio a rituais pagãos, evitando que perecessem em práticas antropofágicas. Em contrapartida, os religiosos sustentavam o mito da prata e demais riquezas no solo angolano, convencendo a coroa, na altura em mãos dos Áustrias, ou dos Filipes de Espanha, em investir nas expedições. Ganhavam todos, inclusive os sobas, participantes ativos do comerciar com os europeus.
Em resumo, sobre as tentativas de adentrar no território que correspondia aos domínios do Ngola, o capítulo ainda discorre sobre a “Guerra Preta”, que consistia em lutas entre africanos contra africanos, pois o grosso dos exércitos tidos como portugueses eram compostos por diversos grupos de Jagas e forças auxiliares que combatiam contra os exércitos do Ndongo. Fonseca também delineia o comércio em várias feiras, citando a construção de fortalezas e presídios que impulsionavam o colonizar rumo ao interior. Dentre as localidades detalhadas pela autora estão Muxima, Cambambe, Massangano, Ango e Ambaca.
A autora Mariana Fonseca discute amplamente os conflitos que ambicionavam aquelas terras banhadas pelo Kuanza. Em meio às descrições de acontecimentos bélicos, o que chama a atenção no capítulo “Nzinga Mbandi e as guerras pelo Ndongo” são as sofisticadas disputas diplomáticas quando executadas na mão de Nzinga. Uma das cenas que habitou o imaginário local e foi amplamente comentada em fontes documentais, como nos escritos do padre Cavazzi ou do soldado António de Cadornega, bem como em trabalhos historiográficos que problematizam a existência da rainha, ou em romances que recriam e multiplicam as “Nzingas” é o “episódio da cadeira”, como designa Fonseca.
Nzinga se reunira com o governador João Correia de Souza em Luanda, fora mandada como embaixadora do seu irmão, o Ngola. As embaixadas estavam presentes no cenário político dos XVII na África Central, tanto para o trato com o sobas quanto para os portugueses. Cavazzi narra que na ocasião a rainha portava luxuosas vestes, com muitas joias e gemas preciosas. Ao chegar foi oferecido um tapete para sentar-se, enquanto o governador estava acomodado em um trono. No mesmo instante Nzinga chama uma criada e pede que ela fique em uma posição que lembra um acento, com mão e pés no chão. A rainha sentou-se nas costas da súdita e discorreu sobre diversos assuntos, com vivacidade e inteligência, garantindo que o Ndongo continuasse como um estado independente e isento de tributações exigidas pelos portugueses, na ocasião negociadas e refutadas pela rainha.
Talvez o aceite em ser batizada tenha contribuído para o êxito na performance de Nzinga, garantindo sucesso nas negociações que interessavam ao Ndongo. Os historiadores interpretam esse evento com diferentes posições. Mariana Fonseca argumenta que o cristianismo estava notoriamente envolvido com a política do século XVII e a rainha possivelmente compreendia que para obter a paz e sucesso junto aos objetivos do Ngola, necessitaria aceitar a cruz. Apesar do batismo o Ndongo não se tornou cristão, uma vez que o Ngola se recusou em receber o sacramento, pois achou um absurdo que o enviado para batizar-lhe era o filho de uma de suas escravas, enquanto Nzinga, sua irmã, teria sido ungida com toda a pompa e honras do governador.
O quarto e último capítulo segue dissertando sobre as novas terras e os novos aliados persuadidos por Nzinga. O reino de Matamba e as particularidades de um poderio feminino são tecidos através de considerações advindas de autores com ampla pesquisa sobre o tema. A interpretação de documentação escrita continua fortemente, por exemplo, quando a autora questiona a masculinização de Nzinga para a entronização do poder. Fonseca observa essas descrições as alocando como exageradas, pois o interesse, especialmente dos padres, era frisar o quão demoníaco era o comportamento dos Jagas.
John Thornton concluiu que em Matamba, Nzinga conseguira formar um reino que tolerava sua autoridade, pois estava embasada em apoiadores leais, tornando-se um precedente histórico e contribuindo para a legitimação de poderes femininos na África Central. O caso de sua irmã Dona Bárbara, que assume a liderança logo após a morte de Nzinga é um exemplo. Parece que quanto mais o tempo passava, mais a conquista do Ndongo ficava distante para Nzinga, que agora se refugiara em Matamba, acolhendo em seu kilombo milhares de pessoas de diversas etnias, para além dos Jagas, já multiétnicos.
Não há indícios de que Nzinga praticasse a fé cristã, ao contrário, as fontes sempre condenavam seu comportamento tido como promíscuo tanto pelos rituais exercidos pelos Jagas, quanto pelos inúmeros concubinos que mantinha, dentre outras observações que povoam as descrições especialmente dos capuchinhos. Porém, já no final da vida um episódio marcou sua conversão e foi igualmente relatado por religiosos como Cavazzi, que descreve uma batalha contra um poderoso soba, onde o capitão Nzinga-Amona encontra um crucifixo que fora abandonado no mato. Pela noite o capitão sonhou que a cruz rejeitada o reprimia e exprobrava o desprezo para com o rei Cristão.
Segundo Cavazzi, a partir desta feita, Nzinga teria verdadeiramente se convertido. Para o frei Gaeta a rainha entendeu que o crucifixo fora mandado por Deus através das mãos do general como troféu de sua vitória. Na narrativa, Gaeta menciona o “milagre do crucifixo”, onde Deus mostrava que a amava e a convidava para retornar ao catolicismo. Apesar das detalhadas narrativas as fontes não consideram que os reinos vizinhos, Congo, Angola e Dembo estavam todos cristianizados. Com a idade avançada e estabilizada em Matamba, a paz e o fluxo do mercadejar de escravaria seria algo desejável a um líder nessas condições. Os Jagas que a seguiam abandonaram a vida errante e passaram a se dedicar à agricultura e ao comércio, surgindo no norte de Angola a etnia “Jinga”, uma evidência das configurações políticas e influências identitárias da rainha.
Cavazzi relata com entusiasmo as ações de Nzinga, como a fundação de uma nova igreja em Santa Maria de Matamba, às margens do rio Uamba e a duas léguas da antiga capital. Nzinga pessoalmente carregava as pedras para animar os construtores da Igreja, nas missas sentava-se na primeira fila, assistia ajoelhada os cultos e preferia ser chamada pelo nome de batismo: Dona Anna. Parece que seus últimos anos foram marcados por fervor cristão e extravagância da corte. A rainha vestia-se sempre com capricho, com panos feitos de cascas de árvores, semelhantes ao cetim. Em audiências públicas não dispensava a coroa e o cetro, exigindo que seus súditos, principalmente em batalhas, usassem o crucifixo para que fossem enterrados como cristãos.
As memórias produzidas sobre a vida da rainha Nzinga Mbandi nos avultados escritos que a descrevem possibilitam a reconstrução de alguns acontecimentos que envolvem disputas políticas, de territórios e poder, de comércio e fé. Nzinga foi uma personagem ímpar e se destacou em muitos momentos nos contextos dos seiscentos. Com tamanha eloquência, por vezes aparece mitificada em literaturas e até mesmo em trabalhos com cunho historiográfico. O trabalho de Mariana Fonseca rompe com análises simplistas ao apresentar uma dedicada análise das fontes documentais, dialogando com a historiografia sobre o assunto e se posicionando no debate com uma rainha que participou do tráfico de escravos, mas garantiu a “liberdade” para quem a seguia.
O trabalho observa os mandos de uma cristianização europeia, pautando a rainha como resistente a essa “dominação”. Fonseca delineia os portugueses no decorrer de sua obra como inimigos da rainha, por imposição da fé, mas não só, pois as disputas por territórios e mercados igualmente são mencionados pela autora como propulsores dessa resistência. Contudo, essa categoria pode ser repensada dentro do próprio texto da autora, pois descreve minunciosamente as complexas competições, flutuações fronteiriças e interesses dos próprios africanos em mercadejar e obter vantagens com negociações de qualquer natureza.
A obra de Mariana Fonseca seguramente marcará uma etapa importante na historiografia brasileira. Quer isso dizer que jovens pesquisadores se debruçam em entender realidades tão complexas, com personagens tão intrigantes quando a rainha Nzinga Mbandi. Esses trabalhos auxiliam sobremaneira a explicar-nos enquanto brasileiros e descendentes, como quer Alberto da Costa e Silva, de senhores ou de escravos. Pensar a África é também pensar o Brasil, os escravos saídos das margens de lá e embarcados em navios foram capturados e negociados por líderes como a rainha Nzinga, trazendo-a na memória e a ressignificando por essas paragens.
Isso será tema para uma próxima resenha, pois acompanhando o trabalho de Mariana Bracks Fonseca torcemos para que nos brinde com mais uma Nzinga.
Priscila Maria Weber – Doutoranda em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bolsista CAPES. E-mail: priscilamariaweber@gmail.com.
FONSECA, Mariana Bracks. Nzinga Mbandi e as guerras de resistência em Angola: século XVII. Belo Horizonte: Mazza, 2016. Resenha de: WEBER, Priscila Maria. A Rainha Nzinga Mbandi como personagem-chave nas disputas de poder no Ndongo; África Central, século XVII. Outros Tempos, São Luís, v.13, n.22, p.224-2231, 2016. Acessar publicação original. [IF].
The Walking Qur’an: islamic education, embodied knowledge and history in West Africa / Rudolph Ware III
O crescimento dos estudos africanos no Brasil, nas últimas décadas, evidencia a necessidade de expandir os objetos de análise para além das relações históricas e culturais afro-brasileiras pautadas na escravidão. Neste processo de emancipação da História da África, um novo tema emerge na agenda dos pesquisadores brasileiros: o Islã. Abordado em publicações pontuais2, o estudo de práticas, crenças, experiências e relações sociais, culturais, econômicas e políticas muçulmanas mostra-se uma necessidade inescapável à compreensão de historicidades africanas, passadas e presentes. A demografia torna inquestionável o papel desempenhado pela África na comunidade islâmica global: a Nigéria possui uma população muçulmana maior que o Irã, maior que o dobro presente no Iraque e que o triplo da Síria; na Etiópia, há mais muçulmanos que na Arábia Saudita; no Senegal, há mais que na Jordânia e na Palestina juntas3. Um peregrino que sair de Dacar poderá cruzar o continente, de oeste a leste, até atingir as margens do Mar Vermelho, andando somente por terras muçulmanas. O Islã, portanto, não é um fenômeno externo à história da África.
Este é o tema central do trabalho de Rudolph Ware, atualmente professor na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos (EUA), cujo objetivo é evidenciar como a experiência da educação islâmica moldou aspectos da história da África Ocidental no último milênio. “The Walking Qur’na” cumpre a importante tarefa de chamar a atenção para esta realidade, muitas vezes desprezada tanto por pesquisadores de História da África quanto de História Islâmica: o Islã africano costuma ser visto como “orientalista” demais para interessar aos primeiros; “africanizado” demais para os segundos. Além disso, a mais importante contribuição do autor é oferecer-nos uma obra inaugural, na qual a educação e a produção de conhecimentos islâmicos ocupam posição de destaque.
Publicado em 2014, o livro é uma versão expandida da tese defendida por Ware em 2004, na Universidade da Pensilvânia (EUA). Nos 10 anos, ele transformou seu estudo sobre educação corânica no Senegal do século XX em importante volume amparado na longa duração, que defende a especificidade e o resguardo das tradições islâmicas na África Ocidental, desde o século XI até as transformações em curso a partir do período pós-1945. Organizado em cinco capítulos, o livro é composto por uma introdução teórica, seguida de um capítulo no qual os principais conceitos – educação, epistemologia islâmica e incorporação (embodiment) – são apresentados. Na sequência, Ware opta por uma organização cronológica para analisar os impactos da educação corânica no Senegal, evidenciando como a cronologia política dialogou com transformações sociais protagonizadas pelos muçulmanos.
Os capítulos abordam a formação de um clero islâmico (c.1000-1770); escravidão e revoluções marabúticas na Senegâmbia (1770-1890); sufismo e mudança social sob o colonialismo francês (1890-1945); reforma epistemológica ou “desincorporação” do conhecimento no Senegal pós-1945. Suas fontes são textos clássicos de tradições islâmicas concernentes à instrução religiosa, oralidades, notas de cientistas sociais do imperialismo europeu, narrativas ficcionais e documentos de arquivos senegaleses, ingleses e franceses, além de observações participantes no Senegal. O argumento fundamental da obra é que o corpo humano foi o vetor primordial dos saberes islâmicos no período clássico, nisto incluído o aprendizado esotérico como princípio ortodoxo do Islã. Daí deriva toda a narrativa: uma vez que o corpo é o Alcorão que anda, ou seja, o livro sagrado memorizado e integrante do corpo físico, toda violência sofrida pelos portadores da revelação seria encarada por seus correligionários como ataque à própria palavra de Deus.
Central na abordagem é o terceiro capítulo, no qual Ware analisa as guerras marabúticas, que marcaram a África Ocidental nos séculos XVIII e XIX. Em sua interpretação, elas corresponderam ao esforço de clérigos islâmicos para impedir a escravização dos muçulmanos. As relações raciais construídas nesse contexto seriam fundamentais à compreensão posterior do Islã praticado pelas populações negras, bem como à produção de discursos civilizadores europeus. Estes, por sua vez, clamariam pela primazia da abolição da escravidão no século XIX, apropriando-se de uma ideia produzida e desenvolvida pelos próprios marabus no final do século XVIII. Não obstante, ao analisar as relações entre Islã e escravidão, o autor produz certa essencialização de personagens africanos, como o Almaami ‘Abdul-Qadir Kan ou o cheikh Amadu Bamba, nutrida por apropriação entusiasmada de narrativas biográficas e tradições orais4. Contudo, isto não reduz o valor do trabalho realizado, uma vez que não compromete o centro da questão.
O trabalho de Ware carrega o grande mérito de evidenciar uma perspectiva epistemológica da educação islâmica com vistas à formação do indivíduo por completo – que envolve valores, comportamentos e conhecimento intelectual. Tal epistemologia, ausente na tradição racionalista ocidental e marcada por castigos físicos, memorização e exposição a situações humilhantes (como a necessidade de a criança peregrinar pelas ruas pedindo esmolas, atividade cuja justificativa é formação do caráter humilde), muitas vezes é entendida como violência, atraindo campanhas de organizações internacionais, governamentais e não governamentais, pela sua supressão. Este é o fio condutor da narrativa, com ênfase no processo de incorporação do Alcorão, performance corporal das práticas religiosas, educação do comportamento e valores, mais do que aprendizado asséptico de conhecimentos abstratos.
Ware analisa a epistemologia associada à incorporação de saberes e adesão ao poder atribuído à palavra do Alcorão, capaz de curas e proteção, cujo aprendizado é tanto intelectual como físico – a palavra deve, literalmente, ser ingerida na água que lava os quadros nos quais os estudantes escreveram suas lições. Ao afirmar que esta orientação decorre do Islã clássico, e não de um processo posterior de africanização, ele se posiciona contrário à tese que estabelece a supremacia árabe na condução e caracterização da comunidade islâmica. Tal tese, estabelecida no início do século XX a partir do colonialismo francês na África, na comparação entre o Islã no Senegal e na Argélia, atribuía caráter inferior ao Islam Noir, o Islã praticado pelos povos negros. Entretanto, ao combater tal interpretação, Ware acaba por inverter o prisma de sua análise. Trata-se, agora, de afirmar que, a despeito das transformações vivenciadas no restante da comunidade islâmica, a “África Ocidental continua a preservar a forma original de educação corânica e suas respectivas disposições corpóreas para o conhecimento”5. Tal afirmação parece estabelecer um novo essencialismo, semelhante àquele produzido pelos colonialistas, mas em direção oposta.
Decerto, sua interpretação é desafiadora e instigante, sobretudo por reequacionar o papel do Islã na África na comunidade global e trazer sua contribuição no campo dos saberes religiosos para o primeiro plano do debate. Contudo, sua premissa traz em si uma reapropriação das teses racialistas, que outrora viam o Islã na África como heterodoxo e inferior. Agora, caberia considerá-lo como indisputavelmente verdadeiro, superior àquele praticado pelos árabes (a quem muçulmanos mourides senegaleses afirmariam que Maomé teria feito grandes críticas6), tributário aos primeiros muçulmanos, visto que a religião teria chegado ao continente africano no ano de 616, antes mesmo do movimento da Hégira – migração de Meca à Medina, que marca o início do calendário muçulmano7. Eis, pois, uma perspectiva afrocêntrica que corre o sério risco de essencializar aquilo que busca historicizar8.
Ao longo do livro, papel importante é atribuído à forma de transmissão de conhecimentos: neste paradigma, uma pessoa não deve acessar um dado saber através de estudo individual, literal e amparado numa racionalidade externa ao sujeito. Antes, este procedimento é entendido pelo autor como decorrente da modernização cartesiana e da racionalidade iluminista, vistas como irreconciliáveis com a corporeidade, a mística e com a relação direta estabelecida entre mestre e discípulo na produção e divulgação de saberes muçulmanos, presentes num modelo clássico. Ware argumenta que a África foi a única região que conseguiu manter a forma clássica de educação corânica, abandonada pelo restante do mundo muçulmano em função da expansão dos valores racionalistas europeus. Portanto, atribui à Europa a gênese do que considera como traços fundamentais de movimentos como o salafismo e wahabismo: a ênfase em interpretações literais como supostamente autênticas, resistência ao Islã místico e às práticas de incorporação, vistas como expressões heterodoxas.
Assim, afirma que o Islã árabe foi corrompido pelo colonialismo europeu, uma vez que identifica os traços fundamentais de correntes como o islamismo, wahabismo e salafismo como decorrentes de um processo de desincorporação, expressão exotérica (voltada para fora do indivíduo, em oposição à esotérica, ocupada com a internalização dos saberes, seja através da memorização ou do consumo físico da palavra) e racionalizada, próprias do pensamento cartesiano e iluminista. Neste sentido, argumenta que a concepção racialista do Islam Noir foi, de forma irônica, salutar para preservar a identidade muçulmana da região. Os franceses, ao acreditarem que o Islã senegalês era inferior ao árabe e, do ponto de vista político, não oferecia riscos às pretensões coloniais, teriam limitado a circulação dos muçulmanos negros no exercício da peregrinação a Meca e estabelecido redes de censura à produção em língua árabe que chegava ao Senegal. Este processo, cujo objetivo era limitar ideias pan-islâmicas e anticoloniais na África Ocidental Francesa, teria resguardado a religiosidade islâmica na região ante a influência modernizante árabe, permitindo à religião e às formas de transmissão a manutenção de disposições corpóreas, vistas como fundamentais à prática9. O restabelecimento de comunicações entre a África Ocidental e os países de língua árabe, após 1945, teria acelerado o processo de desincorporação, iniciado com a oferta de educação colonial nas escolas francesas, e atribuído a ele novo sentido, agora estritamente religioso.
O autor considera a incorporação e a busca pela reprodução do comportamento de Maomé como características fundamentais e universais do mundo islâmico clássico, corrompidas pela modernização que se pretende ortodoxa. Operando um pensamento indutivo, Ware parte da análise das práticas decorrentes da escola de jurisprudência maliquita, largamente presente no Magrebe e na África Ocidental, e universaliza suas conclusões. Este processo permite-lhe atribuir tal modernização a uma suposta contaminação ocidental do Islã. Esta conclusão, contudo, carece de análise mais cuidadosa das relações de outras escolas de jurisprudência islâmica com a produção e exercício dos saberes religiosos. Uma vez que suas referências remetem à fiqh maliquita, pode-se perguntar se as orientações sunitas das escolas shafita, hambalita e hanafita seriam as mesmas10, além das disposições xiitas e ibaditas. De todo modo, sua explanação torna indubitável o desenvolvimento de uma nova epistemologia na África Ocidental, seja ela procedente da cultura ocidental ou de outra orientação islâmica.
“The Walking Qur’na” é um livro de grande importância aos estudos sobre o Islã na África. Elaborado a partir de grande diversidade documental, tem o mérito de conseguir realizar exatamente o que propõe: o estudo da educação islâmica ao longo de um milênio. Um grande desafio que Rudolph Ware consegue superar, trazendo novas e instigantes perspectivas ao debate da História da África diretamente atrelada ao Islã. O livro cumpre o papel de açular o leitor, levá-lo a refletir sobre categorias muitas vezes cristalizadas, fomentar curiosidades e estimular o debate sobre um tema tão fascinante quanto desprezado por grande parte da historiografia sobre a África. A inflexão epistemológica central à proposta torna-o parada obrigatória a todos os estudiosos do tema, ensinando que a história do conhecimento é fundamental ao conhecimento da História.
Thiago Henrique Mota – Doutorando em História em regime de cotutela entre UFMG e Universidade de Lisboa. Bolsista FAPEMIG. E-mail: thiago.mota@ymail.com.
WARE III, Rudolph T. The Walking Qur’an: islamic education, embodied knowledge and history in West Africa. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2014. 330p. Resenha de: MOTA, Thiago Henrique. Epistemologia islâmica como fio narrativo da História na África Ocidental. Outros Tempos, São Luís, v.13, n.22, p.232-237, 2016. Acessar publicação original. [IF].
América aborigen: de los primeros pobladores a la invasión europea – MANDRINI (S-RH)
MANDRINI, Raúl. América aborigen: de los primeros pobladores a la invasión europea. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2013. 289 p. Resenha de: ZAPATA, Horacio Miguel Hernán. Um recorrido por la Historia de la América Precolombiana: uma reseña de homenaje y despedida. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, [34] jan./jun. 2016.
Reseñar un libro nunca es una tarea sencilla, pero siempre resulta apasionante, puesto que uno siente que realizar una lectura atenta, detenida y profunda de la obra con el fin de darla a conocer constituye, pues, un indudable privilegio que sólo puede presentarse en contadas ocasiones. Sí, escribir la reseña de un libro no es una tarea simple. Y en el caso del libro América aborigen. De los primeros pobladores a la invasión europea, resulta ser una tarea aún más difícil y compleja, puesto que nos enfrenta a una obra que fue escrita por un historiador de talla como Raúl Mandrini, uno de los investigadores más conocidos en el medio académico argentino y con una amplia proyección en el mundo latinoamericano y europeo. Habiendo atesorado una prolífica carrera académica docente e investigativa con el correr de los años2, Raúl Mandrini contribuyó – desde el regreso de la democracia en Argentina (1983) – a un giro fundamental en la historiografía de los pueblos indígenas, presentando una visión original y renovada de esos temas y dejando una fuerte impronta en los estudios históricos sobre las poblaciones indígenas y los múltiples contactos que existieron entre el mundo de los nativos y el de los “blancos” o criollos, con claras proyecciones en las producciones posteriores. Son numerosos los investigadores que completaron su formación y dieron los primeros pasos de una carrera de destacada producción académica gracias a su visión y generosa capacidad de reconocer talentos. Y qué decir de los retos intelectuales frente al producto de uno de esos autores que, debemos confesarlo, concitó nuestra atención y entusiasmo desde temprano, al punto de que somos conscientes de que ha marcado – y sigue haciéndolo – nuestra propia y actual carrera como docente e investigador universitario. Para quienes tuvimos la posibilidad de conocer y conversar con Raúl Mandrini, nos encontramos con uno de esos grandes eruditos en un mundo de sabios del fragmento, sin por ello dejar de ser un especialista de la primera hora, muy riguroso y crítico; pero sobre todo, una excelente persona a nivel humano, un hombre amable, honesto, sensible, abierto y comprometido con una sociedad más democrática y plural. Más aún, cómo confeccionar una reseña cuando la triste noticia de que Raúl Mandrini ha fallecido recientemente – 23-XI-2015 – pareciera dejar sin sentido tal empresa, sugiriendo que la redacción de esas habituales “palabras de despedida” sería, en todo caso, la tarea más correcta y apropiada en este momento. Frente a esta serie de condicionantes, nos preguntamos ¿cómo no caer en el terreno de un halago meramente formal que nos impidiera expresar nuestras propias opiniones en relación a los aportes del libro y, además, evitar el exceso descriptivo sin dejar de destacar la importancia que el contenido de la obra en cuestión puede ofrecer al lector? Por otro lado, ¿cómo soslayar el enfocarse en aquellos temas que resultan más afines a nuestro interés en desmedro de otros que no son tan atractivos para nosotros? Finalmente, ¿cómo evitar ser aburrido o reiterativo, sobre todo suponiendo que el que tiene el libro entre sus manos – o la posibilidad de acceder a él – lo leerá completamente? En definitiva, ¿de qué modo es posible congeniar la revisión crítica y la enorme responsabilidad del merecido homenaje a una persona cuya impronta se ha transformado en legado? Son estos interrogantes las razones que hacen que escribir una reseña del último libro del profesor, del historiador, de Raúl – como me dijo “tutéame sin problemas” – sea un gesto que (nos) cuesta mucho. Sin embargo, decidimos construir esta recensión a partir del modo que, quizás, nos hubiera aconsejado seguir, procurando dar cuenta de la cantidad y densidad de los problemas abordados en las casi trescientas páginas que abarca el volumen de América aborigen. De los primeros pobladores a la invasión europea, una obra que ya constituye un referente obligado del mundo académico latinoamericano sin lugar a dudas. A riesgo de que esta última afirmación pueda resultar una fórmula muchas veces repetida, no queremos dejar de usarla por varios motivos. En primer y contenido en el título, puesto que justamente se aboca a recuperar la historia – mal conocida, cuando no expresamente borrada de la memoria histórica – de la vida y la cultura de los diferentes pueblos que ya llevaban habitando varios milenios el continente en los momentos iniciales de la conquista. Este libro, enmarcado en el emprendimiento más amplio de la colección Biblioteca Básica de Historia del sello editorial Siglo XXI, es un producto de una historia social, esto es, una reconstrucción del pasado prehispánico diferente de aquellos análisis que pueden ofrecer los arqueólogos y antropólogos sociales, quienes por muchos años fueron los que indagaron acerca de estas sociedades dadas las tradiciones disciplinares forjadas al calor de las ideologías decimonónicas. Pero a la vez un tratamiento específico, que procura dejar en claro que la historia no es una verdad fijada de una vez y para siempre, sino que se trata de una construcción intelectual que forjamos desde el presente, producto de los trabajos sucesivos que en conjunto van modificando la comprensión del pasado prehispánico. De esa manera, el autor parte de una noción de que no sólo el futuro es impredecible – por el hecho de que está siendo construido – sino que incluso el ayer nunca es cerrado y definitivo. En concordancia con estas premisas, Raúl Mandrini cuestiona los parámetros sobre los cuales se asentó la historiografía americanista del siglo XIX y gran parte del XX, que mostró a estos colectivos sociales como “pueblos sin historia” o – en algunos casos – de poca antigüedad, homogéneos en términos culturales y raciales, primitivos y estáticos. Amparado en una concepción específica de la historia social, su propuesta contribuye a confirmar la antigüedad de la presencia de estas comunidades, su gran diversidad y heterogeneidad, la complejidad de sus formas de organización económica, social y cultural, sus elaboradas expresiones artísticas y estéticas, sus destrezas y habilidades para adaptarse a un medio a veces hostil, las profundas transformaciones que experimentaron y, en definitiva, el dinamismo de su vida histórica. En segundo lugar, es una obra de síntesis que trata de delinear una perspectiva general, sistemática y organizada del pasado (o los pasados) de esas poblaciones originarias a partir de una narración atrapante donde su objeto nunca se desdibuja, por lo que su redacción no puede más que concebirse como un esfuerzo por compaginar el ingente volumen de información – producto de los impresionantes avances de la investigación arqueológica y la disponibilidad de un mayor número de testimonios – que conforma el estado actual de nuestro conocimiento sobre los entornos ecológicos y las prácticas socioculturales de aquellas sociedades. Por tanto, su composición deja entrever las virtudes de quien, como Mandrini, domina de modo magistral tanto la profesión docente como el oficio de historiador, permitiéndole ofrecer un texto de lectura sencilla, elocuente y accesible, sin que su apego a la rigurosidad del conocimiento científico signifique sobrecargar la obra con los tecnicismos de la jerga académica, las complejidades del lenguaje científico y el abuso de la cita erudita. Esto no ha impedido que el autor dote varias de sus afirmaciones con cierto tono hipotético o que no refleje las polémicas vigentes y si no las soluciones para las mismas, al menos algunas de las distintas interpretaciones que al día de hoy coexisten y compiten sobre una misma problemática. Y ello no sólo hace más interesante al libro, sino que además lo convierte en el reflejo de um mundo académico en perpetuo debate y construcción. A lo largo del volumen se traza un cuadro de una historia cercana a veinte milenios, marcada por profundas y complejas dinámicas sociohistóricas, desde los primeros pobladores hasta el surgimiento de las formas económicas y sociopolíticas más complejas, expresadas en las dos grandes construcciones estatales encontradas por los españoles, los imperios azteca e inca. La obra concluye en torno al año siglo XV, momento en que la presencia de los europeos, a través de sus instituciones y prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, trastocó definitivamente el mundo social y espiritual aborigen. En lo que atañe al marco espacial es necesario remarcar la flexibilidad y pertinencia de su dilucidación, en la medida en que Mandrini sortea los escollos de las historiografías latinoamericanas nacionalistas que proyectaron los límites geopolíticos y las jurisdicciones contemporáneas – nacionales o provinciales – sobre las realidades que se remontan milenios atrás y plantea que es preciso tener en cuenta que la percepción misma de los medios y paisajes, así como la organización del espacio, de las poblaciones indígenas eran distintas de las nuestras. Con destreza analítica el autor explicita que las experiencias vividas a lo largo de la historia de estas sociedades evidencian la ocupación de una gran heterogeneidad ecológica, en la cual se ven implicados una pluralidad de climas, suelos, ambientes y recursos, logrando así sintetizar tanto los cambios como las continuidades y mostrar que las comunidades humanas no eran receptoras pasivas de ellas, sino que actuaban sobre el medio y lo transformaban. En vinculación con este conjunto de consideraciones, otro aspecto que diferencia este libro de otros volúmenes dedicados a la historia de la América precolombina es la organización de los contenidos y del relato, la cual en este caso se presenta alejada de los marcos historiográficos comúnmente aceptados, así como de las periodizaciones arqueológicas convencionales, al tiempo que enfatiza el análisis de los grandes procesos sociales que vivieron los pueblos indígenas americanos por sobre la descripción de la cultura material y documentos. Tampoco se arroga la ciclópea tarea de ensayar una historia total, sino que por el contrario se centra en las experiencias más significativas que atravesaron aquellas poblaciones originarias en el curso del tiempo y que permiten comprender de manera vívida y sugerente los significados que una comunidad atribuye a los acontecimientos en los que participa. Así, el libro consta de una introducción, diez capítulos, un epílogo y un acápite con bibliografía comentada, en el que el lector puede encontrar textos de referencia susceptibles de ser consultados ante cualquier duda o intento de profundización de una temática particular o un período específico. De igual modo, la presente edición se encuentra por fortuna profusamente acompañada por mapas, imágenes y fuentes, un aspecto que merece subrayarse precisamente porque en tanto recurso bien empleado, contribuye a hacer entender de mejor manera las explicaciones y reforzar el sentido del texto, haciendo más vivida la historia, pero también posibilita concientizar sobre el significado e importancia de ese patrimonio histórico y cultural. Luego de la introducción, destinada a plantear sintéticamente algunas cuestiones vinculadas a los desafíos que significa construir una historia social del mundo indígena prehispánico, el primer capítulo ofrece un panorama general de las poblaciones del continente en la etapa inicial de las exploraciones españolas, hacia 1500. Además de reseñar lo que serán las “grandes civilizaciones” de Mesoamérica y los Andes, sobre las que profundizará más adelante, ofrece una breve aproximación a las sociedades de las tierras frías y templadas de América del Norte, el área intermedia y las zonas orientales y meridionales de regiones bajas tropicales y subtropicales de América del Sur. La decisión de comenzar el libro con ese momento encuentra su justificación en una doble premisa: en primer lugar, dejar en claro que América no era un continente vacío ni poco poblado, y que los espacios no ocupados eran aquellos donde las condiciones ambientales eran tan extremas que hacían imposible la vida humana; y en segundo lugar, mostrar la multiplicidad de adaptaciones creadas por las comunidades humanas, la variedad de formas económicas, sociales y políticas, y la diversidad y riqueza de sus manifestaciones culturales. Seguidamente a los procesos generales del poblamiento del continente, Mandrini aborda el carácter de los primeros antiguos cazadores-recolectores que pudieron adaptarse a ambientes desiguales y aprender a explotar una variedad de recursos a lo largo de diversas latitudes, entre cuyas transformaciones más fundamentales para hacerlo aparecen el paso al modo de vida sedentario en aldeas y la domesticación de plantas y animales. En los siguientes acápites, el autor profundiza en las implicancias que tuvieron el avance de la producción de alimentos, el aumento sostenido de la población, el afianzamiento de las aldeas y la incorporación de la alfarería y la metalurgia para las poblaciones de Mesoamérica y los Andes centrales y meridionales, bases para el ulterior proceso de emergencia de desigualdades sociales, formación de grandes áreas de interacción e integración regional y, más tarde, de unidades sociopolíticas de tamaños variables en dichas macro-regiones. Se estudian las diferentes tradiciones político-culturales que resultaron en ambas áreas de la profundización de las diferencias sociales, la consolidación de las sociedades urbanas y la emergencia de los primeros Estados fuertemente regionalizados, fenómenos que a su vez implicaron la expansión de las economías políticas, el incremento del poder de las elites urbanas al vincularlo con el mundo de las divinidades y el surgimiento de estilos artísticos bien definidos. También se ocupa sobre los procesos de crisis y colapso de las unidades políticas, así como también de las nuevas tendencias a la regionalización que estuvieron acompañadas por el incremento de la violencia, la inestabilidad política, el retroceso en las condiciones medioambientales y el desplazamientos de poblaciones. En último capítulo Mandrini enfoca su atención en la construcción de las formaciones políticas más extensas y complejas del mundo prehispánico con las que se toparon los españoles, los imperios azteca e inca, que dominaron más de la mitad del territorio mesoamericano y los Andes centrales y meridionales respectivamente. Una especial consideración merece en esta sección el profundo razonamiento explicitado por el autor acerca de que más allá de sus diferencias, las políticas imperialistas de estos Estados compartían un punto en común: recogiendo tradiciones y experiencias anteriores, ambos lograron someter a un abigarrado mosaico de poblaciones cultural, política y lingüísticamente diferentes, exigiéndoles tributos y distintas prestaciones o servicios. El libro se cierra con el epílogo donde se vierten algunas líneas acerca del impacto de la presencia europea sobre las sociedades aborígenes.
Sin demérito de las aportaciones mencionadas hasta el momento – ya que todas evidencian ser fruto tanto de una profunda investigación empírica como de una reflexión teórica sensata –, una cuestión que sorprende es la falta de una mayor atención sobre otras poblaciones amerindias, especialmente aquellas que habitaron en las llanuras y planicies del tercio meridional de América del Sur y las zonas interiores de las grandes cuencas fluviales tropicales del Orinoco, el Amazonas y el Plata, más allá de lo expuesto escuetamente en el capítulo segundo. Desde luego, este hecho no es el resultado de una decisión deliberada de excluir a tales sociedades indígenas, sino que puede obedecer a otra serie de razones. En principio, puede decirse a favor de Mandrini que gran parte de esas poblaciones originarias, en particular las comunidades que en el curso del tiempo vivieron en el actual territorio argentino y sus regiones vecinas, fueron objeto de otro de sus libros de divulgación que publicó en la misma colección y sello editorial3, por lo cual volver a trazar esa historia resultaba ser una elección poco inteligente cuando el campo historiográfico ya cuenta con un excelente volumen que pone el foco sobre los grandes procesos sociales atravesados por esas poblaciones. No obstante, no dejan de brillar por su ausencia algunos capítulos que reflejen la vida de las poblaciones originarias de la región amazónica de la América del Sur, sociedades suficientemente investigadas y documentadas en libros y artículos de revistas editados en las últimas décadas. En vistas de esto, hubiera sido deseable que Mandrini ahondara más en la experiencia de tales comunidades humanas, favoreciendo así a un mejor conocimiento – mucho más claro y explícito – de la antigüedad de su presencia en el entorno selvático, sus destrezas para adaptarse a un medio a veces hostil, su gran diversidad sociopolítica y heterogeneidad cultural y la complejidad de su universo simbólico. Esto permitiría entender los mecanismos concretos que les han posibilitado conservar modalidades de organización sociopolíticas laxas y segmentarias pese a estar en contacto con sociedades mucho más centralizadas, cuestiones tan centrales a la problemática que convoca el libro. Respecto de esta llamativa ausencia temática en un producto de divulgación elaborado por un especialista como Mandrini, podemos enunciar – al menos – dos razones. En primer lugar, la larga vigencia, dentro del mercado editorial de contenido histórico, de una perspectiva historiográfica localizada casi exclusivamente en las denominadas “altas culturas” de Mesoamérica y Andes, fuente inagotable de orgullo nacionalista para ciertos países – como México, Perú y Bolivia – y objeto de numerosos proyectos de investigación, mientras que las sociedades de áreas culturales consideradas “marginales”, aquellas que usualmente habitaron las periferias de las “grandes civilizaciones”, no han recibido la misma atención por parte de los especialistas ni han sido objeto de una revalorización equivalente en las obras sobre historia indígena precolombina. Y en segundo lugar, el escaso diálogo del medio académico argentino con los estudios arqueológicos y etnohistóricos acerca de las poblaciones amazónicas, llevados a cabo principalmente por antropólogos, historiadores y arqueólogos de Brasil y que tanto han hecho para reconocer el lugar de la Amazonía antigua en la historia americana. Esta particular deuda con la historiografía amazónica constituye una situación que merece ser reevaluada en el futuro, procurando acortar la brecha aún existente entre ámbitos y especialidades, buscando ampliar los contactos personales de los estudiosos y potenciar la formación de redes académicas, propiciando tanto la articulación de proyectos individuales en programas más amplios de investigación interdisciplinaria como la organización de reuniones científicas internacionales que sirvan para socializar y discutir los resultados; todo un conjunto de actividades que permitan reconocer la variedad de formaciones sociales nativas que han coexistido e interactuado, contribuyendo a una comprensión más íntegra de un mundo indígena sumamente complejo, heterogéneo, dinámico y contrastante. Más allá de estas últimas puntualizaciones críticas, es indudable que este último volumen que nos legó Raúl Mandrini constituye un gran aporte a la historiografía y antropología americanas al ofrecer, a través de una perspectiva original, sintética y rigurosa, una recorrido ágil y, sobre todo, una prosa sencilla y directa, una muy buena obra de divulgación para aquel que desee conocer el pasado de estas sociedades. Un libro como éste se convierte rápidamente – como ha ocurrido con otros materiales del mismo autor pensados con el mismo propósito4 – en un insumo básico y obligatorio para estudiantes, docentes e investigadores. Son éstos tipos de producciones sólidas las que motivan la disposición de continuar explorando novedosos medios para investigar y divulgar una amplia, prolífica y compleja realidad sociocultural que todavía ofrece mucha tela para cortar: las diversas historias de las sociedades originarias del continente americano.
Notas
2 Raúl Mandrini se graduó de Profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como docente en las Universidades Nacionales de Buenos Aires (UBA), Lomas de Zamora (UNLZ), Salta (UNSa), del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Rosario (UNR), y Luján (UNLu). Se inició en la UBA como Ayudante de Trabajos Prácticos en 1965, culminando como Profesor titular en las tres últimas. Por razones políticas permaneció alejado de la vida académica entre 1975 y 1983. Entre enero y marzo de 1989 fue profesor invitado en la Universidad Autónoma de Puebla (México). En la UNCPBA, se desempeñó como Profesor Titular con dedicación exclusiva, cargo obtenido por concurso público en 1985, por segunda vez en 1991, renovado por el Consejo Superior en 1996, y renovado nuevamente por Concurso Público en 2004, teniendo a su cargo las cátedras de Historia General II (Antigua) e Historia de América I (Prehispánica). Renunció por jubilación en abril de 2009. Dictó además, como profesor invitado o visitante, seminarios y cursos especiales de grado y postgrado en universidades argentinas y del exterior (México, Uruguay, Chile, España). Inició su trabajo en investigación como Auxiliar de Investigaciones en el Instituto de Historia Antigua Oriental de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA entre 1965 y 1972. Durante 1985 fue becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina, y adscripto al Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Ingresó por concurso al Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios (SAPIU) de CONICET. Desde su fundación en 1986, y hasta su jubilación en 2009, fue investigador titular del Instituto de Estudios Histórico-Sociales de la UNCPBA, institución de la que fue director entre 1992 y 2000. Fue además investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Nacional Patagónico dependiente del CONICET, la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales y la Universitat de Girona. Desde 2010 y hasta su fallecimiento fue Investigador adscripto, con categoría de Profesor Titular interino (ad-honorem), en el Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti” dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Participó en congresos y jornadas científicas en Argentina y el exterior con presentación de ponencias; dictó seminarios, conferencias y cursillos sobre temas de su especialidad en instituciones públicas y privadas de distintas ciudades de la Argentina (Buenos Aires, Bahía Blanca, Azul, Tandil, Balcarce, Olavarría, Salta, Jujuy, Río Gallegos, Mar del Plata, Posadas, Trelew, La Plata, Venado Tuerto, Carmen de Patagones, Santa Rosa, Neuquén, Necochea y Puerto Madryn) y del exterior (México, Monterrey, Saltillo, Temuco, Montevideo, Madrid, Barcelona, Gerona, Huelva, Sevilla, Cádiz, Providence, Pittsburgh y Filadelfia). MANDRINI, Raúl. La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008.
Raúl J. Mandrini publicó Volver al país de los araucanos (en coautoría con Sara Ortelli, Buenos Aires: Sudamericana, 1992), Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos XVIII y XIX. Un estudio comparativo (compilado junto a Carlos Paz, Tandil: IEHS-UNICEN, 2002), Los indígenas de la Argentina. La visión del “otro” (Buenos Aires: Eudeba, 2004), Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de la Argentina. Siglos XVIII-XIX (Buenos Aires: Taurus, 2006) y Sociedades en movimiento. Los pueblos indígenas de América Latina en el siglo XIX (compilado junto a Antonio Escobar y Sara Ortelli, Tandil: IEHS-UNICEN, 2007).
Horacio Miguel Hernán Zapata – Historiador. Doctorando en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET, Argentina. E-Mail: <horazapatajotinsky@hotmail.com>.
[MLPDB]Grupos intermédios nos domínios portugueses, séculos. XVI-XVIII / Revista de História / 2016
Hierarquias e mobilidade social no Antigo Regime: os grupos intermédios no mundo português
A identificação de grupos sociais na Época Moderna representa um velho e duradouro problema historiográfico. Em fins da década de 1970, tentando resumir o estado da questão, Fernand Braudel começou por lembrar a dificuldade que sente o historiador em reconhecer na palavra “sociedade” a desejável invocação de todos os seus componentes vivos e variáveis. Por isso mesmo, e com o intuito de valorizar à partida a pluralidade que se esconde por trás de um conceito intencionalmente globalizante, Braudel propôs encarar a sociedade lato sensu e em especial a sociedade moderna como um conjunto constituído por outros conjuntos – l’ensemble des ensembles – que iludiam lógicas de constituição ou manutenção estritamente jurídicas, políticas ou de consumo: setores, grupos ou segmentos que interagiam num quadro de relações hierárquicas com notáveis aspectos de fluidez, embora também constrangidos por princípios gerais de gênese muito complexa.1
O primeiro grande nível de divisões hierárquicas na sociedade da Idade Moderna seria constituído por três grandes grupos: a pequena minoria dos privilegiados, que tudo governava e administrava, concentrando o usufruto praticamente exclusivo das mais-valias; o da multidão dos “agentes” da economia, trabalhadores de todos os tipos, que formavam a grande massa dos “governados”, e, por fim, o enorme universo dos sans-travail.2
Na “economia-mundo”, caracterizada por Immanuel Wallerstein, os privilegiados manter-se-iam relativamente pouco receptivos ao ingresso de indivíduos de grupos inferiores, apesar de com eles se relacionarem. Os grupos de “agentes” em ascensão, comumente ditos “classes médias”, tenderiam a ser particularmente prejudicados em conjunturas econômicas de depressão, do mesmo modo que seriam também beneficiados, à frente de outros, em conjunturas mais favoráveis. A longo prazo, os integrantes dos seus estratos superiores conheceriam, inclusive, a oportunidade de participar na renovação das elites que o fechamento esclerosara, e seriam também convocados a ajudar em tarefas de governação cada vez mais exigentes, tanto a nível local (nas províncias e nas cidades), como no seio das cortes. Tudo isso se processaria quase sempre em termos desiguais, segundo as dinâmicas dos vários espaços do sistema-mundo, e, na maior parte dos casos, com uma grande lentidão. O exíguo território do cume da pirâmide social, de ocupação restrita aos privilegiados, não se chegava nunca a alargar, proporcionalmente, de forma substantiva.3
Descontando talvez alguns traços do breve retrato dos grupos de pobres e despossuídos, que quase só oscilariam entre uma perfeita submissão à ordem estabelecida e raros rompantes coletivos de dissonância – revoltas, levantamentos ou revoluções –, e não obstante nas últimas décadas se debaterem novas e instigantes hipóteses sobre a ascensão dos grupos de “agentes” – como, por exemplo, uma acrescida e sustentada laboriosidade, principalmente a partir do século XVIII4 –, boa parte dos ensinamentos do maior dos discípulos de Lucien Febvre, na sua espantosa fecundidade, continua a ser útil para amparar a reflexão sobre a sociedade do período moderno. Cabe aqui destacar a lembrança da conjugação de parâmetros de sistemas político-econômicos de diferentes origens e em combinações extremamente variáveis.5
O caso português distingue-se no contexto europeu pelo convívio de fortes princípios senhoriais com uma Igreja de grande relevância social e desmedida projeção fundiária; um oficialato régio escassamente desenvolvido, pelo menos até ao início da segunda metade do século XVII; questionáveis raízes feudais; cidades com privilégios e tradições expressivas, mas desigualmente representadas no corpo do reino e muito distantes da dimensão de Lisboa, para além de um enorme conjunto de domínios e interpostos ultramarinos que, mesmo em período de franca expansão, conhecem profundas razões de instabilidade e de perigo de ruptura. Em suas linhas gerais, já o sabiam os arbitristas do século XVII e os grandes nomes da diplomacia do tempo das Luzes. A historiografia posterior tem-nos vindo a circunstanciar.6
Nesse quadro, não chega a ser surpreendente que entre o Minho e o Algarve se verifique a existência de grupos intermédios muito ligados à administração das casas das grandes famílias terratenentes e ao quotidiano dos episcopados, ordens e congregações: “agencia-se” para a nobreza e para a Igreja. Os homens de negócios de maior expressão concentram-se nos portos marítimos com vocação transatlântica. Sua ascensão enfrenta, porém, resistências diversas, religiosas, culturais e políticas, muito embora o capital dos fidalgos, dos mosteiros ou da Coroa se junte ao financiamento de determinadas empresas comerciais. Paralelamente, nota-se um acentuado processo de dignificação social pelo exercício das letras e, em particular, dos ofícios de escrita. Já no século XVIII, estimula-se o reconhecimento do interesse da atividade dos negociantes de grosso trato. Processo legalmente consolidado com o rei d. José, que ainda fomenta o incremento das manufaturas. Todo um conjunto de indivíduos de extração mediana conquista, assim, o direito a um lugar efetivo entre os privilegiados, e carrega consigo, em movimento ascensional, uma série de outros agentes inferiores.7
A estruturas de produção bastante diversas, com expectativas e constrangimentos também diferentes, corresponderam, nos territórios ultramarinos, hierarquias que desafiaram as capacidades de descrição de vários cronistas. Célebre é o início do livro I de Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, de André João Antonil, onde se lê que “O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos”, explicando-se logo depois que, de acordo com o “governo” e o “cabedal”, “bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho quanto proporcionadamente se estimam os títulos entre os fidalgos do Reino”. E para melhor se perceber o alcance preciso de tal estima, especifica-se com todas as letras que “Dos senhores dependem os lavradores que têm partidos arrendados em terras do mesmo engenho como os cidadãos dos fidalgos”.8
Interpretações que ignoram ou que de fato não compreendem o significado das equivalências propostas nestas e noutras passagens de documentos coevos chegaram a espalhar a ideia de que os territórios americanos de produção portuguesa de açúcar apresentavam uma sociedade basicamente constituída por dois grandes grupos: o dos senhores e o dos escravos; e que, grosso modo, essa seria a norma em boa parte do Brasil colônia. A existência de um grupo verdadeiramente mais expressivo de indivíduos caracterizáveis como os “agentes” de que fala Braudel seria observável quase já só no século XVIII, em virtude da mineração. Verificou-se, inclusive, um assinalável entusiasmo em torno da imagem das Minas do Rio das Velhas como um autêntico berço de novos valores “democráticos”.
Felizmente, muitos desses equívocos foram ultrapassados por excelentes trabalhos de história económica, social e demográfica que, em simultâneo, contribuíram para aprofundar o conhecimento das sociedades mineiras, com a sua imensa mole de indivíduos livres, autônomos, mas pouco menos que miseráveis: parafraseando Laura de Mello e Souza, democraticamente unidos na pobreza.9
Maria Odila Leite da Silva Dias, a par das investidas de Anthony John R. Russell-Wood e Stuart B. Schwartz, desenvolveu e orientou dezenas de teses, pelo menos desde os inícios dos anos 1980, para tentar conhecer os mecanismos de constituição e a importância relativa desses grupos de gente mais ou menos remediada ou mais ou menos enriquecida que, por praticamente toda a América portuguesa, foi conseguindo escapar à servidão e ajudou a dar consistência aos núcleos urbanos, através de pequenas atividades agrícolas e de manufatura, serviços de abastecimento e comércio, o auxílio ao desempenho de alguns dos deveres da Coroa e das funções da Igreja. Com efeito, a prospecção abarcou desde os mais elevados estratos de negociantes do sudeste da antiga colônia até aos homens e às mulheres que subsistiam em todo o tipo de atividades de apoio a indivíduos de melhor condição, muito para além do limite formal da independência:10 aturado labor de redescoberta de personagens anteriormente quase privados de voz, e sem o qual seria muito difícil acompanhar os debates que nos últimos anos se adensaram sobre a natureza, as capacidades de reprodução e as virtudes políticas dos middling groups contemporâneos.11
Os textos aqui reunidos trazem duas formas de abordagem do problema da constituição e da mobilidade social no mundo ibérico do Antigo Regime. A primeira desenvolve-se em torno da disputa por cargos e ofícios no Atlântico português e de como o conhecimento dos modos de acesso a esses lugares ilumina o tema dos “grupos intermédios”. A segunda tem por objetivo entender, diferenciar e problematizar a própria categoria em questão, a partir de registros de cultura material e de indicadores de consumo, seja no espaço americano, seja em Portugal ou mesmo em Espanha.
O texto de Fernanda Olival e Aldair Carlos Rodrigues (“Reinóis v. naturais nas disputas pelos lugares eclesiásticos do Atlântico português: aspectos sociais e políticos (século XVIII)”) faz o estudo das nomeações para os cabidos catedralícios de São Paulo, Rio de Janeiro, Mariana, Açores e Madeira. Perscrutando as informações de genere dos candidatos aos cargos de comissário do Santo Ofício que já tivessem exercido funções nos episcopados locais, os autores propõem uma cronologia da “naturalização” do controle desses assentos. Desvenda-se assim um meio de ascensão social acessível aos integrantes de grupos intermédios nascidos no ultramar.
É igualmente pelo recurso a documentos da Inquisição que Nuno Camarinhas pesquisa o impacto dos processos de habilitação para o ofício leigo de familiar de Santo Ofício nos cursus honorum dos juízes letrados atuantes na América portuguesa, também no século XVIII (“Familiaturas do Santo Ofício e juízes letrados nos domínios ultramarinos (Brasil, século XVIII)”). Camarinhas começa por descrever essa estrutura proto-burocrática de representação da justiça do rei, e assinala que os serviços que nele se faziam aceleravam, tendencialmente, a progressão nas carreiras. Logo em seguida, procura mostrar que para os juízes com ascendência em grupos medianos, a obtenção do hábito de familiar do Santo Ofício, que funcionava como um autêntico certificado de pureza de sangue, era um elemento de especial relevância para o acesso ao topo da judicatura do reino, facilitando, por essa via, a admissão nos mais elevados estratos da sociedade reinol.
No segundo conjunto de trabalhos, o artigo de Maria Aparecida Borrego e Rogério Ricciluca Matiello Félix (“Ambientes domésticos e dinâmicas sociais em São Paulo colonial”) parte do pressuposto de que os atributos físicos das peças de mobiliário servem para compreender reiterações e / ou transformações de padrões de conduta e mudanças no comportamento social, ultrapassando assim a simples função utilitária. Tendo por base o estudo de inventários de bens post mortem de trinta comerciantes setecentistas da cidade de São Paulo, demonstram os autores que a expansão das atividades econômicas desse núcleo urbano determinou uma clara mudança no padrão de consumo dos grupos intermédios, por razões que se prendem a práticas de representação social e relações de sociabilidade.
Os padrões de consumo são também o foco do contributo de Andreia Durães Gomes, intitulado “Grupos intermédios: identidade social, níveis de fortuna e padrões de consumo (Lisboa nos finais do Antigo Regime)”. Segundo a autora, esses indicadores são de grande importância para melhor entender o que eram os “segmentos medianeiros” que surgem nos testemunhos coevos, no vocabulário e na consciência dos atores da época, a partir da conjugação de três fatores distintos: a riqueza, o estatuto e a autoridade. O estudo desenvolve-se sobre 376 inventários post mortem de Lisboa, datados de 1755 a 1836. Após detalhadas considerações metodológicas e uma análise quase exaustiva dos dados recolhidos, propõe-se a hipótese de um crescente investimento no papel social do interior das moradias, à semelhança do que se lê no trabalho de Aparecida Borrego e Rogério Félix, muito embora no caso do amplo universo de Andreia Gomes, esse traço pareça repetirse praticamente em todos os grupos da sociedade. O artigo acaba por ser, aliás, inconclusivo quanto a um padrão de consumo específico dos grupos médios, mas sublinha a importância dos valores relativos dos móveis e dos imóveis para a diferenciação desses grupos em relação aos estratos inferiores da sociedade. Do mesmo modo, indica que os investimentos suntuários ou financeiros serviam claramente para marcar um movimento de aproximação às camadas superiores da sociedade.
O contributo final, de Máximo García Fernández (“Cambios y permanencias en la cultura material cotidiana no privilegiada: un mundo complejo. Castilla (y Portugal) durante el Antiguo Régimen”), serve como termo de comparação com a realidade espanhola e aprofunda a questão da mudança de padrões de consumo no crepúsculo do Antigo Regime ibérico. A problematização, sobretudo historiográfica, desenvolve-se em torno dos modos de transferência dos padrões de consumo de um grupo social a outro, e do papel representado pelos estratos “burgueses” no processo de disseminação e, eventualmente, universalização dos padrões de consumo que antes distinguiam as elites.
Cinco trabalhos. Sete estudiosos. Seis unidades acadêmicas. Trata-se de um conjunto que nos parece ilustrativo do que melhor se tem feito sobre o tema proposto. Para poder concretizá-lo, muito contribuiu o projeto de pesquisa Intergrupos – Grupos intermédios em Portugal e no Império português: as familiaturas do Santo Ofício (c. 1570-1773), PTDC / HIS-HIS / 118227 / 2010, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sob a coordenação de Fernanda Olival. Iniciativa que desde o começo obedeceu ao intuito de favorecer o diálogo historiográfico luso-brasileiro, pela partilha de dados, hipóteses e metodologias. Porque sendo sempre preciso valorizar o que há de específico a cada local, a começar pela própria linguagem dos testemunhos, de acordo com os bem-informados conselhos do mestre Braudel, convém definir ferramentas que nos permitam mais facilmente integrar resultados e conclusões. Por muito lento que seja o processo.
Lisboa / Providence, novembro de 2016
Notas
- BRAUDEL, Fernand. Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVe -XVIIIe siècle, vol. 2 (Les jeux de l’échange). Paris: Armand Colin, 1979, p. 547-551.
- Ibidem, p. 557-558.
- Ibidem, p. 557-568, e vol. 3 (Le temps du monde), p. 62-67. 17
- DE VRIES, Jan. The industrial revolution and the industrious revolution. The Journal of Economic History, vol. 54, n. 2. Cambridge, 1994, (Papers Presented at the Fifty-Third Annual Meeting of the Economic History Association), p. 249-270; GRENIER, Jean-Yves. Travailler plus pour consommer plus: Désir de consommer et essor du capitalisme, du XVIIe siècle à nos jours. Annales. Histoire, Sciences Sociales, n. 3. Paris, 2010, 65e Année (Histoire du travail), p. 787-798.
- BRAUDEL, Fernand. op. cit., vol 2., p. 554-557 e 592-597.
- Ver, por todos, SÉRGIO, António. Antologia dos economistas portugueses. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1974; GODINHO, Vitorino Magalhães. A estrutura da antiga sociedade portuguesa. Lisboa: Arcádia, 1971; COELHO, Maria Helena da Cruz & MAGALHÃES, Joaquim Romero. O poder concelhio das origens às cortes constituintes. [1ª edição, 1986] 2ª edição. Coimbra: Centro de Estudos de Formação Autárquica, 2008; HESPANHA, António Manuel. As vésperas do Leviathan. Instituições e poder político. Portugal – séc. XVII. [1ª edição espanhola, 1989] Coimbra: Livraria Almedina, 1994; MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1992-1993, 8 vol.; BETHENCOURT, Francisco & CHAUDHURI, Kirti, dir. História da expansão portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 1998-1999, 5 vol.; RAMOS, Rui, SOUSA; Bernardo Vasconcelos, MONTEIRO; Nuno Gonçalo. História de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009.
- MACEDO, Jorge Borges de. Problemas de história da indústria portuguesa no século XVIII. [1ª edição, 1963] 2ª edição, Lisboa: Querco, 1982; PEDREIRA, Jorge Miguel. Os homens da praça de Lisboa de Pombal ao Vintismo (1755-1822). Tese de doutorado em História, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1995; MADUREIRA, Nuno Luís. Luxo e distinção: 1750-1830. Lisboa: Editorial Fragmentos, 1990; Idem. Cidade: Espaço e Quotidiano. Lisboa 1740-1830. Lisboa: Livros Horizonte, 1992; OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o Estado Moderno. Honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (coord.). História da vida privada em Portugal, vol. 2 (A Idade Moderna), [Lisboa]: Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2011.
- ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. Introdução e notas, Andrée Mansuy Diniz Silva. São Paulo: EDUSP, [1ª ed., 1711] 2007, p. 79.
- FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1959; HOLANDA, Sérgio Buarque de. Metais e pedras preciosas. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de & CAMPOS, Pedro Moacyr (org.). A época colonial, t.1, vol. 2 São Paulo: Difel, 1968 (História geral da civilização brasileira); COSTA, Iraci del Nero da. Populações mineiras: sobre a estrutura populacional de alguns núcleos mineiros no alvorecer do século XIX. São Paulo: IPE-USP, 1981 (Ensaios econômicos, 7); LUNA, Francisco Vidal. Minas Gerais: escravos e senhores. São Paulo: IPE-USP, 1982; COSTA, Iraci del Nero & SOUZA, Laura de Mello e. Os desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de Janeiro: Graal. 1982; BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. Códigos e práticas. O processo de constituição urbana em Vila Rica colonial (1702-1748). São Paulo: Annablume, 2004.
- RUSSELL-WOOD, A. J. R. Fidalgos and philantropists: The Santa Casa da Misericórdia of Bahia 1550-1755. Berkeley: University of California Press, 1968; SCHWARTZ, Sutart B. Sovereignity and society in colonial Brazil: the High Court of Bahia and his judges, 1609-1751. Berkeley: University of California Press, 1973; SILVA, Maria Odila Leite da. Quotidiano e Poder: Ana Gertrudes de Jesus. São Paulo: Brasiliense, 1984; PINTO, Maria Inez Machado Borges. Sérgio Buarque de Holanda e a sociedade mineradora: povoamento tumultuário e o processo de sedimentação social no século XVIII. Revista de História. São Paulo, 1988, p. 45-58; MARTINHO, Lenira Menezes & GORENSTEIN, Riva. Negociantes e caixeiros na sociedade da Independência. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1992; MARINS, Paulo César Garcez. Através da rótula. Sociedade e arquitetura urbana no Brasil, séculos XVII a XX. São Paulo: Humanitas, 2001; BLAJ, Ilana. A trama das tensões. O processo de mercantilização de São Paulo (1681-1721). São Paulo: Humanitas, 2002; OLIVEIRA, Maria Luísa Ferreira de. Entre a casa e o armazém, relações sociais e experiência da urbanização. São Paulo, 1850-1900. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2005; FURTADO, Júnia Ferreira. Homens de negócio. A interiorização da metrópole e do comércio nas Minas setecentistas. São Paulo: Hucitec, 2006, entre muitos outros.
- O debate é público e muito alargado. Para uma sua expressão mais radical, veja-se, por exemplo, GUERREIRO, António. A classe média nunca existiu. Público. Porto. 30.09.2016. Disponível em: https: / / www.publico.pt / culturaipsilon / noticia / a-classe-media-nunca-existiu-1745207?frm=ul
Tiago C. P. dos Reis Miranda – Universidade de Évora (CIDEHUS) Évora – Portugal. Investigador integrado do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades. E-mail: trmiranda@uevora.pt
Bruno Feitler – Universidade Federal de São Paulo Guarulhos – São Paulo – Brasil. Doutor em História pela École des Hautes Études en Sciences Sociales. Professor adjunto de História Moderna da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp e bolsista de produtividade em pesquisa CNPq. E-mail: brunofeitler@gmail.com
FEITLER, Bruno; MIRANDA, Tiago C. P. dos Reis. Apresentação [Hierarquias e mobilidade social no Antigo Regime: os grupos intermédios no mundo português]. Revista de História, São Paulo, n. 175, 2016. Acessar publicação original [DR]
Hobbes on legal authority and political obligation – VENEZIA (CE)
VENEZIA, Luciano. Hobbes on legal authority and political obligation., 2015. Resenha de: HIRATA, Celi. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.34, Jan./Jun. 2016
Em seu livro, publicado no ano passado, Luciano Venezia pretende fundamentar uma leitura deontológica da obrigação política em Hobbes. Trata-se de um comentário que se opõe à leitura mais difundida, leitura segundo a qual o principal traço da lei seria a coerção, de forma que os súditos seriam obrigados a obedecer à lei porque o seu cumprimento constituiria a melhor maneira de promover os seus interesses e não porque a lei obrigaria por si mesma. Venezia, em contraste, pretende argumentar que os súditos estão moralmente obrigados a obedecer à lei na medida em que as promessas e contratos possuem a força de obrigar por si mesmas, independentemente dos interesses do agente, sendo que há casos nos quais a ordem legal requer que os súditos ajam de um modo diferente do que o interesse racional ordenaria. A marca característica da lei seria, pois, a autoridade e não a coerção. Para o autor, o que está em questão é a defensabilidade mesma da teoria política de Hobbes, na medida em que uma interpretação que enfoca no caráter coercitivo da lei e no interesse próprio comprometeriam a relevância teorética de sua filosofia política e legal pelas seguintes razões: em primeiro lugar, porque teorias que fazem da coerção a característica fundamental da lei não são hodiernamente populares; em segundo, como H. Hart argumenta, a teoria hobbesiana da lei, de acordo com essa interpretação predominante, não daria conta de uma certa variedade de leis — como aquelas que conferem poderes ao invés de imporem obrigações — bem como da persistência das leis ao longo de diferentes gerações de legisladores; por fim, como S. Shapiro defende, um regime no qual as sanções de não-cumprimento constituíssem a única razão para a obediência seria logicamente impossível pela simples razão de que há um limite para as ameaças e sanções.
A interpretação de Venezia é fundamentada em três sub-teses, como o próprio autor formula nas considerações finais: em primeiro lugar, Venezia defende que as diretivas legais introduzem razões autorizadas para a ação, que, como tais, excluem e tomam o lugar de outros tipos de razão, como as razões de teor prudencial; em segundo, o autor argumenta que os súditos são moralmente obrigados a obedecer a quase tudo que é ordenado pelo soberano, mesmo quando o cumprimento da ordem é desvantajoso para a sua autoconservação; em terceiro, Venezia sustenta que a teoria contratual de Hobbes fundamenta as obrigações políticas de modo independente dos estados motivacionais dos súditos, sendo que as suas obrigações podem ir para além da promoção de seus interesses racionais.
Quanto ao primeiro ponto, Venezia argumenta que a noção de autoridade ocupa um lugar de destaque na filosofia legal e política de Hobbes e que ela se distingue normativamente de outras razões que influenciam o comportamento humano, como a persuasão e o poder: enquanto as diretivas coercitivas influenciam as ações pelo seu conteúdo (na medida em que um agente as segue para evitar um mal maior ou alcançar um bem maior), as diretivas autorizadas influenciam o raciocínio prático pela sua origem, sendo que um agente a segue porque uma pessoa ou instituição exige que ele aja assim, independentemente de seu conteúdo, mesmo quando o agente não acredita que o seu cumprimento seja vantajoso (incluindo no cálculo as sanções que podem advir de seu não-cumprimento). A distinção que está na base dessa diferenciação é aquela que Hobbes realiza no capítulo XXVI do Leviatã entre conselhos (counsels) e ordens (commands): enquanto os primeiros fornecem uma razão para agir em virtude de seu conteúdo, as segundas o fornecem em função de sua origem. A lei, na medida em que motiva a ação pela sua origem, tem, segundo Venezia, o propósito de interromper a deliberação prática e fornecer a razão relevante para a obediência. É nesse sentido que Hobbes de fi ne nos Elementos da Lei que uma ordem é uma lei quando “a ordem é uma razão suficiente para mover a ação” (EL, XIII, 6). É também nesse sentido que a sentença do árbitro exclui e substitui a avaliação pessoal, tornando-se a razão definitiva para agir. Sendo assim, as sanções pelo não-cumprimento não desempenham um papel central na concepção hobbesiana da lei, mas são apenas coadjuvantes. Venezia opõe-se, assim, à leitura analítica predominante sobre a obrigação, leituras como as de D. Gauthier, G. Kavka, J. Hampton, K. Hoekstra, que sustentam que o papel do soberano consiste em resolver o dilema do prisioneiro, superando a in fluência das paixões e aliando o interesse privado com o interesse comum por meio das sanções.
O argumento de que as leis seriam um tipo diferente de razão por meio da distinção entre ordens e conselhos, entre motivação pela origem e motivação pelo conteúdo é bastante convincente. Entretanto, fica a questão de se seria possível algo assim como interromper a deliberação para Hobbes. A alternância das imagens das consequências boas ou más de uma dada ação na mente ou dos apetites e aversões parece ser descrito por Hobbes como um processo universal, que se dá em todos os corpos animados. Este argumento deveria, pois, ser fundamentado não apenas na natureza da lei, isto é, no terreno político e legal, mas também no terreno antropológico.
Outro argumento que Venezia apresenta para defender que as sanções não são centrais na filosofia legal de Hobbes é que mesmo agentes que, por suposição, fossem perfeitamente racionais e morais, precisariam de autoridade para regular as suas ações, mesmo na ausência de sanções. A guerra no estado de natureza se daria, segundo a interpretação de Venezia, porque os homens discordam em suas interpretações particulares do que é válido ou razoável, isto é, devido à ausência de padrões do que é bom ou ruim e das ações que devem ser realizadas. A explicação do conflito não seria moral ou psicológica, mas residiria na falta de definições autorizadas de noções morais. Essa explicação do conflito abre espaço para uma filosofia política e legal que enfatiza a autoridade como o traço característico da lei. Embora toda lei envolva penalidade e as sanções sejam uma parte constitutiva da lei, trata-se mais de uma questão empírica do que conceitual, sendo que a ordem do soberano fornece por si mesma a razão para agir e as sanções introduzem apenas uma razão adicional para o cumprimento da lei, minimizando o risco de abuso e não-cumprimento. A coerção não seria, deste modo, indispensável na regulação das leis.
A despeito de centralizar na noção de autoridade, afirmando que é ela que caracteriza a lei e não a coerção, o autor não analisa a noção de autorização e de representação tal qual Hobbes a apresenta no Leviatã. A justificativa que ele indica é dupla: em primeiro lugar, o autor alega que a autorização não acrescenta nada de significativo para a obrigação contratual de obediência às diretivas do soberano; em segundo, ele afirma, seguindo nisto o comentário de P. Martinich, que a fundamentação da obediência na autorização e na alienação do direito natural são incompatíveis, na medida em que, quando uma pessoa autoriza uma outra, esta última apenas a representa, de modo que a primeira possui autoridade e permanece superior em relação à segunda, em contraste com a alienação. Ora, seria importante mostrar isso de forma mais fundamentada, já que não é essa a consequência que Hobbes parece extrair do ato de autorização. Uma vez que a noção de autoridade é central para a argumentação de Venezia, seria preciso, parece-nos, dar mais atenção a essa noção tal como ela é apresentada no texto de Hobbes.
Quanto ao segundo ponto, Venezia argumenta que se a tese de que a obediência se fundamenta no auto-interesse dos súditos fosse correta, os agentes poderiam legitimamente desobedecer à lei quando ela não o promovesse, o que não é afirmado por Hobbes. Pelo contrário, a desvantagem da obediência da lei não legitima a desobediência. A desobediência em relação às leis só é justificada nos casos nos quais os súditos não se obrigaram a obedecer ou a não resistir. Deste modo, mesmo a liberdade para desobedecer é normativa, segundo Venezia.
Além disso, a teoria de Hobbes introduziria, segundo Venezia, as duas notas características das razões morais, tais como elas são descritas contemporaneamente por Stephen Everson. Segundo este, as razões morais são aquelas que, em primeiro lugar, motivam o agente a agir pelo interesse de outro além do interesse próprio e que, em segundo, são categóricas, sendo que a sua força normativa não depende das motivações do agente. Ora, Venezia argumenta que Hobbes introduz a análise de determinadas paixões, como piedade, caridade, benevolência, etc., pelas quais os homens podem ser motivados apenas pela ideia de promoverem o interesse de outros. Quanto ao segundo ponto, o comentador argumenta que, a partir da definição hobbesiana de justiça, os homens justos não são motivados pelo benefício próprio, mas exclusivamente por considerações morais, sendo que aquele que cumpre a lei não pela lei, mas pelo medo da sanção, é injusto (Do Cidadão, IV, 21). Ora, a partir do parágrafo referido, no qual Hobbes afirma que a lei de natureza compete à consciência, não se pode fundamentar a tese de que essas leis sejam imperativos categóricos, e consequentemente razões morais no sentido descrito por Everson. No Leviatã, Hobbes, pela contraposição entre foro interno e foro externo, afirma que a obrigação em consciência das leis de natureza só obrigam de fato quando há segurança no seu cumprimento. Ou seja, trata-se de um imperativo hipotético e não categórico, já que a obrigação se fundamenta na obtenção da paz e vale apenas com a condição de que os outros a cumpram 1 . Elas tornam impositivo o desejo de as colocar em prática, mas nem sempre obrigam porque dependem de circunstâncias exteriores ao agente. Há, neste ponto, uma grande distância entre a filosofia de Hobbes e aquela de Kant. A perspectiva acaba sendo até mesmo inversa: para Hobbes, aquele que agisse incondicionalmente de acordo com as leis de natureza, aplicando- as mesmo na ausência de garantias de que os outros a cumprissem, agiria contrariamente ao fundamento mesmo das leis de natureza, invalidando a sua aplicação futura.
Enfim, quanto ao terceiro ponto, Venezia sustenta que Hobbes analisa as obrigações contratuais numa maneira deontológica, na medida em que depois de renunciar pelo contrato à parte de seus direitos naturais, os agentes adquirem obrigações que são independentes de seus estados motivacionais contingentes. A obrigação tem como fundamento
a promessa, sendo que a penalidade constitui uma motivação meramente adicional. Nesse sentido, a razão para contrair a obrigação distingue-se da razão para cumpri-la: enquanto a primeira é prudencial, baseada no auto-interesse, a segunda não o é. A obrigação política não se fundamenta na possibilidade de sanções em caso de não cumprimento, mas em atos voluntários que expressam consentimento.
Por fim, Venezia critica esse fundamento mesmo da obrigação política em Hobbes, a saber, a tese de que as ações realizadas sob coerção são completamente voluntárias. O comentador argumenta que as ações cometidas sob coerção não são voluntárias porque as condições sob as quais os agentes coagidos fazem as suas escolhas não refletem a sua vontade real, considerando-se a afirmação de Hobbes de que “o objetivo de todos os atos voluntários dos homens é algum bem para si mesmos” (Leviatã, XIV, p. 115). Os agentes não realizariam as ações em questão se elas tivessem oportunidade de agir de outro modo, sendo que a escolha em questão não expressa o arbítrio próprio do agente, mas a escolha é de outro, que deliberadamente reduz as opções possíveis. As suas decisões não refletiriam a sua verdadeira vontade, mas eles seriam o mero instrumento de outros agentes. Ora, tal crítica se opõe à definição mesma de voluntaridade em Hobbes, definição segundo a qual é voluntário todo ato que provém da vontade, a qual consiste, por sua vez, no último momento da deliberação do qual se segue imediatamente a ação, independentemente de como e em quais circunstâncias foi determinada. É justamente nesse sentido que Hobbes reavalia o exemplo de ação dado por Aristóteles na Ética a Nicômaco, a saber, a de um capitão que joga a carga de sua embarcação no mar pelo medo de seu navio afundar, exemplo que é mencionado por Venezia. Enquanto para o estagirita essa ação constitui o exemplo de uma ação mista, nem voluntária e nem contra-voluntária, visto que a ação não seria desejada por si mesma, ainda que o princípio da ação resida no agente, para Hobbes se trata de uma ação perfeitamente voluntária porque procedente da vontade. Essa redefinição e simplificação do que é a vontade e do que é voluntário é absolutamente central na filosofia hobbesiana. Afirmar, pois, que o que Hobbes de fi ne como voluntário nem sempre o é, na medida em que as ações realizadas sob coação não seriam desejadas em si mesmas, é rejeitar a definição de Hobbes e endossar o que o autor já refutara. Mas como o próprio Hobbes defende, se a definição é compreendida e não admitida, a controvérsia se encerra (De Corpore, VI, § 1 5) .
Por fim, nas considerações finais, Venezia dirige críticas a diversos pontos da filosofia política de Hobbes. Em primeiro lugar, Hobbes erraria no ponto de partida de sua teoria política ao colocar o desacordo humano e a guerra civil no mesmo patamar, ponto de partida que resultaria numa teoria política extremamente autoritária. Os filósofos políticos contemporâneos, como J. Rawls, mostraram que o conflito e a diversidade de opiniões são constitutivas das sociedades democráticas. Outro ponto a ser criticado, tal como Hume já o fizera, é que apenas um número muito limitado de súditos obrigaram-se, tanto pelo consentimento tácito como explícito, a obedecer à lei. Além disso, Venezia critica o fato de que o direito do soberano de governar não é apenas o resultado da transferência dos direitos pelos súditos, mas está fundamentado em seu direito natural, o que seria inapropriado, pois deste modo não se distinguiria o soberano enquanto um indivíduo privado e enquanto portador de um cargo oficial. Por fim, além daquela crítica concernente à voluntariedade das ações feitas sob coação, Venezia endossa a crítica dos filósofos liberais, notadamente, J. Locke, de que não se pode ter obrigações políticas em relação a um governo absoluto por não possuirmos o direito de nos escravizar. À exceção da segunda crítica, que diz respeito ao número dos que pactuaram e que parece ter validade mesmo pressupondo a filosofia hobbesiana, as demais críticas são exteriores à filosofia de Hobbes e só podem ser realizadas a partir de pressupostos completamente estranhos ao filósofo. Se, por um lado, é louvável o esforço de trazer a filosofia de Hobbes para os debates contemporâneos, por outro, medi-lo a partir dos parâmetros da filosofia política atual faz o seu sistema filosófico perder o seu sentido.
De toda forma, o livro de Luciano Venezia constitui uma contribuição importante para os estudos da filosofia hobbesiana, uma vez que apresenta bons argumentos em favor de uma leitura diferente daquela predominante sobre a obrigação política, a natureza da lei e do contrato na filosofia de Hobbes, além de ser extremamente claro e objetivo. O que nesta resenha se apresentou como sendo problemático decorre em grande medida da discrepância entre dois métodos e tradições de interpretação distintos, a saber, entre o método estrutural de leitura e o método analítico, que é o método adotado pelo autor do livro.
Nota
1 “(…) Aquele que fosse modesto e tratável, e cumprisse todas as suas promessas numa é poca e lugar em que ninguém mais assim fizesse, torna-se-ia presa fácil para os outros, e inevitavelmente provocaria a sua própria ruína, contrariamente ao fundamento de todas as leis de natureza, que tendem para a preservação da natureza ” (Hobbes, 2014, p. 136).
Referência
HOBBES, Thomas. (2 0 1 4). Leviatã. São Paulo: Martins Fontes.
Celi Hirata – Professora Universidade Federal de São Carlos. E-mail: celi_hirata@yahoo.com
Práticas de leitura e religiosidade em Dom Quixote – VIANNA (C)
VIANNA, Marielle de Souza. Práticas de leitura e religiosidade em Dom Quixote. Caxias do Sul: Educs. Resenha de: BOMBASSARO, Luiz Carlos. Conjectura, Caxias do Sul, v. 20, n. 3, p. 225-230, set/dez, 2015.
Para quem deseja estudar e compreender as significativas e complexas relações entre literatura, leitura e religiosidade, está à disposição um belo e instigante livro: Práticas de leitura e religiosidade em Dom Quixote, de Marielle de Souza Vianna, publicado pela Editora da Universidade de Caxias do Sul (Educs). Nesse livro, a autora mostra como o entrelaçamento de leitura e religiosidade constitui um dos temas centrais daquele que é considerado um dos romances fundadores da literatura moderna: Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Numa investigação meticulosa, que associa reconstrução histórica do contexto sociocultural e análise textual da obra cervantina, Vianna destaca a importância que a leitura e a religiosidade adquirem na estruturação dessa obra-prima, romance que marcou a transformação radical da literatura ocidental. O resultado é uma defesa inconteste do valor e do sentido da leitura e um convite para revisitar a fascinante, multifacetada e desafiadora obra de Cervantes.
A paixão pela leitura e pelo seu ensino é declaradamente o motivo que deu origem ao livro. Vianna a toma como pressuposto de seu trabalho que, além de ser uma produção simbólica marcante da nossa cultura, a leitura é antes um modo específico de interpretação da realidade e uma forma de vida. A leitura vem entendida, assim, como “um processo dinâmico constituído por múltiplas dimensões que envolvem o modo de ser, de perceber e de agir do ser humano no mundo”. (p. 12). Dessa hipótese de trabalho, o leitor encontrará provas incontestáveis já nas primeiras páginas do livro, quando a autora indica quatro dimensões básicas da leitura: uma ontológica, uma estética, uma gnosiológico-hermenêutica e outra ética. A prática de leitura configura, assim, o modo de ser, de conhecer e de agir. Por isso, Vianna descreve o ato de ler como “uma relação existencial, um processo de descoberta e de construção de si mesmo e do mundo”. (p. 9). A prática de leitura é uma forma de vida e de convivência. Leia Mais
Le Travail de l’œuvre Machiavel – LEFORT (CE)
LEFORT, Claude. Le Travail de l’œuvre Machiavel. Paris: Gallimard, 1972. Resenha de: RAMOS, Silvana de Souza. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.32, Jan./Jun., 2015.
A leitura feita por Claude Lefort da obra de Nicolau Maquiavel – publicada em Le Travail de l’œuvre Machiavel – abre uma direção inédita de interpretação ao trazer para o primeiro plano de análise o campo de pensamento instaurado pelo autor de textos clássicos da filosofia política, tais como os Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio e o famoso livro de aconselhamento dedicado a Lorenzo de Médici, O Príncipe . A ideia de obra é central para Lefort: trata-se de compreender que o pensamento de Maquiavel institui um horizonte de reflexão sobre o político, de forma que a compreensão deste pensamento exige que nos reportemos ao trabalho crítico despertado por ele, uma vez que a obra não se encerra sobre si mesma. Noutros termos, Lefort pretende mostrar que as diferentes interpretações de Maquiavel estão vinculadas ao campo de questão aberto pela obra, de modo que aquelas aparecem como desdobramentos desta. Por isso, Lefort investiga esse campo onde o trabalho da obra se faz e se refaz no intuito de nos colocar em contato com o imenso volume de reflexões que reverberam a presença da obra maquiaveliana no pensamento e na experiência política moderna.
Isso não o impede, porém, de arriscar uma interpretação original, fruto do enfrentamento do próprio texto de Maquiavel e do contexto em que este se inscreve. Neste ponto, a contribuição crítica da leitura empreendida por Lefort pode ser medida por diversos fatores. Em primeiro lugar, destaca-se a análise do poder enquanto fenômeno. Trata-se de mostrar que, para além da discussão sobre a moralidade ou a imoralidade das ações do príncipe, Maquiavel foi capaz de compreender, contra os humanistas de seu tempo, que a política se desenrola no campo das aparências e que, por consequência, o sentido dessas ações desenha a figura do príncipe e a possível aprovação deste por parte dos que estão sob o seu poder. Noutros termos, o ser do príncipe é exterior – é o resultado do sentido que suas ações ganham na relação deste com os governados. Logo, não há por que julgar o príncipe segundo valores morais absolutos já que a manutenção do poder depende da virtù do governante para lidar com a rede de significações que delineiam sua própria figura segundo as circunstâncias impostas pela fortuna .
Em segundo lugar, trata-se, ainda de acordo com a leitura de Lefort, de mostrar que toda cidade é atravessada pelo conflito entre os grandes, ou os que desejam dominar, e o povo, isto é, os que desejam não ser dominados. Quer dizer, podemos ler Maquiavel como um pensador da liberdade ligada ao funcionamento do desejo no interior do campo político, pois a liberdade de todos depende da força do desejo de não dominação para resistir à investida dos grandes. Ora, ao atribuir aos grandes um desejo insaciável de dominação, Maquiavel dissolve a associação entre nobreza e moderação, feita por aqueles que argumentavam em favor do governo aristocrático e por isso sustentavam a ideia de que quem tem mais se contenta com aquilo que tem, ao passo que o povo seria incapaz de moderação. Entra em jogo aqui não apenas o questionamento das virtudes atribuídas à nobreza, mas também a rejeição da representação tradicional do povo, cujo comportamento volúvel e anárquico seria determinado principalmente pelo desejo de prazer – o que o tornaria fonte de tumulto na cidade –, para apresentá-lo como o verdadeiro promotor de leis aptas a salvaguardar a liberdade republicana. Assim, ciente da divisão entre os dois humores que atravessam a cidade, o governo equilibrado não deverá contar com a pretensa virtude e sabedoria dos nobres, mas sim com o contrapeso institucionalizado que ao desejo de dominação dos grandes opõe o desejo de liberdade do povo. Nestes termos, Lefort oferece uma resposta fecunda a um dos principais problemas que cercam a obra de Maquiavel. Afinal, como compatibilizar a figura paradoxal do autor florentino (de um lado, confesso amante da liberdade republicana e, de outro, conselheiro de um tirano)? De acordo com a perspectiva lefortiana, essas duas faces encontram um ponto de convergência quando compreendemos que para Maquiavel o desejo de não ser dominado ou oprimido – desejo negativo, que não pode de fato ocupar o poder – é, na verdade, um impulso para a liberdade, tanto nos principados quanto nas repúblicas. Tal desejo abre campo, nos principados, à busca por uma vida segura sob a proteção de um príncipe cuja figura não comporte a feição de um déspota ou de um tirano, e, nas repúblicas, à busca pelo bom ordenamento de leis com vistas à guarda da liberdade de todos.
Em terceiro lugar, a interpretação de Lefort permite a incorporação da obra de Maquiavel à reflexão sobre a democracia. Seguindo, neste ponto, os passos dados anteriormente por Espinosa, um dos raros autores a buscar em Maquiavel, já no século XVII, uma fonte para o pensamento democrático, Lefort mostra que a obra do florentino se constrói a partir de uma reflexão sobre o papel da indeterminação e do conflito no interior da experiência política. A defesa do caráter negativo do desejo de liberdade – desejo que se caracteriza pela recusa à opressão – e a ideia segundo a qual a ordem instituída no horizonte da cidade livre não abole o conflito entre os dois humores que a atravessam exigem, ambos, o abandono da imagem da boa sociedade e do bom governo. Ora, uma vez que não há comunidade livre e, ao mesmo tempo, trans – parente, absolutamente virtuosa e sem conflitos, desfaz-se a possiblidade de que esta produza uma imagem identitária de si mesma. Por isso, a comunidade – ou a sociedade, em termos modernos – se caracteriza pela ausência de determinação definitiva. Por um lado, uma vez que é atravessada pelo conflito e dinamizada pelo movimento de resistência à opressão, a comunidade tem de lidar com sua própria indeterminação. Essa desincorporação da sociedade será trazida à tona quando a força do número – expressa pela exigência do sufrágio universal enquanto direito – se tornar uma das marcas instituintes da democracia moderna. Por outro lado, o fenômeno do poder permanece sem o respaldo de uma boa figura, pretensamente definitiva, ancorada na natureza ou na história, uma vez que a dinâmica do desejo de liberdade resiste à tentativa daqueles que pretendem incorporá-lo de maneira absolutamente fundada. O poder permanece infundado e só encontra respaldo contingente no jogo das aparências e das opiniões, com os quais tem de dialogar constantemente. Apoiada nesses dois elementos, a obra de Lefort desdobra o pensamento de Maquiavel no intuito de decifrar o sentido da invenção democrática.
Referências
LEFORT, Claude. (1972). Le Travail de l’œuvre Machiavel. Paris: Gallimard
Silvana de Souza Ramos – Professora Universidade de São Paulo. E-mail: ramos_si@hotmail.com
La Nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España | Gregorio Alonso
La Nación en capilla es un libro ambicioso. En él se aborda una cuestión extremadamente compleja y debatida de la historia de España: la formación de la nación y el lugar de la religión católica en este proceso. Gregorio Alonso lo hace en sus propios términos y reconstruye la conformación de la ciudadanía católica -de larga vida y tardías resurrecciones- desde los últimos años del siglo XVIII hasta el inicio del último cuarto del siglo XIX. Este concepto particular de ciudadanía se define en sus primeras páginas en una doble dimensión: estatuto legal plasmado en la legislación y proyecto político. La forma de definirlo anticipa el tratamiento con el que Gregorio Alonso lleva a cabo la enorme tarea de contarnos este siglo de historia desde un punto de observación particular que contiene las relaciones entre Estado e Iglesia pero que, al mismo tiempo, las desborda ampliamente. Emplazado en estas intersecciones y de la mano de este concepto de la ciudadanía católica -que conforma a la vez una fórmula identitaria que excluye a todos los que no pertenecen a la comunidad de creyentes- se da una explicación convincente y multifacética de la formación la nación española: una nación en capilla.
Esta reseña, en consecuencia, más que dar cuenta de todas sus contribuciones, las polémicas y debates en los que interviene y que, a su vez produce, hará foco en determinadas cuestiones vinculadas a una manera de analizar la historia política de España en poco menos de cien años desde una preocupación específica -la de la cuestión religiosa en su relación a los poderes gubernamentales y fácticos- y desde determinados sujetos -colectivos y en tensión- que atraviesan corporaciones, gobiernos o grupos de pertenencia.
La introducción del libro proporciona otras definiciones accesorias, complementarias e indispensables para analizar el período, como las de clericalismo y anticlericalismo. Estas nociones quedan asociadas en la investigación de Alonso, ya no solamente a posturas políticas acerca del lugar que debía ocupar el clero católico en relación con el Estado sino a las operaciones concretas de determinados grupos y facciones que intervienen en la lucha política española. La tensión existente entre estos dos movimientos -cuya forma de exhibición se expresó históricamente con intensidad y violencia diversa- definirá, según Alonso, la polarización y la inestabilidad de la política española. De modo que si la lucha política en el período analizado se hizo visible en buena medida a partir de este antagonismo -clericales vs. anticlericales-, el trabajo de Alonso muestra cómo esta disputa no fue siempre igual a sí misma y experimentó transformaciones debido a los cambios y tensiones al interior de cada una tradiciones que se enfrentaban. El resultado de este enfoque ofrece un repertorio de los modos específicos, dinámicos e históricos que asumió esta confrontación.
Los temas y problemas que este libro trata reconocen en su autor trabajos previos, con un tratamiento desigualmente intenso según los períodos y las escalas espaciales consideradas. En esta oportunidad el libro lleva a cabo una mirada secular del problema del cambio político y el tránsito a la modernidad uniendo un conjunto de temas y períodos, a los cuales no es habitual encontrarlos en la misma mesa de trabajo, ligados a partir de un conjunto de interrogantes que los integran.
La nación en capilla se organiza en la presentación de sus contenidos y en el desarrollo de sus principales argumentos de una manera, si se quiere, clásica. Apela a la cronología construida a partir de experiencias políticas de signo diverso y objetivables a partir de los distintos gobiernos. Los ocho capítulos reúnen, en la mayoría de los casos, ciclos políticos donde quienes detentaban el poder y sus antagonistas se enfrentaron con intensidades y recursos diversos. El libro – articulado en torno a los ejes de la conflictividad política epocales: revolución/reacción; conservadores/liberales, clericalismo/anticlericalismo- modula el análisis del alcance de determinados intentos reformistas junto a los estallidos de violencia tumultuaria. La reconstrucción, casi año tras año, de las confrontaciones político-religiosas abre un mundo de relaciones que redefine las etiquetas y los contornos de grupos sociales y/o corporativos en sus comportamientos políticos y en sus formas de acción.
Los primeros tres capítulos tratan sobre los comienzos del establecimiento de esta ciudadanía católica antitolerante y la emergencia de actitudes y escritos anticlericales en clave violenta. Se analizan las diferentes posiciones acerca del lugar de la Iglesia en la configuración de los nuevos regímenes y los inicios de la secularización de sus agentes y recursos. El capítulo 1, Cruzadas, revolución y reacción (1793-1820) , considera la fase inicial de este proceso que no es unitario y esboza buena parte de los conflictos que se desplegaron a lo largo de casi un siglo con diferentes actores y dinámicas. Los años de las guerras de convención, la guerra de independencia, el constitucionalismo gaditano y la restauración fernandina concentran algunos de los debates y luchas que intentaron saldarse hasta finales del siglo XIX y, desde luego, también después. Poco más de dos décadas le permiten al autor reflexionar sobre las dimensiones religiosas de la crisis del Antiguo Régimen y de los inicios del liberalismo. En este período, la religión está presente -aunque no siempre lo está del mismo modo- tanto en la legitimación de las guerras contra Francia -la catolicidad del reino como elemento fundante de la comunidad amenazada- como en Cádiz de 1812, cuando se dotaba al Estado español de un régimen de estricta confesionalidad en la que la intransigencia era elevada al rango constitucional. Las “cruzadas” de 1793 y de 1808 se presentan, asimismo, en sus contrastes de cuyo análisis se explica la necesidad de las Cortes gaditanas de consagrar al catolicismo como el “alma patria”, en aquel contexto asumiendo un formato constitucional. Según Gregorio Alonso esta operación fue posible porque “la cruzada católica” fue mucho menos monolítica y católica de lo que se supone y porque el “invasor francés” contó con el apoyo de buena parte de la jerarquía eclesial. Es decir, en 1812 existía una prehistoria de las divisiones eclesiales y nacionales y una parte de la Iglesia ya acumulaba experiencias de integración con los elencos protoliberales y de participación en los debates sobre el papel que debía jugar la fe en las sociedades modernas. De modo que la transferencia de la sacralidad desde el trono y el monarca, a la nación y a la constitución, expresaban sincretismos político-religiosos que ya venían teniendo lugar. El papel de la religión no se detenía en el terreno de las legitimaciones y la instrumentación del proyecto gaditano contó con el personal y las instituciones eclesiásticas desde el comienzo, como por ejemplo en los procesos electorales. La progresiva desafección de una parte del clero frente a las tareas -y recursos- que la experiencia gaditana exigía, se hizo patente con la restauración fernandina cuando se reeditaron antiguas posiciones privilegiadas y se produjeron no pocos ajustes de cuentas y purgas al interior del clero.
El capítulo 2, 1820-1834: Constitución, reacción y exilio , reconstruye las medidas de reforma eclesiástica durante el trienio constitucional, cuya profundización incrementó la predica anticlerical -literaria y periodística- y tuvo como respuesta la resistencia violenta por parte de los antiliberales. Allí se examina el modo en que se reestablecieron estas respuestas de los restauradores monárquicos absolutistas y su alianza con la Iglesia antirrevolucionaria. Una vez cerrada la fase del Trienio y suprimido el sistema constitucional, durante la década ominosa (1823-1833) se revisó el pasado político reciente en clave reaccionaria. El estudio de Alonso repasa la responsabilidad del partido apostólico en la difusión del mito antimasónico. La restauración eclesial en esta etapa recibió impugnaciones por parte del arco liberal y obligó a muchos de sus representantes a exiliarse, y una buena parte de ellos lo hizo en Londres. Fuera de España el pensamiento liberal se moderó, y lejos de abrazar las ideas republicanas, siguió sosteniendo la figura del monarca en el mejor estilo doceañista. El discurso político-religioso, por su parte, tomó el ejemplo de las nacientes repúblicas hispanoamericanas donde la influencia de la Iglesia se había circunscripto al terreno moral. La incorporación de estas experiencias transatlánticas produce un efecto sugestivo de explicación más amplia y disruptiva en la medida que los marcos de referencia exceden los de Europa occidental y mediterránea.
El capítulo 3 Tiempos de guerra, revolución y martirio (1834-1840) trata de un período donde recobra impulso la revolución liberal y donde la confesionalidad del estado sólo es reconocida como hecho pre-constituyente. En esta etapa se retomaron las políticas desamortizadoras a las que siguió una nueva guerra civil -con ramificaciones fuera de España: en Francia, Inglaterra y el Papado- en la que participó el naciente carlismo y donde tuvo lugar, entre 1834 y 1836, un tipo particular de anticlericalismo popular extremadamente violento. Durante El Trienio esparterista analizado en el capítulo 4 se construyen las nuevas fórmulas probadas para consolidar la responsabilidad del estado en la gestión y administración de la vida religiosa nacional, y para construir una de Iglesia nacional independiente económica e institucionalmente del Vaticano. El fracaso de este experimento político tuvo como consecuencia la consolidación del pensamiento ultramontano.
Entre 1843 y 1854, período tratado en el capítulo 5 –Las aguas al cauce conservador (1843-1854) – se analizan los instrumentos legales a partir de los cuales se refrendó la confesionalidad del Estado, el monopolio católico de educación y la vida espiritual de la ciudadanía. La Constitución de 1845, junto con el Código Penal de 1848 y el Concordato con la Santa Sede de 1851 formaron el corpus jurídico que marcaba el compromiso católico de la línea moderada.
Como han demostrado distintos trabajos, la corta experiencia del Bienio progresista incluyó las últimas ventas de tierras eclesiásticas y un cierto grado de tolerancia religiosa, la que era posible a partir de los estrechos márgenes que ofrecía el Concordato, la Constitución y el Código Penal que venían de ser consagrados. Pese a ello, la ruptura de la confesionalidad del Estado y la apertura de la discusión sobre el estatuto de las minorías religiosas en España desató fuertes reacciones del “neocatolicismo”. En este capítulo sexto se examina su agenda política que combinó legitimismo, antiparlamentarismo y clericalismo. Desde estas coordenadas surgió un movimiento católico con un nivel de organización que el anticlericalismo nunca alcanzaría, aunque, al mismo tiempo dividió a los católicos entre sí por la persistencia de la versión liberal. Éstos últimos, los católicos liberales, admitían la separación entre Estado e Iglesia, las reformas de la estructura eclesial y el diálogo con las nuevas realidades políticas y sociales. Se perfilaban de este modo dos fórmulas posibles de combinación de elementos del catolicismo y del pensamiento liberal. Estos temas son tratados en el capítulo 6 –Unidad católica y persecución de los protestantes (1854-1868) – junto con el ingreso -tímido, frío y vacilante- de los protestantes a la vida religiosa pública española. Las magras cosechas de la prédica protestante fueron explicadas en aquel momento, e incluso por una historiografía no tan antigua, a partir del indiferentismo religioso y la ignorancia y falta de instrucción generalizada entre las clases menesterosas. Pese a que el credo protestante no arraigaba en tierra española, se le opusieron resistencias a través de antiguos recursos como los catecismos populares y otro tipo de dispositivos plagados de identificaciones entre los protestantes y los socialistas, en los que se detiene Alonso para mostrar la persistencia de una de las asociaciones que aún continuaban organizando el pensamiento mayoritario: entre la unidad religiosa y la unidad nacional.
El pronunciamiento progresista de septiembre de 1868 y el sexenio democrático que el mismo inauguró intentaría una vez más revitalizar los compromisos entre la fe heredada y la razón moderna, la Iglesia y el estado en esta oportunidad con la imposición de la libertad de conciencia. El propósito era modernizar a España y europeizarla y para ello era necesario poner fin al monopolio educativo y cultural católico y marginar a los neocatólicos. En el capítulo 7 –Los adalides de la unidad católica ante el fin de la confesionalidad- se analiza el proceso laicizador y los intentos por ampliar la diversidad religiosa al que se opuso la derecha legitimista desde su prensa periódica, las agrupaciones de laicos y a partir de acciones violentas contra autoridades civiles. En esta etapa, en consonancia con la romanización de la Iglesia Católica y los contenidos del “Syllabus”, la cuestión social ocupó el centro de la discusión y el giro anti-moderno del Vaticano respaldó de modo más sólido al bando ultramontano en su lucha contra la izquierda tolerantista. En este punto, Gregorio Alonso muestra de manera cabal como, si bien los sectores clericales acudieron a los viejos tópicos ultramontantos, también incorporaron nuevos dispositivos como las Escuelas destinadas a la formación religiosa del proletariado, cuyas características se analizan de modo sumamente preciso en este capítulo.
El último capítulo –Revolución, democracia y tolerancia: el sexenio democrático (1868-1874)- incorpora las posiciones de otros sectores -los republicanos, los católicos liberales y los progresistas- en relación con el debate de la cuestión religiosa. Por último se le dedican algunas páginas a uno de los cambios más relevantes del sexenio consistente en la conformación de un mercado libre de creencias. Se trataba de un objetivo por parte de quienes lo propiciaban con el objeto de mostrar la creciente “civilización” de España. Alonso le dedica varias páginas a describir la llegada de misioneros y predicadores de distintos credos, su implantación en distintas ciudades y la formación de centros religiosos. Al mismo tiempo critica la lectura pesimista que se ha realizado sobre este cambio religioso por considerarla “excesivamente sociologizante”. Al tiempo que reconoce los limitados alcances de la formación de un mercado de creencias religiosas -e incluso su fracaso- ensaya explicaciones “históricas”. En ellas es posible encontrar los argumentos más clásicos acerca del fracaso del arraigo del protestantismo en España, como el analfabetismo de la mayor parte de la población (particularmente relevante dado su énfasis en la lectura de las Sagradas Escrituras), o la persistencia en la asociación con carácter “extranjero” del mismo. Pero el autor añade otras razones para entender la tibia recepción del credo protestante, como el mantenimiento del poder de la Iglesia católica en posiciones clave para la reproducción del sistema de creencias (los bautismos y los matrimonios seguían haciéndose en templos católicos por el poder inercial de la tradición), a lo que agrega la escasa duración de la alianza entre los misioneros protestantes y la izquierda (sus representantes, más que propagandizar otras religiones e incluso el pluralismo religioso, buscaban apuntalar un estado neutral en materia religiosa) y el papel de sus apóstoles quienes en su mayoría eran excatólicos españoles que luego volvieron a las filas del catolicismo. Esta experiencia, que se inició en 1869 en el terreno del pluralismo religioso, se cerró en 1876 tras la aprobación de otra Constitución que sólo reconocía la tolerancia privada de los cultos no católicos.
La consideración de la historia política del período privilegiando el punto de observación de la cuestión religiosa, tal como lo hace Gregorio Alonso en este libro, le ofrece muchas oportunidades para plantear distinto tipo de revisiones. Una de ellas, particularmente interesante, es la que cuestiona la memoria liberal sobre la década ominosa a través de algunas de sus obras -como La España bajo el poder de la Confederación apostólica – para destacar la introducción de determinadas novedades legales y administrativas que formaban parte de una política que no estaba despojada de ambigüedades. El anticlericalismo popular y los tumultos de Madrid y otras ciudades ,como Reus o Zaragoza, entre 1834 y 1836, recibe una reinterpretación a la luz de las contribuciones más recientes, la prensa periódica y fuentes inéditas resaltando quiénes fueron los destinatarios de la terror anticlerical -los frailes, más que el clero secular y las religiosas-; el contexto de la guerra civil y el tipo de convocatorias que hacían de un lado y otro a través de panfletos, además de resaltar el papel de las milicias. Alonso se detiene en distintos momentos de este largo período en cuestiones de gran valor documental, como los libros y folletos, entre muchas otras fuentes, que se publicaron a inicios de la década de 1840 y buscaban relatar la guerra entre carlistas y cristinos, o el examen del canon ideológico liberal en la década moderada 1843-1854 a través de los manuales de historia del Derecho eclesiástico
Otro de los aciertos del orden de las interpretaciones más generales es el análisis de las razones sobre la ausencia de un partido católico en España (no así de partidos “de católicos”). Sus argumentos articulan explicaciones que toman en cuenta diversos aspectos de la situación política de España a lo largo del siglo XIX: la ausencia de necesidad de presión política en el marco de un sistema confesional; la escasa cultura movilizadora del catolicismo patrio; y la identificación de los partidos de la derecha hispana con los intereses católicos. El último párrafo del libro se refiere a algunos signos de la permanencia de la matriz religiosa de la nación en la España de 2014. El estudio de las razones de esas continuidades en el último siglo y medio (es decir cuando se detiene el análisis de Gregorio Alonso) requeriría de un esfuerzo -o más de uno- de la calidad y solidez como el que se aprecia en la obra que comentamos en estas páginas.
María Elena Barral – Instituto Ravignani – Conicet, Buenos Aires – Buenos Aires, Argentina. E-mail: mebarral@yahoo.com
ALONSO, Gregorio. La Nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España. Granada: Comares Historia, 2014. Resenha de: BARRAL, María Elena. La construcción de la ciudadanía católica: intersecciones históricas e historiográficas para una explicación con resonancias en el presente. Almanack, Guarulhos, n.10, p. 493-497, maio/ago., 2015.
Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos fundamentales / 1770-1870 | Javier Fernández Sebastián
O segundo tomo do Diccionario político y social del mundo iberoamericano – Conceptos pol íticos fundamentales, 1770-1870, é resultado de mais uma etapa exitosa do projeto Iberoamericano de História Conceitual, ou simplesmente Iberconceptos. Trata-se de uma obra coletiva original e de grande fôlego, com impactos relevantes no âmbito das vertentes historiográficas de enfoque atlântico. Seus 10 volumes reúnem 131 ensaios escritos por quase uma centena de autores provenientes da América Latina, dos EUA e da Europa, demonstrando, logo de início, a magnitude de tal obra.
Inspirado no dicionário histórico de léxicos políticos e sociais alemãoGeschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (1972-1997), o Iberconceptos tornou-se uma referência internacional para os subsequentes projetos de história dos conceitos em perspectiva transnacional criados na Europa, na Índia e no Extremo Oriente. Sem, contudo, reproduzir ipsis litteris o modelo do dicionário de O. Brunner, W. Conze e R. Koselleck, e adotando uma perspectiva transnacional, oIberconceptos aborda o universo histórico-linguístico do espaço Atlântico ibérico na sua transição para a modernidade , entre fins do século XVIII e meados do século XIX, quando, em razão de um modo distinto de experimentar e conceber o tempo histórico, se construiu “un nuevo régimen de conceptualidad” das experiências políticas e sociais, como salienta seu mentor e coordenador geral, Javier Fernández Sebastián, na Introdução ao Diccionario (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, p. 30).
Na primeira fase do projeto, o historiador espanhol, professor de História do Pensamento Político da Universidad del País Vasco, reuniu setenta e cinco especialistas em história de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México, Peru, Portugal e Venezuela, dividindo-os em nove equipes nacionais responsáveis por elaborar ensaios para dez conjuntos de conceitos. Além dessas equipes, coordenadores distribuídos por conceito ficaram responsáveis por juntar os resultados dos nove estudos de caso nacionais sintetizando-os num ensaio de caráter transnacional. O tomo I (Diccionario político y social del mundo iberoamericano – La era de las revoluciones, 1750-1850), publicado em 2009 e atualmente disponível para download na página oficial do projeto (http://www.iberconceptos.net), compõe-se dos seguintes verbetes:América/americanos, cidadão/vecino, constituição, federação/federal/federalismo, história, liberal/liberalismo, nação, opinião pública, povo/povos e república/republicanismo . O critério de seleção se justifica em função da centralidade desses termos para o vocabulário político da época. Seu caráter fluido e polissêmico permitia a estruturação de performances discursivas e projetos políticos por vozes e protagonistas antagônicos. Dessa forma, podemos afirmar que o projeto não aspira oferecer definições unívocas e normativas dos termos selecionados, mas enfatizar o viés polêmico e controverso dos usos linguísticos aparecidos na trajetória histórica dos conceitos. Por fim, oIberconceptos I organiza-se em volume único de mais de 1400 páginas, em que cada conceito representa uma seção do Diccionario , na qual um ensaio introdutório de caráter transversal e comparativo é seguido por outros nove estudos de caso nacionais.
O Iberconceptos II traz algumas mudanças importantes em relação ao tomo anterior. A primeira delas se refere ao formato. Organizados não mais num livro único, nesse segundo tomo outros dez conceitos foram selecionados obedecendo aos mesmos critérios acima mencionados, mas distribuídos por volumes. São eles:civilização, democracia, Estado, independência, liberdade, ordem, partido, pátria, revolução e soberania . Como antes, para cada conceito há um estudo de caráter transversal de autoria dos coordenadores que apresentam uma síntese dos resultados das pesquisas de corte nacional. Não obstante, nesse último tomo noventa e oito autores dividiram o trabalho de ampliação da escala de investigação, chegado a uma dúzia de países e territórios, assim distribuídos: Argentina/Rio da Prata, Brasil, Caribe/Antilhas hispânicas, América Central, Chile, Colômbia/Nova Granada, Espanha, México/Nova Espanha, Peru, Portugal, Uruguai/Banda Oriental, Venezuela . Como se pode notar, além da inserção do Uruguai ao sul do continente e das áreas banhadas pelo mar do Caribe, incluindo o istmo Centro Americano e as Antilhas hispânicas, percebe-se a dupla denominação tradicional (Vice-Reino) e nacional para os territórios da Argentina, Colômbia e México. Isso reforça a ideia tão cara ao projeto, de que, embora por razões operativas um dos eixos doDiccionario responda a uma lógica territorial, o estudo da história política e intelectual em qualquer caso não coincide estritamente com os atuais marcos nacionais. Além disso, o Iberconceptos vem demonstrando o potencial da história dos conceitos no lidar com temas que estão para além dos limites do Estado-nação. Inscreve-se definitivamente entre as tendências historiográficas que se pretendem comparativas, conectadas ou globais, como a chamada “História Atlântica”, cujas múltiplas interconexões devem ser pensadas num sistema plural abarcando não somente as regiões anglófonas e francófonas, mas também hispânicas e lusas.
Quanto às mudanças ocorridas entre os dois tomos, um último aspecto a ser sublinhado é o ajuste no recorte temporal do projeto. Conforme notamos pelos subtítulos dosDiccionarios houve um deslocamento do marco 1750-1850 para 1770-1870. Fernández Sebastián justifica que havia uma certa insatisfação entre vários participantes do projeto com o ponto de partida em 1750, visto que, em geral, as transformações político-conceituais no mundo ibérico só chegaram a adquirir maior intensidade nas últimas três décadas do setecentos. Grosso modo , o novo marco inicial coincide com o momento auge da versão ibérica da Ilustração, bem como as chamadas reformas borbônicas e pombalinas, respectivamente, nas monarquias intercontinentais hispânica e lusa. Por outro lado, o encerramento da pesquisa em 1850 deixava em aberto processos cujo desenvolvimento pleno só ocorreria anos depois, com a implementação de novas instituições liberais e republicanas na maioria dos Estados-nações surgidos após a desintegração de ambos os impérios (DPSMI, Tomo II, Vol. 1, p. 32).
A leitura dos verbetes do novo Diccionario deixa claro que ao longo dessa periodização secular (1770-1870), os ritmos de mutação conceitual não chegavam a coincidir em todos os territórios. Contudo, não há como negar que determinados acontecimentos e conjunturas específicas (a exemplo da crise aberta pela invasão napoleônica na península ibérica em 1807/1808, ou os movimentos constitucionalistas do início da década de 1820, decisivos para as independências), quando observados em conjunto, evidenciam que entre os coevos despontava uma nova consciência temporal que ensejava redescrições conceituais “futurocêntricas”, ainda que o horizonte de expectativas oscilasse entre perspectivas positivas e negativas. Nesse sentido, Guillermo Zermeño observa, na síntese transversal do conceito revolução,que depois de 1820 consolidou-se a ideia de “revolución como cambio de orden irreversible” ao mesmo tempo em que “el futuro se vulve incierto e irreconocible”. Foi a partir desse momento, segundo Zermeño que emergiu uma filosofia do progresso, embora os agentes políticos da época buscassem sempre – sem êxito – encerrar o ciclo de revoluções, que mais parecia um espiral sem solução definitiva (DPSMI , Tomo II, Vol. 9, p. 46).
Sem sombra de dúvidas, as independências e o vocabulário constitucional a elas associado foram um divisor de águas do ponto de vista das mudanças políticas e conceituais. Como destaca Fernández Sebastián, o Diccionario reforça a tese de que, em poucas décadas, a semântica política de toda a área do Atlântico ibérico ingressou em profundos processos metamórficos. Porém, alerta que interpretar esse período a partir de categorias dicotômicas como tradicional x moderno requer cautela. As concepções e práticas surgidas do “turbilhão revolucionário” (como alguns contemporâneos costumavam chamar) não eliminaram por completo uma série de instituições e marcos interpretativos vigentes. Por mais significativo que fossem as transformações no domínio simbólico daquelas sociedades, cujas raízes culturais e experiências históricas eram em boa medida familiares e compartilhadas, a substituição radical de um universo de representações por outro não ocorreria do dia para noite. Sendo assim, Fernández Sebastián sugere que, para pensar o intervalo de tempo que vai de 1770 a 1870, talvez os historiadores devessem substituir a palavra “revolução” como signo de uma época de rupturas, por “transição”, pois no que concerne aos fenômenos político-semânticos, estes seriam processos complexos de situações híbridas de transição. Nas palavras do próprio autor, “suponen no sólo coexistencia y solapamiento entre ‘lo viejo’ y ‘lo nuevo’, sino algo más importante, paradójico y sutil: procesos complejos a través de los cuales la tradición engendra la novedad” (DPSMI, Tomo II, Vol. 1, p. 40).
Isso é o que ocorre, por exemplo, com o conceito de Estado . Annick Lempérière, no seu ensaio transversal, explica que foi no âmbito da crise decorrente das invasões napoleônicas à península ibérica e das revoluções de independência, que surgem nos mundos iberoamericanos novas concepções acerca do Estado. Segundo a autora, no caso hispânico, a vacatio regis foi condição essencial para que o Estado deixasse de ser visto como objeto de propriedade do príncipe e retornasse à condição de sujeito com direitos e vontade própria. Não obstante, a representação metafórica docorpo , dominante no Antigo Regime, na qual o príncipe era a cabeça e os vassalos em seus distintos estados e estamentos os membros, não sofreu de súbito um abandono; ao contrário, constituiu-se um importante legado para a nova era política (DPSMI , Tomo II, Vol. 3, p. 26). O Estado que se transforma em sujeito (ou seja, que existe sem o príncipe, contudo, que tem poder), projeta uma concepção abstrata de que qualquer comunidade política possa atuar e defender-se no âmbito interestatal frente a outros Estados. É sob esta noção que se operará um conceito pactista de retroversão da soberania aos pueblos ,fundando aquilo que Lempérièrechama de “concepción federalista hispanoamericana del estado”, motor da fragmentação da monarquia espanhola e da formação de novas entidades nacionais (DPSMI , Tomo II, Vol. 3, p. 30).
Assim sendo, chegamos a uma importante questão abordada por Javier Fernández Sebastián na Introdução, e sobre a qual o Diccionario como um todo contribui para pensar: de que forma teria o mundo iberoamericano colaborado para a construção da modernidade? Esta obedeceria a um padrão único de desenvolvimento, ou não? Desde início do Oitocentos, consagrou-se na historiografia a ideia de uma modernidade ideal e normativa centrada nas trajetórias britânicas, francesa e norteamericana, que haveria funcionado como uma espécie de farol para os habitantes das demais regiões do globo, incluindo-se os ibéricos tidos como uma espécie de “não contemporâneos” do avanço civilizacional produzido naqueles países. Assim, supostamente proviria daqueles centros um único repertório conceitual, político e constitucional capaz de produzir em larga escala as transformações dos últimos séculos. Essa visão historiográfica, explica Fernández Sebastián, possuía raízes históricas nas disputas teológico-políticas e nas guerras de religião entre católicos e protestantes desde o século XVI, quando não só a Europa se dividiu em tais disputas como elas se prolongaram para a América. Quando em fins do século XVIII e início do XIX a hegemonia protestante foi reforçada discursivamente pelos ilustres representantes das Luzes, o mundo ibérico se viu excluído do cânone cultural (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, p. 49). Os estereótipos negativos acumulados contra os espanhóis e portugueses acabaram sendo reforçados, em parte, por suas próprias elites político-intelectuais quando estas se defrontaram com a tarefa de “reformar” o império ou fazer “progredir” a nação; ou pelos colonos americanos, que em certos contextos das lutas de emancipação não poupariam críticas à Espanha e Portugal como incapazes de imitar o modelo do “clube das nações civilizadas”, como demonstra João Feres Jr. no ensaio transversal sobre o conceito decivilização (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, p. 98).
Para Fernández Sebastián, não há dúvidas da contribuição do Atlântico Ibérico na construção da modernidade, entendida em linhas gerais como um novo marco simbólico e um novo vínculo social, uma nova legitimidade política, bem como uma nova maneira de vivenciar o tempo histórico (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, p. 30). Compartilhava com os demais quadrantes do mundo ocidental uma espécie de “globalización/atlantizaciónconceptual”, operada mediante um intenso tráfico cultural, de conceitos e experiências políticas, cujas dimensões amplas e multilateral nos permite considerar seu período de transformações como o de autênticasrevoluções atlânticas . Nesse sentido, afirma:
A despecho de tales barreras y estereotipos, todo indica que en la segunda mitad del setecientos el tráfico de lenguajes e ideas se intensificó enormemente en las dos orillas del Atlántico. A este respecto, es oportuno subrayar que el sistema atlántico no es simplemente un plexo de rutas comerciales oceánicas para la circulación de bienes y de personas: junto a los seres humanos y a las mercancías ordinarias, circularon – con especial intensidad durante la era de las revoluciones – muchos libros, periódicos e impresos de todo tipo; y con ellos, argumentos, noticias y conceptos (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, pp. 49-50).
A nosso ver, aqui reside um dos pontos fortes do Iberconceptos em geral, qual seja: sua compreensão do sistema atlântico como um laboratório conceitual de interações recíprocas, sobretudo a partir das últimas três décadas do setecentos e intensificado nas primeiras do Oitocentos com a difusão do vocabulário político-constitucional alimentado pela crise das monarquias ibéricas e os subsequentes movimentos de independência. Nesse contexto, os processos de circulação de ideias e traduções de textos políticos, longe de resultar em alguma forma de homogeneização e unificação semântica dos discursos políticos, na verdade produziu uma diversificação de sentidos que buscavam responder a situações comunicativas variadas e a desafios específicos (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, p. 53). Sendo assim, mais do que pretender esgotar o léxico do mundo iberoamericano entre 1770 e 1870, a base criada pelos Diccionarios (tomos I e II) garante um solo fértil para projetos futuros que busque enveredar por unidades de análise cada vez mais amplas, seja no sentido espacial, social ou linguístico. Nesse último caso, as análises de campos semânticos permeados pelo cruzamento de um conjunto amplo de conceitos, metáforas, linguagens e discursos podem se valer do caminho aberto por este projeto.
Rafael Fanni – Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, Brasil. E-mail: rafaelfanni@gmail.com
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (Dir.). Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos fundamentales, 1770-1870. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales/ Universidad del País Vasco, 2014. Tomo II, en 10 vols. Resenha de: FANNI, Rafael. Iberconceptos II, 1770-1870: tempos e espaços da “atlantização” dos conceitos. Almanack, Guarulhos, n.10, p. 502-506, maio/ago., 2015.
Trabalho, história ambiental e cana-de-açúcar em Cuba e no Brasil – ROGERS et al (RBH)
ROGERS, Thomas et. al. Trabalho, história ambiental e cana-de-açúcar em Cuba e no Brasil. Resenha de: CHOMSKY, Aviva. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.35, n.69, jan./jun. 2015.
Tanto a história do trabalho quanto a do meio ambiente são campos de estudo florescentes e estão, fundamentalmente, relacionadas de muitos modos em termos estruturais. Apesar disso, os historiadores têm sido lentos em aceitar sua relação. A historiografia espelha profundas divisões entre os próprios movimentos trabalhista e ambientalista, talvez porque muitos historiadores cheguem a seus estudos a partir de um envolvimento, ou pelo menos de uma simpatia, com esses movimentos. Os quatro livros aqui resenhados, ao mesmo tempo em que são – cada um por sua própria conta – interessantes e significativos, mostram, coletivamente, o estado ainda nascente da capacidade dos historiadores em conceituar e investigar as formas pelas quais o trabalho e o meio ambiente estão conectados.
O aparente conflito “empregos versus meio ambiente” tem afligido os movimentos trabalhista e ambientalista nos Estados Unidos há décadas e é frequentemente propagado pela indústria, que nitidamente é o vencedor em uma batalha na qual o trabalhismo se vê compelido a unir forças ao capital para se defender dos desafios ambientais. No entanto, o trabalhismo também tem sido fundamentalmente enfraquecido por esse posicionamento, pois a indústria volta o mesmo argumento contra os trabalhadores, transformando-o em “empregos versus salários, benefícios e condições de trabalho”, e às vezes até mesmo “empregos versus sindicatos”. Enquanto isso, os ambientalistas parecem ter poucas respostas para a acusação de que se importam mais com a fauna exótica do que com as necessidades humanas.
A América Latina dificilmente tem ficado imune a essas correntes. Apesar disso, um envolvimento mais incisivo com a história, uma relativa imunidade às tendências políticas da Guerra Fria que vincularam os sindicatos americanos a uma estreita agenda focada no crescimento econômico e os inevitáveis confrontos com o imperialismo americano em suas muitas formas ajudaram o trabalhismo latino-americano a manter uma postura mais independente e, às vezes, até mesmo revolucionária. Como Charles Bergquist salientou há várias décadas, quando os trabalhadores são nativos e o capital é estrangeiro, o trabalhismo frequentemente se mobiliza para fazer parte de coalizões revolucionárias nacionalistas. Enquanto isso, os camponeses latino-americanos impulsionaram o que Joan Martínez-Alier e outros chamaram de “ambientalismo dos pobres” em defesa de seus meios de vida. O status colonial e neocolonial da América Latina moldou fundamentalmente sua história do trabalho e do meio ambiente (Bergquist, 1995; Martínez-Alier, 2005).
“O que está acontecendo com as comunidades nos afeta, porque fazemos parte das comunidades”, explicou-me o presidente de um sindicato de mineiros de carvão da Colômbia há vários anos. “Como organização sindical com uma visão social ampla, não podemos nos distanciar dos impactos sociais e ambientais da mina.” Ativistas antimineração a céu aberto na Appalachia ficam perplexos ao ouvir um líder sindical expressar essas opiniões. A análise anti-imperialista e marxista nos sindicatos latino-americanos leva muitos a concluir que as empresas estrangeiras estão explorando igualmente o trabalho e o meio ambiente, saqueando os recursos de seu país na busca do lucro.
Entretanto, uma ativista do Sierra Club ficou menos satisfeita com a resposta que recebeu quando perguntou a outro líder do mesmo sindicato: “Você não concorda que temos de deixar o carvão para trás?”. “Você está perguntando para a pessoa errada”, respondeu ele lentamente. “Nós estamos extraindo aquele carvão para vocês. Se vocês querem ir além do carvão, têm que olhar para vocês mesmos.” Nesse momento, ele pegou diretamente no calcanhar de Aquiles do movimento ambiental norte-americano. Muitos ambientalistas do Primeiro Mundo querem salvar a Terra sem enfrentar o problema político-econômico básico: que os Estados Unidos usam de 25% a 50% dos recursos do planeta, e apelos piedosos para “reduzir, reutilizar, reciclar” não mudarão as políticas econômica, externa e militar que mantêm essa injustiça. Assim, Thomas Rogers cita a reação pessimista de um engenheiro brasileiro à propagação dos carros movidos a etanol: “Agora as rodas dos carros do mundo todo vão girar às custas da fome do Nordeste” (p.210).
Para os analistas mais radicais, tanto os do trabalho quanto os do meio ambiente, a desigualdade econômica global é inerente ao próprio capitalismo. Se o capitalismo está baseado no crescimento econômico contínuo, na obtenção de lucro pela exploração da mão de obra e da natureza, então ele se baseia necessariamente na expansão territorial, na destruição do meio ambiente e no empobrecimento da classe trabalhadora. Se a história do meio ambiente examina a relação dos seres humanos com a natureza, e a história do trabalho examina aqueles que trabalham para outros – em geral, pela transformação da natureza -, então o capitalismo e a Revolução Industrial tiveram um papel fundamental em ambas. A substituição do trabalho humano e animal por fontes de energia derivadas de combustíveis fósseis sinalizou um crescimento drástico da capacidade do capital de explorar tanto a mão de obra quanto os recursos.
Historiadores do Terceiro Mundo e teóricos da dependência vêm sustentando há muito tempo que os recursos e a mão de obra do Terceiro Mundo foram cruciais para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Mais recentemente, historiadores como Kenneth Pomeranz e Richard P. Tucker ofereceram uma análise explicitamente ecológica desse processo, examinando como a destruição ambiental foi deslocada para as colônias. De maneira perversa, os colonizadores, que primeiro empurraram os povos nativos para terras frágeis para abrir espaço para seus novos empreendimentos econômicos, acusaram os mesmos nativos de macular a “selva” colonial remanescente com sua presença e suas práticas tradicionais – o ambientalismo tornou-se, assim, um outro estágio do imperialismo. É claro que essas expropriações também tiveram, historicamente, um componente laboral, desde as primeiras medidas de apropriação de terras que acompanharam a Revolução Industrial: elas “libertam” os antigos habitantes para entrarem no mercado de trabalho.1
Os quatro livros aqui resenhados examinam regiões moldadas pelo colonialismo e, especificamente, pelo açúcar. O açúcar foi a primeira agroindústria, e aquela na qual, segundo Sidney Mintz, o sistema escravista criou o proletariado original, o modelo para as primeiras fábricas da Grã-Bretanha, bem como uma fonte alimentar primordial para os primeiros trabalhadores industriais da Europa. Como Manuel Moreno Fraginals e outros têm sustentado há muito tempo, as plantações de cana-de-açúcar devoraram vorazmente tanto as pessoas quanto as florestas (Mintz, 1985; Moreno Fraginals, 1976). Todos os livros sugerem questões profundas sobre a natureza global do capitalismo e seus impactos nos seres humanos e no meio ambiente.
Apenas The Deepest Wounds assume a tarefa de realmente conectar as histórias do trabalho e do meio ambiente, focando o Nordeste do Brasil. O livro de Wolford This Land is Ours Now é um estudo de um movimento social brasileiro, intimamente conectado às questões do trabalho e do meio ambiente, que começa, em termos cronológicos, exatamente onde Rogers para. A história ambiental de Cuba de Funes Monzote oferece ideias sugestivas sobre o trabalho, ao passo que Blazing Cane, a história política e do trabalho de McGillivray, levanta questões relevantes para o meio ambiente. Lidos em conjunto, os quatro mostram como o colonialismo e o açúcar estruturaram o debate político em Cuba e no Brasil e oferecem percepções e ideias adicionais sobre como uma história conjunta do trabalho e do meio ambiente pode constituir um empreendimento frutífero.
Funes Monzote assume a visão de mais longo prazo em From Rainforest to Canefield. O título capta com precisão o foco do livro, que consiste, primordialmente, nas florestas de Cuba e nos debates acerca de seu valor e seus usos, com a vitória gradual das plantações de cana-de-açúcar. É, primordialmente, uma história política de questões ambientais, e a história do trabalho está implicada na medida em que as questões trabalhistas nos campos de cana-de-açúcar estão inevitavelmente entrelaçadas com sua expansão e seu esgotamento. É também uma história das ideias, na medida em que os cubanos e seus senhores coloniais se debateram em torno do significado e da finalidade da floresta, e do relacionamento dos seres humanos com a natureza.
Funes Monzote conta a agora conhecida história da expansão das plantações de cana-de-açúcar, primeiro pelo oeste de Cuba, e depois para o leste, destruindo vorazmente florestas em seu caminho. Cuba, sugere ele, “oferece um dos casos mais representativos dos primórdios da agricultura industrial nas Américas”. Diferentemente da agricultura tradicional, que se baseava no princípio de manutenção da viabilidade da terra, a agricultura industrial se baseia na transformação de um recurso renovável – a terra – em um recurso não renovável – ela “funcionou como minas a céu aberto” (p.265).
A cana-de-açúcar exigia não apenas terra para plantar, mas também madeira para combustível, e os donos de plantações cubanos simplesmente se mudaram para novas terras quando esgotaram as suas. Funes Monzote vai além de explicações anteriores e examina a história política e cultural que está por trás do processo: o que a floresta significava para diferentes setores da sociedade cubana e colonial, como eles tentaram impor suas visões e como esse debate moldou a sociedade cubana. Ele reconstrói a maneira como diferentes forças sociais e políticas competiram para impor seus interesses por meio da legislação e da ação, tendo todas o desaparecimento gradativo da floresta como objeto. “Além de avaliar a influência da evolução socioeconômica da ilha e das ideologias dominantes nas atitudes para com o meio ambiente, meu objetivo aqui é destacar a importância das florestas na formação da nação cubana … Esse livro é uma homenagem à importância silenciosa das florestas na história de Cuba” (p.5).
A floresta teve um papel central nos debates sobre o papel do Estado e a distinção entre público e privado, nos crescentes conflitos entre os interesses coloniais espanhóis e um setor “cubano” emergente, nos conceitos de propriedade privada e na noção de bem comum, e no surgimento de ideias sobre a natureza e sua finalidade, ou o relacionamento dos seres humanos com a natureza.
Durante boa parte do período colonial, os principais atores do debate foram a Marinha Real, que queria preservar as florestas para o uso da madeira na construção de navios, e os canavieiros, que reivindicavam soberania sobre as terras que controlavam. Nesse aspecto, o debate em Cuba espelhou – e às vezes prefigurou – o que aconteceu em outros lugares do mundo colonial.2 Tanto a Marinha como os canavieiros viam a floresta em termos economicamente instrumentais, mas seus interesses diferentes os levaram a atitudes e políticas diferentes. Para os donos de plantações, as florestas existiam para serem derrubadas, para a obtenção de combustível ou cana. Para a Marinha, o valor da floresta estava em sua madeira, e, para ser economicamente útil, ela precisaria ter condições de se regenerar. “Os burocratas da Marinha viam o comércio de açúcar como a maior ameaça à construção naval na ilha – não apenas em razão da competição pelo uso da madeira abundante, mas também pelo fato de que plantar cana-de-açúcar eliminava a possibilidade de a mata se regenerar. As características da indústria açucareira naquele período, especificamente sua necessidade de madeira, lenha e solo fértil, eram justificativas suficientes para esses receios” (p.43). “A indústria da construção naval e a indústria açucareira tinham duas concepções irreconciliáveis sobre como as florestas deveriam ser exploradas. Isso não significa que, para a primeira, a proteção das florestas fosse um fim em si mesmo, mas os construtores navais viam a mata como um recurso que, se explorado de maneira razoavelmente ordenada, poderia se regenerar” (p.59).
A posição da Marinha também a levou a articular um bem comum que suplantava aquele do capital privado. Como sustentou o comandante da Marinha Juan de Araoz no final do século XVIII, “para se alcançar essa conservação, os abusos e a liberdade dos homens devem ser reprimidos … o indivíduo nunca vai levar nada em conta a não ser seu interesse privado, que precisa ficar mudo quando defrontado com o interesse geral” (p.107). Quase cem anos mais tarde, um engenheiro florestal espanhol refletiu a mesma postura, lamentando “o egoísmo e a avareza dos indivíduos, que às vezes não entendem seu próprio interesse e são indiferentes ao interesse geral” (p.209). E, em 1918, o botânico cubano Juan Tomás Roig alertou que o governo deveria intervir para “cuidar do futuro da agricultura nacional, frente ao fato de que ‘os donos de plantações só davam atenção a seu interesse privado e imediato'” (p.239).
Nas ilhas menores do Caribe, os canavieiros aprenderam a fazer o cultivo de formas mais sustentáveis – usando o bagaço da cana como combustível, por exemplo. Mas a natureza aparentemente infindável das florestas de Cuba e sua entrada tardia na produção de açúcar – em Cuba, “a produção de açúcar decolou na aurora da era industrial” – incentivaram os donos de plantações a imaginar uma expansão infinita como o caminho mais lógico e lucrativo (p.265). Em poucas gerações, os recursos acumulados em séculos de crescimento das florestas foram esgotados.
O debate político se centrava na questão de quem tinha jurisdição sobre as árvores nas terras que o governo colonial arrogara a si mesmo como Reservas Florestais Reais, e de quanto controle os donos das terras tinham sobre as terras que eram oficialmente deles. À medida que a indústria açucareira se expandia rapidamente no final do século XVIII e começo do século XIX, o conflito colocou a Marinha na posição de ambientalista, defendendo o uso sustentável da floresta e a primazia do bem público sobre o ganho privado. A discussão envolvia mais do que simplesmente a floresta: “Essa batalha contra os limites estabelecidos para a exploração das florestas cubanas atendendo ao interesse da construção naval tornou-se central para as mudanças que ocorriam na estrutura agrícola da ilha e para o triunfo das concepções dos donos de plantações e do liberalismo na esfera econômica da colônia” (p.89). Esse triunfo aconteceu em 1815, quando as Cortes de Cádiz estabeleceram “o direito ‘sagrado’ de propriedade defendido pela primeira revolução burguesa da Espanha” (p.121). É claro que esse direito de propriedade se estendeu também à mão de obra, “mão de obra escrava como uma fonte de enriquecimento rápido, resultando de uma visão de mundo gananciosa no tocante aos seres humanos e ao meio ambiente” (p.128).
Ao final do século XIX, novas fontes de combustível (bagaço de cana e carvão) começaram a substituir a lenha nos engenhos, mas a necessidade de derrubar florestas não diminuiu, já que a indústria estava se expandindo rapidamente e o solo de plantações antigas se esgotava. A preocupação com o esgotamento da terra contribuiu para o questionamento do próprio sistema escravista e sua relação com o uso ineficiente de recursos (p.153). “Se alguém era livre para comprar e vender escravos negros, por que não seria livre para explorar as florestas?” (p.275). Cientistas espanhóis e membros da Sociedade Econômica de Havana reavivaram discussões sobre a necessidade de subordinar o interesse privado ao bem público e levantaram a questão da sustentabilidade de longo prazo: “o homem não vive apenas pelos poucos dias em que exerce seu papel; a posteridade pode também exigir dele uma severa prestação de contas pelo mal que ele fez ou permitiu que acontecesse àqueles bens que negou a seus descendentes” (p.159).
O final do século XIX assistiu à rápida expansão do açúcar para o leste da ilha, sob o novo sistema do central, o engenho grande e industrializado, que separou o cultivo do processo de moagem. Os novos centrales “ajudaram a acabar com a portabilidade da indústria” – limitando, assim, em termos, a derrubada sem fim da floresta -, mas “a existência de mata abundante na metade leste da ilha permitiu aos canavieiros continuar estabelecendo plantações de cana-de-açúcar em terra virgem, agora com um impacto muito maior por unidade” (p.187).
Enquanto vemos o Estado colonial desenvolvendo uma noção de bem público que o coloca em oposição à classe dos donos de plantações, o autor complementa os argumentos de Kenneth Pomerantz e Richard Tucker sobre a importância ambiental das colônias para o projeto industrial. As florestas de Cuba deveriam ser preservadas para compensar o esgotamento das florestas da própria Espanha, e “grande parte da rica biodiversidade da ilha foi consumida para satisfazer as necessidades alimentares dos nascentes centros industriais da Europa e dos Estados Unidos” (p.66, 275). Os súditos coloniais tinham menos direitos do que os súditos metropolitanos porque a finalidade da colônia era servir aos interesses da metrópole. Outro oficial da Marinha sustentou que “a liberdade … tão atrativa e inocente na Península, não é praticável aqui, porque ela beneficiaria o indivíduo em detrimento da nação inteira e seus interesses” (p.113). Vemos aí também, talvez, uma fantasmagórica prefiguração dos ambientalistas imperiais de hoje, cuja preocupação com a floresta tropical amazônica coexiste despreocupadamente com sua promoção dos biocombustíveis que a estão destruindo.
Funes Monzote chama o começo do século XX, quando o capital norte-americano jorrou no país e as plantações inundaram o leste de Cuba, de “o ataque final à floresta” (capítulo 6). O progresso econômico significou destruição ambiental. “Em nenhum outro momento da história cubana o país experimentou maior crescimento em seu ‘potencial produtivo’, assim como em nenhum outro momento o desmatamento e a mudança ambiental foram tão intensos” (p.218). Em 1926, o presidente Machado retornou a ideais anteriores ao século XIX quando assinou um decreto proibindo a derrubada de árvores tanto em terras privadas quanto nas públicas. Àquela altura, porém, “infelizmente era tarde” para proteger a floresta do leste de Cuba (p.229).
O livro Blazing Cane, de Gillian McGillivray, oferece uma boa contrapartida ao de Funes Monzote na medida em que enfatiza o século XX; assim, retoma cronologicamente a questão onde Funes Monzote termina e privilegia o aspecto do trabalho da história da cana-de-açúcar em Cuba. Um tema-chave para McGillivray é o relacionamento entre os trabalhadores, os canavieiros e o Estado, bem como a natureza do populismo latino-americano. Em geral, o populismo tem sido estudado como um fenômeno urbano na América Latina. No entanto, ao impor sua própria força à custa da classe dos donos de plantações, mesmo um Estado conservador pode apelar para os interesses de classe dos trabalhadores rurais, de maneira comparável ao modo como o Estado colonial de Funes Monzote e o Estado machadista relegaram os interesses dos canavieiros para proteger a floresta. O estudo de McGillivray foca dois engenhos de açúcar, o Tuinucú, da era colonial, situado na antiga região açucareira central de Cuba, e o Chaparra, da era moderna, estabelecido nas vésperas da independência, em 1895, sendo emblemático dos engenhos grandes, industrializados e majoritariamente de capital estrangeiro que se espalharam pelo leste de Cuba durante esse período: parte do “ataque final à floresta” de Funes Monzote.
Suas questões principais, no entanto, são políticas: como o Estado, os capitalistas e as classes populares negociaram o poder nessa sociedade dominada pela cana-de-açúcar. Ela identifica três períodos: “‘o pacto colonial’ (1780-1902), ‘o pacto patronal’ (1902-1932) e ‘o pacto populista’ (1933-1952)” (p.5). No pacto colonial, “os donos de plantações aceitavam o domínio colonial em troca da proteção militar e legal da escravidão e da produção de açúcar por parte da Espanha” (p.14). Sob o pacto patronal, que o substituiu, “os capitalistas estrangeiros e seus intermediários cubanos estabeleceram o controle econômico e político sobre boa parte da população rural da ilha através de uma combinação de repressão, clientelismo, incluindo assistência social privatizada nas plantações, e exploração do fascínio dos ‘cubanos’ pelo progresso e a modernidade” (p.86). Esse também foi o período em que a cana-de-açúcar se espalhou pelo leste da ilha. Finalmente, sob o pacto populista, o Estado assumiu o papel de mediar os grupos de interesse e proporcionar assistência social.
Diferentemente de outros historiadores que enfatizaram o caráter excepcional de Cuba como uma virtual colônia dos Estados Unidos, McGillivray enfatiza as semelhanças com o resto da América Latina no desenvolvimento econômico, social e político de Cuba. Seu argumento de que o Estado fortalecido depois de 1933 criou, em certo sentido, classes sociais na medida em que estabeleceu canais através dos quais elas podiam manifestar seus interesses, substituindo as relações patrono-cliente que caracterizaram os dois primeiros períodos, está em paralelo ao que Rogers descreve sobre o Brasil.
A indústria açucareira de Cuba estava organizada de maneira um tanto diferente da do Brasil, pois boa parte da cana era produzida por pequenos agricultores ou colonos, que formavam um terceiro setor social na região açucareira, além dos donos de plantações/engenhos e dos trabalhadores. A maioria dos colonos era cubana, ao contrário dos donos dos empreendimentos maiores, e muitos também dependiam de mão de obra contratada ou até mesmo de subcolonos para trabalhar seus campos. Eles estavam vinculados aos engenhos maiores porque era lá que vendiam sua cana, e especialmente no leste, porque eram, muitas vezes, arrendatários do engenho. Além disso, muitos dos trabalhadores nas novas plantações do leste eram migrantes contratados na Jamaica, no Haiti ou em outras ilhas das Índias Ocidentais. Os colonos desempenham um papel-chave na tentativa de McGillivray de revisar a historiografia de Cuba.
A historiografia cubana estabelece, tradicionalmente, uma dicotomia clara entre as plantações mais antigas, menores e de propriedade de cubanos no oeste, com seus trabalhadores nativos e uma relação mais igualitária com os colonos, e as plantações de propriedade de norte-americanos no leste, com seus trabalhadores importados das Índias Ocidentais e seus colonos arrendatários completamente subordinados. McGillivray mostra que a realidade é mais complexa. A família Rionda, geralmente vista como representante dos canavieiros nacionais do oeste, era radicada na Espanha, em Cuba e nos Estados Unidos, e o capital do engenho, como até mesmo os escritórios, estavam tanto dentro quanto fora de Cuba. Os donos de engenho tanto do leste quanto do oeste consideravam vários fatores ao optar por produzir cana diretamente ou comprá-la dos colonos. Tanto os colonos arrendatários quanto os independentes se mobilizavam em coalizões nacionalistas e revolucionárias, como também para defender seus interesses particulares. De fato, sustenta ela, os trabalhadores e colonos do leste tinham, em alguns aspectos, mais poder que os do oeste, porque conseguiam mobilizar o sentimento nacionalista em seu favor (p.274).
Os colonos surgem como ator político significativo tanto no leste quanto no oeste de Cuba, em particular, nas revoluções de 1933 e 1959. Em 1933, como o pacto patronal entrou em colapso sob o peso da Depressão, trabalhadores e colonos se voltaram para o Estado, dando origem ao novo pacto populista. Assim como no Brasil sob a ditadura militar, tratava-se de um “populismo autoritário” (Blazing Cane, p.227). Tanto Rogers quanto McGillivray nos oferecem novas perspectivas a respeito de como até mesmo os mais direitistas governos autoritários conseguem, com sucesso, atrair as classes trabalhadoras. Ao criar instituições estatais fortes que intervenham nas relações de trabalho, os populistas conseguem quebrar o jugo das classes dos donos de plantações e criar certas garantias para os trabalhadores. Apesar de inicialmente destruir os sindicatos independentes e reduzir até mesmo os insuficientes benefícios de saúde e educação aos quais os trabalhadores tinham acesso sob o pacto patronal, Fulgencio Batista também implementou um sistema de participação nos lucros e, ao final dos anos 1930, havia se reconciliado com os sindicatos e aprovado uma legislação trabalhista progressista (p.244). A Constituição de 1940 “era talvez a mais progressista da América Latina, pelo menos no papel”, e “estabeleceu o Estado de bem-estar social cubano” (p.248).
Ao enfatizar o caráter populista dos governos de Cuba em meados do século XX, McGillivray restabelece o lugar da ilha nos processos históricos latino-americanos. Ao explicar como “o anticomunismo da Guerra Fria de 1947 a 1959 esvaziou o pacto populista de Cuba e o privou de grande parte de sua substância”, ela também oferece novas percepções sobre a revolução de 1959 (p.228). “A forte reação negativa da Guerra Fria, a partir de 1947, começou a minar o valor social-democrático das instituições populistas ao priorizar novamente clientes individuais em vez de grupos de classe … A Guerra Fria tirou grande parte do espaço que os grupos populares tinham conquistado dentro do populismo de meados do século XX” (p.275). Interessantemente, McGillivray se distancia de explicações segundo as quais o relacionamento com os Estados Unidos determinou excessivamente os acontecimentos em Cuba em períodos anteriores; nessa última década foi a política de Guerra Fria dos Estados Unidos que empurrou o governo Batista do populismo para a repressão e abriu caminho para a Revolução de 1959.
O livro The Deepest Wounds, de Thomas D. Rogers, é o que mais diretamente enfrenta o desafio de escrever uma história do trabalho e do meio ambiente. “A despeito das claras ligações entre o meio ambiente e o trabalho rural … os pesquisadores ainda precisam construir um marco satisfatório para analisar os dois paralelamente”, escreve ele (p.4). Ele poderia estar criticando os dois livros recém-discutidos, já que o trabalho rural está praticamente ausente na história ambiental de Funes Monzote, ao passo que o ambiente natural mal aparece na análise de McGillivray a respeito do trabalho e da política.
Para enfrentar a tarefa, o estudo de Rogers acerca da região açucareira no Brasil propõe os conceitos de paisagem – que incorpora tanto as crenças humanas sobre a terra quanto sua realidade material – e de “agroambiente” na medida em que ele molda a ação humana – e, em particular, o trabalho – e é moldado por ela. Como em Cuba, o sistema de plantações no Brasil se baseou na escravidão até o final do século XIX, e em uma forma de política republicana autoritária durante a maior parte do século XX.
Os donos de plantações e os trabalhadores tinham noções muito diferentes de paisagem. Em relação aos donos de plantações, Rogers analisa como o abolicionista Joaquim Nabuco, o romancista José Lins do Rego e o sociólogo Gilberto Freyre expressaram uma sensibilidade ecológica ao estabelecerem ligações claras entre a degradação da terra e do trabalho através do sistema escravista. Eles vislumbraram uma “paisagem trabalhadora” (p.45) em que o “comando” dos canavieiros tornava a terra e o trabalho produtivos. Apesar de críticos ao sistema, eles injetaram em suas obras uma grande dose de nostalgia, sugerindo que as relações patriarcais mantiveram o sistema em equilíbrio até a introdução da usina ou dos modernos engenhos de açúcar industriais ao final do século XIX: “Tanto os trabalhadores quanto a terra foram degradados pela nova indústria moderna e eficiente” (p.57). A nostalgia deles pela paisagem estava imbuída da nostalgia pelas relações sociais inseridas nela. “O que eles proclamavam como amor telúrico não era paixão pela natureza, mas apreço pela dinâmica da exploração racial, de classe e ambiental que constituía a paisagem trabalhadora da zona açucareira” (p.69). Assim, a análise do Brasil do século XIX feita por Rogers é paralela – e dá uma nuance ambiental – ao que McGillivray descreve em Cuba como o “pacto colonial”, e explora os aspectos laborais dos debates coloniais que Funes Monzote explora.
Para os trabalhadores, em contraposição a isso, a paisagem, corporificada nas lavouras de cana-de-açúcar, significava cativeiro. A abolição da escravatura não mudou a dinâmica fundamental de poder, já que os donos de plantações continuaram a controlar a terra. Os antigos escravos tornaram-se arrendatários: “o sistema manteve os trabalhadores presos aos engenhos mesmo sem o vínculo jurídico da escravidão” (p.73). Não houve uma fuga em massa das plantações, não houve um restabelecimento do campesinato, mas havia, de fato, um desejo por terra. “Visto que os donos de plantações tinham um quase monopólio da propriedade fundiária, o único acesso ‘legítimo’ dos trabalhadores à terra era mediante algum tipo de arrendamento; o caminho para o acesso passava pela provisão de mão de obra” (p.92). Quando os trabalhadores fugiam efetivamente das plantações, o único lugar para o qual eles podiam ir era a cidade. Segundo a exposição de Rogers, pelo menos durante os anos 1940, a cana-de-açúcar significava cativeiro, e os trabalhadores do setor açucareiro do Brasil, tanto quanto os ex-escravos em outros lugares, ansiavam por atingir a verdadeira independência por meio do acesso à terra. Apesar de eles não terem elaborado uma crítica ambiental à cana, o fato de restabelecerem a subsistência contestava implicitamente a destruição ambiental causada pela expansão da agroindústria.
Foi só em meados do século XX que a intervenção da agronomia e do governo trouxe uma expansão, modernização e racionalização da indústria que impôs aos trabalhadores um status mais classicamente proletário, em que seu acesso a lotes na plantação para fins de subsistência se evaporou, especialmente na parte meridional da zona açucareira. Em 1961, mais da metade dos trabalhadores do setor ainda tinha acesso à terra; em 1968, apenas 46% tinha, e muitos desses tinham um acesso apenas nominal. O desejo pela terra continuou a estimular levantes sociais e trabalhistas nos anos 1960. “Os trabalhadores rurais não tinham uma cultura da preguiça, nem se resignaram coletivamente à miséria … em meio a circunstâncias mutantes, eles desenvolveram estratégias de trabalho que mais perto chegariam da liberdade em relação ao cativeiro do patrão” (p.124).
A efervescência dos anos 1950 e 1960 atraiu a atenção do Partido Comunista do Brasil e do governo dos Estados Unidos, e ambos acreditavam que a zona açucareira estava madura para a revolução. Agricultores arrendatários das periferias formaram Ligas Camponesas, enquanto o governo brasileiro voltou sua atenção ao “desenvolvimento” do Nordeste. Tanto a Igreja Católica quanto os comunistas se lançaram à organização de sindicatos, especialmente após a eleição de um presidente progressista em 1961 e a aprovação de um Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. Na parte meridional da zona açucareira, onde a modernização da agricultura e a proletarização estavam mais avançadas, prevaleciam os comunistas; no norte, mais tradicional, era a Igreja. Assim, “fatores ambientais e agrícolas” moldaram o caminho da sindicalização e os atores políticos nela envolvidos (p.140). Em ambas as regiões, porém, a demanda por terra e reforma agrária era central para a organização dos trabalhadores.
O golpe militar de 1964, de acordo com Rogers, “não foi uma vitória inequívoca dos donos de plantações”: “em termos da trajetória das lutas dos trabalhadores, houve uma continuidade que transpôs a linha divisória” (p.159). O impacto crucial, no Nordeste, foi a incursão do Estado nas relações entre donos de plantações e trabalhadores, o que inevitavelmente limitou a autonomia dos canavieiros e criou estruturas para os trabalhadores fazerem valer suas demandas. “A simples presença de uma autoridade concorrente no âmbito dos donos de plantações foi a mais importante mudança” (p.162) – algo semelhante ao pacto populista que McGillivray descreve para a Cuba dos anos 1930.
Os canavieiros reagiram com a implementação de um novo regime de trabalho – um regime de subcontratação ou trabalho temporário – para tirar seus trabalhadores do alcance do regime trabalhista do governo. Essa medida rompeu os antigos vínculos, inclusive o arrendamento, que prendiam os trabalhadores às plantações. Nos anos 1970, a maioria dos trabalhadores do setor açucareiro trabalhava sob esses novos esquemas e morava fora das plantações, em pequenas cidades (p.168). Rogers documenta uma crescente divisão entre os líderes sindicais, que continuavam a enfatizar a reforma agrária, e os trabalhadores, que passaram a ver os benefícios do Estado para os trabalhadores como um objetivo mais central, no final dos anos 1960 e início dos 1970. “A terra não era mais a condição sine qua non da liberdade. A mobilidade se tornou importante, com pagamentos feitos de forma confiável, e agora as condições do cativeiro eram entendidas na dicotomia entre o engenho e a rua … À medida que a liberdade passou a ser associada ao recurso à burocracia do Estado, os trabalhadores se viam com menos frequência em termos ‘camponeses’, mesmo no tocante à aspiração a ter vínculos com a terra. Eles eram, em primeiro lugar e antes de tudo, assalariados; poder-se-ia dizer que foram proletarizados” (p.178). Comparando-os aos trabalhadores da região de plantação de banana no Equador, e refletindo McGillivray, Rogers cita Steve Striffler para sustentar que eles “foram transformados em uma classe por meio do diálogo com o Estado. Foram ‘organizados pelo Estado e para dentro dele'” (p.207).
A cana-de-açúcar também foi transformada, em parte, pelo compromisso do governo com a exportação de produtos agrícolas, e, depois do choque do petróleo de 1973, pela produção de açúcar para etanol, utilizando técnicas da Revolução Verde e incentivos econômicos. Novos fertilizantes permitiram que a cana se expandisse para “áreas anteriormente inapropriadas” (p.183). “O preço pago pela expansão da cana-de-açúcar foram córregos fétidos, céus repletos de cinzas, florestas derrubadas e maior número de enchentes” (p.201).
Foi uma solução típica de direita para as gritantes desigualdades latino-americanas: expandir sem redistribuir. No entanto, como nos lembra Rogers, “um dos problemas dos projetos de crescimento econômico altamente modernizantes foi que eles deixaram de levar em consideração o meio ambiente” (p.184). Especialmente no norte da zona açucareira, que havia sido menos afetado pelas modernizações anteriores, os efeitos ambientais foram drásticos. Essas mudanças, combinadas à abertura política do final dos anos 1970, levaram a um renascimento da sindicalização e das greves entre os trabalhadores do setor canavieiro. A gravidade da degradação ambiental no norte ajuda a explicar por que ele foi o epicentro das atividades sindicais e grevistas, em contraposição aos anos 1960 (p.196).
O trabalho e o meio ambiente estão conectados na medida em que o lucro, ou o desenvolvimento econômico, depende do controle de ambos – embora o capital não possa, verdadeiramente, controlar nenhum dos dois. “Assim como os donos de plantações antes dela, a ditadura pensou que comandava a paisagem. Em ambos os casos, esse controle era uma ilusão. Essas falhas equivalem a uma denúncia da própria noção de comando como abordagem à gestão do meio ambiente ou da mão de obra” (p.204).
Apesar de Rogers nos oferecer uma história na qual os trabalhadores do setor açucareiro buscaram, por séculos, escapar da cana e ganhar acesso à terra para fins de agricultura de subsistência, ele também sugere que a paisagem pode ajudar a explicar o compromisso dos trabalhadores com a cana-de-açúcar hoje. “A visão das pessoas a respeito de sua localização – das possibilidades e realidades de sua vida – é estruturada por discursos sobre a paisagem. Esse conceito nos permite pensar sobre os impactos materiais desses discursos, entrelaçando fios culturais com o meio ambiente em si … Examinar esses discursos melhora nosso entendimento das motivações e perspectivas que orientam as ações das pessoas, e ajuda a explicar por que as raízes da cana-de-açúcar na Zona da Mata são tão profundas. Profundas o suficiente para que nem os donos de plantações nem os trabalhadores possam pensar em suas vidas sem ela” (p.217).
O livro This Land is Ours Now, de Wendy Wolford, começa no ponto em que Rogers termina cronologicamente. Um dos mais dinâmicos e conhecidos movimentos rurais que surgiram na América Latina nas últimas décadas é o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), no Brasil. Wolford examina como o MST, nascido entre pequenos produtores no Sul do Brasil, evoluiu e se adaptou ao contexto muito diferente do Nordeste do país, onde, como Rogers mostrou, os trabalhadores do setor açucareiro perderam a maior parte de seus laços com a terra. O livro de Wolford trata de um movimento social, mas a plantação de cana-de-açúcar e a sociedade que ela criou formam um contexto importante: séculos de produção de cana moldaram tanto a história do uso da terra quanto as crenças sobre a terra e a consciência dos trabalhadores. Assim como as outras obras aqui resenhadas sugerem, tanto a história do trabalho quanto a do meio ambiente são, de certa maneira, histórias da consciência: das formas como as pessoas pensam sobre o trabalho e o meio ambiente.
A economia moral, a ideologia e os objetivos do MST, sustenta Wolford, que também se tornaram sua face pública e internacional icônica, refletiam as realidades de pequenos agricultores, em sua maioria descendentes de europeus, do Sul do Brasil. O MST dava ênfase à reforma agrária por meio da invasão de terras e ao desenvolvimento de ideologias e instituições alternativas e socialistas através desse processo. Foi complicado para os trabalhadores do setor açucareiro desempregados do Nordeste, descendentes de escravos africanos, que eram uma força de trabalho totalmente proletarizada buscando trabalho, em vez de terra, ajustar-se a essa abordagem. “Sua decisão de aderir ao MST não era indicativa de um desejo de continuar um modo de vida agrícola … A crise contínua pela qual passava a indústria da cana-de-açúcar abriu caminho para a aceitação do MST porque havia poucas alternativas no contexto econômico desanimador dos anos 1990 no Brasil … Nem todo o mundo ficou contente em ter terras próprias, porque eles preferiam ganhar a vida com base no trabalho assalariado e não na agricultura de subsistência” (p.18-19).
Em uma clara inversão de Marx (embora em concordância com os argumentos das obras Peasant Wars of the Twentieth Century, de Eric Wolf, e The Moral Economy of the Peasant, de James Scott), o MST via os trabalhadores do setor açucareiro como “individualistas”, em oposição aos valores mais coletivos dos camponeses do Sul (p.19). “Os camponeses são – e sempre foram – os verdadeiros subalternos do Capital, o ‘outro’ que legitimou e possibilitou a industrialização, a colonização e o desenvolvimento no pós-guerra”, sustenta Wolford (p.70). De certa maneira, a “consciência camponesa” levava a valores coletivos, e os camponeses do Sul estavam, “inicialmente, bastante receptivos à ideia de produção cooperativa … a forma de produção combinava com seu senso tradicional de comunidade igualitária” (p.104-105). No entanto, os líderes do MST frequentemente constatavam que também os camponeses do Sul eram “individualistas e não conseguiam substituir adequadamente o ‘eu’ da sociedade capitalista convencional pelo ‘nós’ da comunidade alternativa do MST” (p.104). Wolford sustenta, porém, que os desafios para os coletivos do MST no Sul do Brasil vinham menos da ideologia camponesa deficiente e mais de dificuldades organizacionais e pessoais dentro dos coletivos do movimento.
Wolford, porém, concorda com Rogers no sentido de que o que ela chama de “hegemonia do discurso açucareiro” prevalece na região açucareira do Nordeste. “Mesmo quando os trabalhadores rurais plantavam frutas e verduras, eles ainda afirmavam que a cana-de-açúcar era a única cultura verdadeiramente viável” (p.185). Como explicou o presidente de um assentamento do MST, muitas vezes os assentados nem se preocupavam em plantar em suas terras recém-obtidas: “Eles estão cansados, têm que sair de casa cedo para cortar cana para terem algo que comer” (p.184). O compromisso ideológico e prático com a cana e com o trabalho assalariado significava que o programa do MST, tão atrativo no Sul, era menos promissor no Nordeste.
Wolford prefacia seu estudo perguntando se é legítimo que uma pesquisadora investigue os problemas e falhas de uma organização que ela admira e que parece oferecer um dos poucos raios de esperança para a crescente população de grupos rurais espoliados no mundo todo. Seu estudo é claramente simpatizante, e ela sustenta que um melhor entendimento dos desafios que se colocam a esse movimento deveria ajudar a fortalecê-lo, e não a enfraquecê-lo. De fato, o compromisso, a visão e a força do MST, e seu potencial para a verdadeira transformação rural, transparecem nessa avaliação sóbria. Uma das conclusões mais desalentadoras dessa obra é que “é muito mais difícil promover o desenvolvimento sustentável do que expropriar terras” (p.128). O MST tem sido mais bem-sucedido em mobilizar e apoiar pessoas nos dias urgentes e empolgantes das ocupações de terra. Mas o desenvolvimento rural sustentável, especialmente em terras esgotadas e no contexto de um capitalismo global neoliberal e declinante, tem permanecido um desafio elusivo virtualmente em toda parte.
Todos os quatro livros têm como foco regiões moldadas por colonialismo, cana-de-açúcar e escravidão. Todos eles mostram como a própria natureza e as ideias e crenças das pessoas sobre o mundo natural contribuíram para outros desdobramentos políticos e sociais e se cruzaram com eles. No entanto, os quatro livros levam suas análises para direções bem diferentes. Ao comparar duas regiões, Wolford e McGillivray buscam tornar mais complexas as narrativas nacionais – mas de maneiras bem diferentes. Wolford enfatiza as diferenças no contexto do trabalho e do meio ambiente no Nordeste em comparação com o Sul do Brasil e, assim, as experiências muito diferentes que os trabalhadores e camponeses tiveram com o MST nas duas regiões. McGillivray contesta a narrativa nacional bifurcada em Cuba, que propõe padrões muito diferentes para as partes oriental e ocidental da ilha. Ela mostra que, em vez disso, ambas as regiões eram mais como colchas de retalhos.
Adotando uma abordagem explicitamente ambiental de uma longa extensão da história, Funes Monzote e Rogers se ocupam mais diretamente das questões teóricas de como as interações humanas com a natureza contêm um componente crucial da história humana. Em todas as quatro obras, no entanto, a relação entre as pessoas e o meio ambiente tem um papel importante nas histórias política e do trabalho. Cada livro contribui com novas formas de entender o impacto profundo que a cana-de-açúcar teve nas relações sociais, nos movimentos políticos e nos Estados. O ambiente natural abriu o caminho para a cana-de-açúcar, sofreu a destruição em função dos interesses do açúcar, influenciou a consciência dos trabalhadores, do capital e do Estado nas regiões açucareiras, e continua sendo um fator importante nas lutas do século XXI nessas regiões.
Das quatro obras aqui resenhadas, no entanto, apenas Rogers tenta explicitamente construir uma abordagem teórica que interligue as questões do trabalho e do meio ambiente. Não ficamos sabendo se os formuladores de políticas públicas ambientais de Funes Monzote em Cuba cogitavam a existência de paralelos ou conexões entre a exploração da mão de obra e do ambiente natural, ou como os trabalhadores escravizados ou livres do setor açucareiro cubano concebiam sua relação com o meio ambiente. Além disso, apesar de o açúcar ter sido e continuar sendo um produto colonial e de exportação por excelência, tanto em sua história do trabalho quanto na do meio ambiente ainda há muito a ser explorado com relação à interação de forças globais com essas histórias locais e à natureza dos ambientalismos popular e de elite no mundo pós-colonial.
A necessidade de histórias que possam nos ajudar a entender as múltiplas ligações entre o trabalho e o meio ambiente é mais urgente do que nunca. Os socialistas latino-americanos do século XXI continuam a se basear em empreendimentos agroindustriais e extrativos para sustentar seus projetos redistributivos e acusam os críticos estrangeiros de imperialismo ambiental. Os movimentos trabalhista e ecológico do Primeiro Mundo se esforçam para ultrapassar análises individuais e localizadas dos problemas que enfrentam. Enquanto isso, a cultura centrada no consumo continua causando estrago até os mais remotos cantos do planeta, ao mesmo tempo em que movimentos pela soberania alimentar ganham impulso. O contexto global, e particularmente o colonial e pós-colonial, continua a estruturar a terra e o trabalho, bem como a compreensão dos sujeitos coloniais a respeito de seu relacionamento com a terra e o trabalho.
Os livros aqui resenhados dão uma importante contribuição para expandir nossas definições e compreensões tanto da história do trabalho quanto da do meio ambiente. A próxima geração da pesquisa vai se basear neles e nas percepções de ativistas latino-americanos das áreas do trabalho e do meio ambiente sobre os contextos e histórias globais que forjaram os sistemas, a consciência e os movimentos trabalhistas e ambientais, bem como as maneiras como esses movimentos, por sua vez, enfrentam os contextos globais. As crises e contradições atuais frisam a importância de se entender como chegamos a esta situação e quais caminhos tomados e não tomados no passado poderiam sugerir futuros alternativos.
Referências
BERGQUIST, Charles. Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela and Colombia. Redwood City, CA: Stanford University Press, 1995. [ Links ]
DOWIE, Mark. Conservation Refugees: The Hundred Year Conflict between Global Conservation and Native Peoples. Cambridge, MA: MIT Press, 2009. [ Links ]
GROVE, Richard H. Colonial Conservation, Ecological Hegemony and Popular Resistance: Towards a Global Synthesis. In: MacKENZIE, John M. (Ed.) Imperialism and the Natural World. Manchester: Manchester University Press, 1990. [ Links ]
MARTÍNEZ-ALIER, Joan. The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Oxford: Oxford University Press, 2005. [ Links ]
MINTZ, Sidney Wilfred. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York, NY: Viking Press, 1985. [ Links ]
MORENO FRAGINALS, Manuel. The Sugarmill: The Socioeconomic Complex of Sugar in Cuba, 1760-1860. New York, NY: Monthly Review Press, 1976. [ Links ]
POMERANZ, Kenneth. The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000. [ Links ]
TUCKER, Richard P. Insatiable Appetite: The United States and the Ecological Degradation of the Tropical World. Oakland, CA: University of California Press, 2000. [ Links ]
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2010.
Durham, NC: Duke University Press, 2009.
Durham, NC: Duke University Press, 2010.
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2008
Notas
Resenha publicada originalmente em Social History, v.38, n.4, November 2013.
1 Pomeranz, 2000; Tucker, 2000; Dowie, 2009; Grove, 1990, p.23, 25. Grove observa que “os primeiros ensaios políticos de Marx e o estimulante, por ele mesmo admitido, de suas primeiras tentativas de análise séria do processo social originam-se de sua preocupação com a criminalização dos camponeses pelas novas leis florestais nos anos 1840” (p.32).
2 Grove também sustenta que as políticas florestais que protegiam as necessidades de madeira de Marinhas Reais moldaram o pensamento colonial primitivo sobre o meio ambiente e frequentemente colocavam o Estado colonial em conflito com empresas privadas (1990, p.21). Em Cuba, a principal contestação do conservacionismo da Marinha vinha da indústria do açúcar, diferentemente de outros lugares no mundo colonial onde camponeses nativos e povos da floresta foram deslocados por governos coloniais que visavam preservar os recursos para suas próprias finalidades.
Aviva Chomsky – Salem State University. E-mail: achomsky@salemstate.edu.
[IF]Arte Sacra no Brasil Colonial | Adalgisa Arantes Campos
O livro de Adalgisa Arantes Campos, intitulado Arte Sacra no Brasil Colonial, é um pertinenteapanhado histórico em busca de “uma visão de conjunto sem decair no genérico” (p.16) da chamada “arte” religiosa produzida no Brasil colonial. A autora é historiadora, professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e reconhecida especialista em temas ligados à história do Barroco luso-americano, de artífices e artistas coloniais, e da iconografia cristã. A obra é uma síntese introdutória-acadêmica resultante de investigações anteriores da autora, não sendo, todavia, fruto de um projeto específico de pesquisa. É dirigida a leitores acadêmicos, porém, devido à simplicidade de formatação e conteúdo objetivo, pode ser apreciada pelo público em geral.
A obra é composta por cinco capítulos, além da introdução, tendo ao fim um útil glossáriodos principais termos artísticos e religiosos usados no livro. Situa-se como “obra de cunho introdutório” (p.15) voltada principalmente à iconografia e suas concepções artísticas encontradas nas regiões do nordeste e centro-sul da América portuguesa, entre meados do século XVI e inícios do século XIX, não se reduzindo, contudo, “a uma história de estilos” estético-formais (p.15). Adalgisa Campos concentra sua atenção em obras sacras menos conhecidas e consagradas, mas com grande valor representativo, e também busca afastar-se do tradicional foco da historiografia à produção dos grandes centros urbanos (embora não deixe de incluir obras, por exemplo, de Ouro Preto e Mariana, tais quais as pinturas encontradas no forro da sacristia das capelas da ordens Terceira do Carmo e de São Francisco, esta em Mariana e aquela em Ouro Preto). Com isto, Campos, distancia-se do que chama de encadeamento estilístico, afim de não elencar diferenças e evoluções estéticas nas obras por ela analisadas. Desta maneira, sua abordagem coteja fontes escritas – cartas geográficas, como as de Minas Gerais no século XIX (p.30) dentre outras que equivalem a mapas urbanos, plantas arquitetônicas de conventos, igrejas paroquiais, e capelas construídas pelas ordens aqui estudadas; vistas e projetos arquitetônicos -com “obras remanescentes” (p.16) – esculturas de santos e anjos, pinturas e contruções – tendo sempre em vista a compreensão de sua materialidade, daquilo que podeser apreensível e apreciável por qualquer tipo de público, além de “sua significação, função social” (p.14). Para tanto, a autora amparou-se em bibliografia especializada no assunto (autores como Affonso Ávila, German Bazin, Myriam Andrade Ribeiro Oliveira, Percival Tirapeli, dentre outros) e em História da Cultura de modo geral (como Erwin Panofsky e Jacques Le Goff), de forma não exaustiva, mas suficiente para respaldar suas conclusões.
A apresentação dessa produção artística se faz juntamente com um breve histórico de seus criadores. Na América portuguesa, em geral as artes sacras estavam ligadas às ordens, confrarias, irmandades e companhias religiosas, mas também a leigos devotos que as produziam por suas próprias mãos, consumiam-nas e, ainda, promoviam-nas por mecenato (p.103). Essa percepção da inserção da “arte sacra” em um circuito social que não se restringe à sua produção ganha relevância diante da constatação da enorme importância da imagética em geral para a vida do português católico que, na América, vivia em ambientes societários carregados de conteúdos religiosos, cujas intensas e dinâmicas mesclas jamais ignoraram a centralidade do cristianismo e de suas pedagogias públicas. O capítulo primeiro está voltado às atividades cartográficas e geográficas que ocorreram desde o início da colonização portuguesa na América, e se desenvolveram na medida em que a colonização ia efetivando-se pelo território (já no século XVI foram produzidos muitos mapas em função da demanda europeia de desbravá-lo). Posteriormente, começam a proliferar centros urbanos, e daí advém a necessidade de realização, mais especificamente, de plantas urbanísticas, de vital importância inclusive para o planejamento das edificações religiosas.
A relevância destes documentos para o conjunto da obra de Campos reside no fato de tais produções conterem conceitos de linguagem visual com variáveis graus de sofisticação, todos devidamente considerados pela autora. Além disso, a proliferação de núcleos urbanos impunha a necessidade do trabalho de uma ampla variedade de artífices, como pintores e entalhadores, alguns dos quais merecem especial atenção de Campos; -como o cartógrafo João Teixeira Albernaz (?-1662), que atuou principalmente no nordeste,o entalhador Inácio Ferreira Pinto (1759-1828), que trabalhou na cidade do Rio de Janeiro, e o engenheiro da Capitania de Pernambuco, João de Macedo Corte Real (começo do século XVIII). Destacam-se também jesuítas conhecidos como “padres astrônomos ou matemáticos” (p.25), chamados assim por trabalharem no levantamento de latitudes e longitudes na América portuguesa, além de serem cartógrafos; -tais como Diogo Soares (1684-1701), que foi professor na Universidade de Évora, onde lecionou matemática antes de ir à América, e Domingos Capaci (1694-1736), seu parceiro de trabalho.
O segundo capítulo é dedicado à organização do clero regular e diocesano na América portuguesa, bem como aos aspectos institucionais eclesiásticos em geral, destacando, para além do Padroado Régio (onde o monarca era responsável pela administração e rendimento dos bens, edificação e reparação dos templos católicos,e também pela provisão dos materiais de culto, indicação e pagamento dos ministros), o mecenato do Rei. Quando este tornava-se mecenas, passava a suprir também as artes, as letras e outros aspectos da vida cultural em geral. De maneira pontual, mas muito relevante, Campos toca ainda na noção de tempo sagrado, do tempo que o devoto deveria dedicar a Deus, através de um breve histórico do calendário cristão de Portugal e sua vigência nas colônias americanas.
Os demais capítulos se concentram na apresentação histórica dos principais produtores e mecenas de arte sacra – além do Rei e de mecenas leigos, jesuítas, beneditinos, carmelitas, franciscanos – e seus programas iconográficos, com rápidos apontamentos de algumas obras específicas. As ordens regulares encomendavam obras e remuneravam os artistas, ou apoiavam um de seus membros com talento para produção artística, não remunerando-os necessariamente em espécie (p.39). Aqui, merecem atenção de Campos personagens como os beneditinos Domingos da Conceição da Silva (entalhador e escultor), Ricardo do Pilar (pintor e projetista de plantas) e Bernardo de São Bento; os franciscanos Apolinário da Conceição e Antônio de Santa Maria Jaboatão (ambos cronistas, este último de especial importância; e o carmelita Jesuíno do Monte Carmelo (pintor e dourador). Os membros das ordens Terceiras (leigos franciscanos ou carmelitas) são considerados “os grandes responsáveis por um mecenato artístico” (p.88), e poderiam ser irmãos confessos sem, contudo, fazerem votos de castidade e clausura, atuando como artífices em capelas nas igrejas das respectivas ordens, e oferecendo uma mão de obra qualificada para atividades “artísticas” como arquitetura, talha, pintura e escultura (casos como os dos célebres Antônio Francisco Lisboa e Manoel da Costa Ataíde). Por fim, Campos apresenta também a produção de leigos, dentre os quais não evidencia nenhum artista, mas sim exemplos de produções encomendadas por estes grupos e que também compõem o acervo sacro aqui analisado.
Uma das preocupações da autora foi a apresentação da diversidade artística colonial em sua singularidade, não se limitando à produção derivada das ordens institucionalizadas; assim, merece destaque a análise da produção, repita-se, ligada a mecenas leigos e a simples fiéis, como os ex-votos – obras produzidas em agradecimento a alguma graça obtida, e que poderiam ser desde pinturas rústicas e pequenas a prédios inteiros, tal como a capela primitiva do Santuário de Congonhas em Minas Gerais, erigida por Feliciano Mendes. Ao considerá-los “em sua materialidade, significação e iconografia”(p.109), Campos os torna pertinentes representações sacras e artísticas da vida colonial luso-americana.
A despeito da ausência de uma tese central, ou de teses fortes ao longo da obra, Camposmaneja com precisão as fontes, analisando-as de uma forma facilmente inteligível, o que faz com que o livro seja útil para além da academia. Além disso, traça um didático panorama dos séculos luso-americanos, bem como envolve o leitor na cultura religiosa da época por meio de obras cujos significados históricos tornam-se especialmente acessíveis por fazerem parte de um conjunto de imagens e convenções artísticas que não serão totalmente estranhas ao leitor, carregadas ao presente pelos ritmos próprios – lentos – de modificação de um catolicismo ainda fortemente vigente no Brasil. Por isso, deve-se lamentar que uma obra concentrada basicamente em análise de uma produção iconográfica apresente fotografias que poderiam ser mais apuradas, em papel melhor, e com resolução mais alta; também poderiam ser em maior número, principalmente as coloridas, e distribuídas ao longo do texto (não concentradas ao seu final), o que certamente daria ao leitor melhores condições de acompanhar a análise empreendida pela autora.
Trata-se, porém, de uma crítica de cunho editorial, que não diminui a qualidade do trabalho empreendido por Campos, bem como dos méritos gerais que tornam Arte sacra no Brasil colonial obra digna da atenção de especialistas e de não-especialistas.
Sarah Tortora Boscov – Mestranda em História Social no departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH / USP – São Paulo-SP / Brasil). E-mail: sarahboscov@gmail.com
CAMPOS, Adalgisa Arantes. Arte Sacra no Brasil Colonial. Belo Horizonte: C/Arte, 2011. Resenha de: BOSCOV, Sarah Tortora. Um panorama das “artes sacras” luso-americanas. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 191-193, jan./abr., 2015.
Da escravidão ao trabalho livre/ 1550-1900 | Luiz Aranha Corrêa do Lago
Defendida em 1978 na Universidade de Harvard, a tese The Transition from Slave to Free Labor in Agriculture in the Southern and Coffee Regions of Brazil: a Global and Theoretical Approach and Regional Case Studies, de Luiz Aranha Corrêa do Lago, teve, apesar de menções favoráveis em obras como as de David Eltis (Economic Growth and the Ending of the Atlantic Slave Trade. Oxford e Nova York: Oxford University Press, 1987) e Robert Fogel (Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery. Nova York: W.W. Norton, 1989), pouca reverberação nos estudos referentes à escravidão brasileira e seu processo de transição para o trabalho livre, circunscrevendo-se a uma restrita gama de trabalhos, como o de Eustáquio e Elisa Reis (As elites agrárias e a abolição da escravidão no Brasil. Dados (Revista de ciências sociais), 31, 3, 1988, pp. 309-341). A publicação de Da escravidão ao trabalho livre. Brasil, 1550-1900, versão revista e traduzida da tese de doutorado do autor, promete ampliar o campo de atuação das propostas historiográficas de Lago e traz relevantes abordagens sobre o período de transição do regime escravocrata para o trabalho livre no Brasil.
Luiz Aranha do Lago apresenta sua obra como uma análise de fundo econômico sobre o desenvolvimento da escravidão no Brasil e seu ulterior processo de transição para o trabalho livre. Ao longo do livro, o autor elege alguns momentos específicos da história do Brasil – tanto referentes ao período colonial como ao independente – que reverberaram na esfera econômica e alteraram relações de oferta e demanda, sobretudo de mão de obra e terra, levando a uma paulatina transformação do regime de trabalho.
A investigação se inicia pelos motivos que fizeram com que a escravidão fosse o regime de trabalho predominante na América Portuguesa durante os mais de três séculos de dominação colonial. Apoiado na “Hipótese de Domar”Lago defende que a ampla oferta de terras disponíveis na colônia, aliada à política portuguesa de doação de sesmarias a “proprietários inativos”, criou necessariamente uma economia produtiva pautada no trabalho escravo, já que, segundo Domar, “dos três elementos de uma estrutura agrária em estudo – terra livre, camponeses livres e proprietários de terra inativos (ou seja, que não trabalham na terra diretamente) -, dois elementos, mas nunca os três, podem existir simultaneamente” (p.29). Assim, nas regiões em que essa política colonial prosperou e a agricultura vicejou, a escravidão tornou-se o regime de trabalho dominante pela associação de uma alta relação terra-trabalho à existência de proprietários de grandes extensões de terra.
Lago faz ainda uma distinção em relação à disponibilidade econômica e à disponibilidade efetiva de terras. Ainda que haja uma ampla oferta natural de terras – exatamente o caso da América Portuguesa nos séculos da colonização -, proprietários que dominam praticamente a totalidade das terras cultiváveis, mesmo que não desenvolvam a agricultura em toda sua extensão e tenham poder para impedir que homens livres utilizem suas propriedades, fazem com que a relação terra-trabalho real seja menor em comparação com a relação natural. Assim, o recurso à escravidão não se deveu apenas ao fator terra, mas à própria escassez de mão de obra da colônia, que precisou importar trabalhadores de maneira forçada, na medida em que uma imigração de trabalhadores livres sem posse foi inibida pela escassez legal de terras.
A descoberta do ouro e a implantação de um sistema análogo ao das sesmarias – doação dedatas – fizeram com que o trabalho escravo permanecesse predominante nas áreas dinâmicas da economia colonial, de modo que este regime de trabalho se espraiava paulatinamente para as áreas mais ao sul da colônia, fomentando aumento demográfico, tanto via tráfico de escravos como pela imigração espontânea de portugueses. Mesmo com o retraimento da extração aurífera e de diamantes em fins do século XVIII, a economia mineira estimulou um crescimento urbano no centro-sul do Brasil, além de ter permitido que um sistema de escoamento da produção fosse montado entre Minas Gerais e o porto do Rio de Janeiro. Estas últimas características se aliaram a outro momento-chave que Lago atribui ao desenvolvimento da escravidão no Brasil: o início da produção cafeeira pelo sudeste, que “se expandiu sobretudo na província do Rio de Janeiro, ao longo do Vale do Paraíba, mas também em São Paulo e em Minas Gerais, afetando fundamentalmente a evolução econômica do país” (p.64-65).
Um dos méritos de Lago em sua obra é ter atinado para a brusca expansão da escravidão brasileira motivada pelo desenvolvimento das fazendas de café. Estima-se que dos 1,3 milhão de escravos entrados no Brasil ao longo da primeira metade do século XIX, cerca de 2/3, ou 900 mil cativos, seguiram para as regiões cafeeiras. Desse modo, o autor passa a delinear as alterações demográficas e de padrão de trabalho entre as regiões estudadas, enfocando mais detidamente a Cafeeira e a Sul, não sem apontar a diminuição relativa da população escrava no Nordeste, tanto pela perda de competitividade no mercado mundial, motivada pelo deslanche da produção açucareira cubana, quanto pela crescente exportação de escravos para as regiões cafeeiras.
Ao estudar o desenvolvimento da escravidão e do trabalho livre no Centro-Sul do país, tema que constitui efetivamente o núcleo da obra, Lago pretende medir o impacto das ações dos agentes econômicos que dizem respeito à oferta de terras e mão de obra. Iniciando a análise pela região cafeeira – dividida em quatro capítulos, cada um deles referente a uma província – o autor destaca o fim do tráfico de escravos em 1850 como ponto de forte influência sobre o futuro da instituição e sobre as possibilidades abertas a um novo regime de trabalho.
A situação econômica vivida por cada uma das regiões estudadas no momento de fechamento do tráfico condicionou, segundo Lago, o posterior desenvolvimento da questão da mão de obra. Enquanto as fazendas de café do Vale do Paraíba fluminense e do Norte de São Paulo encontravam-se bem abastecidas de escravos e em pico de produtividade em meados do século, o centro-oeste paulista e a região da Zona da Mata de Minas Gerais demandavam ainda braços para a lavoura. No sul do país, a escravidão se concentrava cada vez mais nas charqueadas rio-grandenses, tornando-se diminuta em Santa Catarina, com a decadência das armações de baleia, e residual na colheita do mate, no Paraná.
Nesse quadro de rearranjo da oferta de mão de obra, os fazendeiros do Vale do Paraíba fluminense e paulista tiveram, em um primeiro momento, uma valorização de seus capitais, na medida em que o fechamento do tráfico elevou sobremaneira o preço dos escravos. Posteriormente, porém, o esgotamento das terras, aliado ao envelhecimento dos cafeeiros já plantados, impediu que essa região buscasse soluções de longo prazo para a iminente falta de braços, que com a Lei de Ventre Livre de 1871 tornou-se preocupação geral entre os fazendeiros. O Sul do Brasil, pelo contrário, viu a escravidão perder importância relativa. A imigração subsidiada pelo Governo criou diversas colônias autônomas, não subordinadas à produção voltada ao mercado externo, de maneira que o aumento demográfico da população livre associado à exportação de escravos para as províncias cafeeiras – no caso de Paraná e Santa Catarina – e às baixas taxas de importação de escravos para o Rio Grande praticamente minaram as possibilidades de continuidade da escravidão na região Sul, criando uma sociedade baseada no trabalhado assalariado e na pequena propriedade de produção de subsistência e para o mercado interno.
No que pese a ampla pesquisa documental empreendida pelo autor para as áreas acima descritas, corroborada pela confecção de inúmeras tabelas relativas às pautas de exportação e demografia de cada uma delas, as conclusões não destoam substancialmente das expostas em trabalhos já clássicos sobre o tema, como o de Emília Viotti da Costa (Da Senzala à Colônia. [1ª ed.: 1966]. São Paulo: Editora UNESP, 2010). O exaustivo trabalho de levantamento econômico de Lago confirma, por exemplo, a decadência produtiva valeparaibana ao expor a queda nas exportações de café pelo porto do Rio de Janeiro na década de 1880. Em relação ao Sul do país, a tabela composta por dados demográficos de toda a região comprova a quase irrelevância da população escrava às vésperas da Abolição, componente de menos de 2% da população total nas três províncias. Nesses casos, o estudo de Lago agrega mais subsídios à análise dos fenômenos, mas não traz novidades fundamentais ao tema.
Caso distinto é o da análise do autor sobre a situação do centro-oeste de São Paulo e de áreas de Minas Gerais entre o fim do tráfico de escravos e 1900, passando pela Abolição em 1888. A expansão das fazendas de café em meados do século XIX trouxe o problema da escassez de oferta de mão de obra escrava para o centro das unidades cafeeiras da região. Ainda que contassem com escravos nas fazendas, o alto preço dos cativos advindos tráfico interno e a impossibilidade – legal após 1871 – de crescimento vegetativo da população escrava fez com que as primeiras experiências com trabalhadores livres se concentrassem nessa região. Investimentos particulares, em um primeiro momento, e dos governos provincial e central, em seguida, financiaram a vinda de milhares de imigrantes para o trabalho nas lavouras, de modo que a colonização na área cafeeira não pode ser comparada com a empreendida no sul do país.
O que o autor apresenta como novidade, no entanto, é a “mudança fundamental na organização do trabalho no setor cafeeiro de São Paulo (com a já mencionada exceção do norte)” (p.188). Lago considera que a “função de produção” da fazenda no período escravista esteve ligada a dois insumos básicos: “área total de terra cultivada com café e a turma de escravos chefiada por um administrador e por feitores”. Nesse caso, o escravo era tomado como a unidade de trabalho, de maneira que os cálculos sobre a produção da fazenda consideravam esse trabalhador como a unidade básica de mão de obra, ainda que este fosse passível, no campo, de posicionamento em turmas.
A alocação de imigrantes para o trabalho nos cafezais alterou essa lógica, criando renovadas “funções de produção”, “nas quais o insumo terra era o número total de pés de café sob os cuidados da família de colonos, e a família era a nova unidade do insumo trabalho“. Essa alteração não trouxe consequências apenas formais, mas alterou, de acordo com Lago, os padrões de supervisão do trabalho e alocação de tempo dos trabalhadores. Na medida em que cada fração da propriedade confiada à família de imigrantes era considerada um insumo terra, a unidade da fazenda foi quebrada, dando lugar a uma estrutura que mais se parecia com pequenas propriedades que cultivavam o mesmo produto do que com um empreendimento agrícola unificado. Sobre a mão de obra, Lago afirma que “cada família de colono era remunerada ‘coletivamente’ pelo trato dos pés de café e pela colheita, conforme o número de pés de café sob seus cuidados”
A originalidade da observação sobre a reorganização do trabalho na lavoura de café não é, no entanto, acompanhada por uma análise mais detida das consequências – tanto em relação ao volume de produção quanto à vida dos colonos – que essa mudança acarretou. Quais foram as vantagens, do ponto de vista do fazendeiro, desse novo arranjo de insumos? Se não havia vantagens visíveis, por que este foi o modelo mais aceito e difundido entre os cafeicultores no período compreendido entre a crise final da escravidão e o segundo quartel do século XX? Como explicar a afirmação de Lago de que a produção por trabalhador sob o colonato era maior que a observada para o período da escravidão, sendo que o próprio autor afirma haver maior liberdade dos imigrantes na alocação de seu tempo? As questões elencadas estão longe de ser tangenciais, pois vão ao cerne das reais consequências trazidas pela mudança do regime de trabalho na região mais dinâmica da economia brasileira em fins do século XIX, um dos principais focos do livro.
No posfácio de Da escravidão ao trabalho livre, Luiz Aranha Corrêa do Lago apresenta um longo conjunto de trabalhos publicados sobre a escravidão e sua transição para o trabalho livre entre 1978 – ano de publicação de seu doutorado – e 2014, quando lançou a edição revista e traduzida da obra. Os comentários do autor sobre cada um dos livros e artigos mais relevantes para a área mostram seu amplo domínio sobre a literatura recente e servem como um excelente guia aos interessados em acompanhar o desenvolvimento das reflexões sobre a escravidão no Brasil. Ao optar por não incorporar estas amplas contribuições ao longo do texto, Lago perdeu a oportunidade de debater suas teses com a recente historiografia, rever pontos problemáticos e fortalecer seus argumentos centrais.
Em suma, a publicação de Da escravidão ao trabalho livre amplia o alcance das formulações de seu autor, contribui com valiosas informações quantitativas referentes à produção agrícola e à demografia do período estudado, apresenta uma boa observação sobre a organização do trabalho sob o colonato – quando comparado ao regime escravista -, além de trazer um útil levantamento relativo à produção historiográfica recente sobre a escravidão e o trabalho livre no Brasil. Apesar das inegáveis qualidades, a obra não avança sobre os efeitos trazidos pelo novo regime de trabalho, deixando ainda de dialogar com os trabalhos mais recentes produzidos sobre o tema, de modo que a contribuição que Lago pretendia oferecer à historiografia referente à transição da escravidão para o trabalho livre no Brasil ficou aquém das potencialidades do livro.
Felipe Landim Ribeiro Mendes – Graduando no departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH / USP – São PauloSP / Brasil) e bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – São Paulo-SP / Brasil). E-mail: felipelan@gmail.com
LAGO, Luiz Aranha Corrêa do. Da escravidão ao trabalho livre, 1550-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Resenha de: MENDES, Felipe Landim Ribeiro. Uma história econômica da transição da escravidão para o trabalho livre no Brasil. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 199-202, jan./abr., 2015.