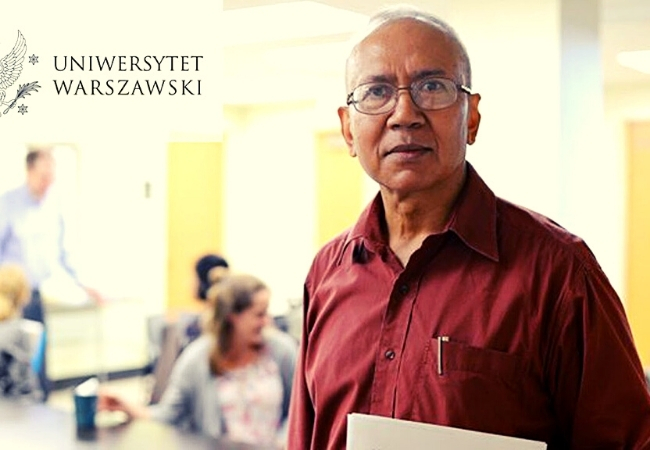History and collective memory in South Asia, 1200-2000 | Sumit Guha
Sumit Guha | Foto: UW |
 Historians always work in evolving political contexts that influence their knowl- edge and narratives. This cultural reality provides a framework for Sumit Guha’s imaginative analysis of how the collective memories that shape human societies are contingent and fragile because they are embedded within the changing insti- tutional systems of social and political life. In History and Collective Memory in South Asia, 1200–2000, Guha analyzes the processes of remembering and forget- ting in South Asian cultures, but similar sociocultural patterns have also appeared in almost every other human society. Historical knowledge serves numerous public needs, including the need for governments and social elites to justify their power and the need for cultural communities to sustain shared collective identi- ties. Historians therefore have an essential public role for which they have often been supported in schools, religious orders, government libraries, and universi- ties, which Guha describes as the “cloistered” institutions that produce and teach historical knowledge (4). This link to institutions, however, makes historical knowledge vulnerable to changing political regimes and to popular upheavals in the social world that always surrounds the cloisters in which experts construct their historical narratives.
Historians always work in evolving political contexts that influence their knowl- edge and narratives. This cultural reality provides a framework for Sumit Guha’s imaginative analysis of how the collective memories that shape human societies are contingent and fragile because they are embedded within the changing insti- tutional systems of social and political life. In History and Collective Memory in South Asia, 1200–2000, Guha analyzes the processes of remembering and forget- ting in South Asian cultures, but similar sociocultural patterns have also appeared in almost every other human society. Historical knowledge serves numerous public needs, including the need for governments and social elites to justify their power and the need for cultural communities to sustain shared collective identi- ties. Historians therefore have an essential public role for which they have often been supported in schools, religious orders, government libraries, and universi- ties, which Guha describes as the “cloistered” institutions that produce and teach historical knowledge (4). This link to institutions, however, makes historical knowledge vulnerable to changing political regimes and to popular upheavals in the social world that always surrounds the cloisters in which experts construct their historical narratives.
I. CONTEMPORARY CHALLENGES TO SCHOLARLY HISTORICAL KNOWLEDGE
Although modern professional historians continue a long tradition of working in privileged cloisters, Guha argues that such experts have created only one of the cultural streams that carry historical knowledge across the generations of social life. The expertise of historical specialists has long been challenged or displaced by oral and popular histories that circulate informally in the public and private spheres of all human communities, creating alternative stories that have wide cultural influences and also affect the ideas of those who write history within even the best-supported institutional cloisters. Historical knowledge is thus inex- tricably connected to public life because it grows out of the collective identities and cultural memories that historical narratives both reflect and help to shape. The public interactions with cloistered historical knowledge, as Guha emphasizes with specific references to both India and the United States, have grown all the more visible in recent decades as diverse social groups have claimed their own historical knowledge and publicly derided the experts for writing false history. Professional historians are thus increasingly marginalized by the “knowledge” that emerges in the popular media or flows among the contemporary religious and political activists who wage transnational culture wars on websites and social media apps. Militant crowds in South Asia, Europe, and the US have been destroying monuments that represent discredited historical figures, but activists with radically diverging ideologies are also constructing new historical narra- tives that assert collective identities and political goals. These politically charged narratives have become part of wider cultural struggles to control historical memories, and they often challenge evidence-based historical accounts that were written in scholarly institutions. Guha wrote his book from a position within one of the cloistered institutions (the University of Texas) where professional experts have traditionally developed and evaluated valid historical knowledge. He therefore notes the context for his own historical project by explaining that recent public claims for the validity of nonexpert historical narratives “made me more keenly aware of how the academy exists only as part of a society” and how “public knowledge of the past” has long “been enfolded in political and economic systems” (x). Guha launches his narrative of South Asian historical knowledge with an explicit recognition that neither the political leaders nor social protest movements in our “post-truth” era are inclined to respect the carefully compiled, evidence- based research of professional historians (ix). Late twentieth-century academic historians such as Peter Novick described a declining faith in historical objectivity among scholars who worked in academic history departments, but the debates of that time were viewed mainly as internal philosophical arguments about the opposing epistemological perspectives of relativism and positivism.[1]
The cultural stakes of these arguments have now become part of a much broader political cul- ture because the cultural-political context has changed. Scientific experts have lost public influence as people outside of the traditional, knowledge-producing clois- ters have gained access to new media and communication networks. Professional historians, like other experts in both the natural sciences and the social sciences, now have to defend the value of evidence-based knowledge in a public sphere that often disdains the whole enterprise of careful documentary research. Guha’s account of collective memories and historical narratives in South Asia over the last eight centuries thus suggests that our (noncloistered) public culture may be returning to conceptions of historical knowledge that long shaped the use and abuse of history in earlier social eras. As Guha explains with persuasive examples, historical knowledge in premodern South Asia and Europe was viewed mainly as a tool to support the political claims of governing elites or to defend the sociocultural status of social groups whose identities were affirmed through semimythical narratives about past struggles and heroism. Human beings have always defined themselves, in part, by describing their historical antecedents, so historians inside and outside of institutional cloisters have provided the requisite collective memories in their written texts and oral histories. Yet Guha repeatedly notes the fragility of collective memories, which can quickly dissipate when social, political, and cultural regimes change or collapse. Most of the once-known information about past people and events has completely disappeared because the cloisters that produced or protected this knowledge were destroyed (for example, the religious communities that protected historical memories in ancient Egypt and Mesopotamia), or because later governing powers had no use for historical nar- ratives that had justified the power of previous rulers, or simply because nobody believed that the activities of common people needed to be recorded in historical narratives.
Guha thus provides humbling reminders that historical knowledge is for- ever changing or vanishing amid the constant public upheavals that transform and demolish the work of historians as well as the past achievements of every other sociocultural community. Guha’s reflections on the contingencies of now- vanished historical knowledge may remind readers of the melancholy themes in Percy Bysshe Shelley’s poem “Ozymandias” (1818), which famously described a traveler’s encounter with the ruins of an ancient king’s shattered statue on a lonely sandscape: “My name is OZYMANDIAS, King of Kings; Look on my works, ye Mighty, and despair!” No thing beside remains. Round the deca Of that Colossal Wreck, boundless and bare, The lone and level sands stretch far away.[2]
One of Guha’s themes in this book conveys a similar story about the fragility of historical knowledge and memories, which means that “the preservation of a frac- tion of the immense world of human experience in the historical record depends on choices and resources, or else it perishes irretrievably” (116). Every genera- tion, in short, must reconstruct historical memories to prevent their otherwise inevitable decay and disappearance in later human cultures.
II. EUROPE ON THE PROVINCIAL FRONTIER OF GLOBAL INTELLECTUAL HISTORY
The fragility of historical knowledge is one example of how Guha views the entanglement of collective memory, political power, and public struggles for social status. History and Collective Memory in South Asia focuses mainly on the development and loss of historical memory in India, but there are also descriptions of similar memory-producing practices in premodern Europe. These comparative perspectives contribute to a historical decentering of European cultural and political institutions that draws on Dipesh Chakrabarty’s influential proposals for “provincializing Europe.” 3 Guha challenges Western narratives that portray a unique European historiographical pathway from the classical Greek works of Herodotus and Thucydides to the nineteenth-century, evidence-based archival methods of Leopold von Ranke. The uniqueness of early European historical writing mostly disappears in Guha’s comparative framework as he shows how medieval European memories and identities were constructed through genealogical research and chronological summaries that South Asian historians also developed during these same centuries. In both of these premodern cultural spheres, most historical narratives focused on local events or people; and the useful knowledge came from genealogists and court heralds who confirmed the esteemed lineage of people who held privileged social status and political power (or wanted to claim new power for themselves). Religious writers in both Europe and South Asia also offered popular narra- tives to explain why particular churches and religious shrines should be visited and why they should be supported with generous gifts. European historical writ- ing thus evolved as an unexceptional local example of the historical research that was also developing widely across Persia and India during this same era. Placed within this wider framework, European genealogists were (like their Indian coun- terparts) “bearers of socially vital histories . . . who kept records and sent out pursuivants across their jurisdictions to record and verify” (35).
Guha thus provides carefully researched examples of how historians can “pro- vincialize Europe” when they move beyond traditional Western assumptions abou European exceptionalism. At the same time, however, he adds to the expanding work in “global intellectual history” by using two important methods for analyzing the history of ideas in different cultures and for tracing transnational intellectual exchanges.[4]
Guha first describes cross-cultural similarities in the labor of heralds and genealogists who served sociopolitical elites in England, France, and Spain, but he also shows how historical workers provided the same services for social elites in India. The social contexts differed, but historians served similar premodern public needs in both cultures. The genealogical arguments for social status, political power, and property ownership were developed with an assiduous attention to past generations and with often-needed adjustments to complex social histories; this careful work everywhere provided essential historical justifications for noble and royal claims to power. After summarizing similar cultural practices that developed independently within Europe and South Asia, Guha uses a second methodology of global intel- lectual history to analyze how ideas about historical knowledge later moved across cultural boundaries and influenced people on both sides of the colonizer/ colonized social hierarchy. The themes in Guha’s narrative thus shift from a description of cultural similarities to a description of cross-cultural exchanges and the mediation of cultural differences. During the nineteenth century, British colonial officials and educators arrived in India with new ideas about how his- torical knowledge should be based on documentary evidence, so the institutions they developed for cross-cultural instruction (including schools and universities) became sites for new cultural translations of materials they encountered in India. British educators developed a tripartite narrative that portrayed Indian history as an evolution from eras of Hindu and Muslim rule into the era of Britain’s Christian Imperial rule, which British officials portrayed as superior to the earlier Mughal Empire. Equally important, a new English-educated, South Asian intelli- gentsia gradually adopted some of the new European methods and ideas for their own anticolonial purposes. Ideas and research methods traveled across cultural boundaries, but they also changed as Indian historians used them to pursue goals that differed from the purposes and expectations of British officials. The Indian scholar Vishwanath Kashinath Rajwade (1864–1926), for example, worked in this hybrid sphere of cross-cultural exchanges during the colonial era, when he joined with other intellectuals in western India to develop a Marathi perspective on British imperialism. Rajwade believed that the “latest methods of source criticism would enable India to recapture its own history” (142), so his work made creative use of some European cultural practices that helped to advance the goals of an emerging Indian nationalism. According to Guha’s account of this hybrid cultural process, “Leopold von Ranke’s doctrines may have reached him [Rajwade] by indirect routes, but he was certain that their application would vindicate both Maratha and Indian nationalism. This was the atmosphere in which the early venture for a public and documented history was launched in the Marathi-speaking world” (143). These two methodological European exceptionalism. At the same time, however, he adds to the expanding work in “global intellectual history” by using two important methods for analyzing the history of ideas in different cultures and for tracing transnational intellectual exchanges.[5]
Guha first describes cross-cultural similarities in the labor of heralds and genealogists who served sociopolitical elites in England, France, and Spain, but he also shows how historical workers provided the same services for social elites in India. The social contexts differed, but historians served similar premodern public needs in both cultures. The genealogical arguments for social status, political power, and property ownership were developed with an assiduous attention to past generations and with often-needed adjustments to complex social histories; this careful work everywhere provided essential historical justifications for noble and royal claims to power. After summarizing similar cultural practices that developed independently within Europe and South Asia, Guha uses a second methodology of global intel- lectual history to analyze how ideas about historical knowledge later moved across cultural boundaries and influenced people on both sides of the colonizer/ colonized social hierarchy. The themes in Guha’s narrative thus shift from a description of cultural similarities to a description of cross-cultural exchanges and the mediation of cultural differences. During the nineteenth century, British colonial officials and educators arrived in India with new ideas about how his- torical knowledge should be based on documentary evidence, so the institutions they developed for cross-cultural instruction (including schools and universities) became sites for new cultural translations of materials they encountered in India. British educators developed a tripartite narrative that portrayed Indian history as an evolution from eras of Hindu and Muslim rule into the era of Britain’s Christian Imperial rule, which British officials portrayed as superior to the earlier Mughal Empire. Equally important, a new English-educated, South Asian intelli- gentsia gradually adopted some of the new European methods and ideas for their own anticolonial purposes. Ideas and research methods traveled across cultural boundaries, but they also changed as Indian historians used them to pursue goals that differed from the purposes and expectations of British officials. The Indian scholar Vishwanath Kashinath Rajwade (1864–1926), for example, worked in this hybrid sphere of cross-cultural exchanges during the colonial era, when he joined with other intellectuals in western India to develop a Marathi perspective on British imperialism. Rajwade believed that the “latest methods of source criticism would enable India to recapture its own history” (142), so his work made creative use of some European cultural practices that helped to advance the goals of an emerging Indian nationalism. According to Guha’s account of this hybrid cultural process, “Leopold von Ranke’s doctrines may have reached him [Rajwade] by indirect routes, but he was certain that their application would vindicate both Maratha and Indian nationalism. This was the atmosphere in which the early venture for a public and documented history was launched in the Marathi-speaking world” (143). These two methodological realms. Oral traditions shaped the identities of local communities, asserted the significance of local religious shrines, or justified the social positions of local elites who continued to challenge the centralizing power of imperial states. All of these narratives could coexist with the historical narratives of large empires because “outside the early temple-cities and imperial capitals, . . . local and folk traditions propagated mutually contradictory but noncompetitive narratives of the past” (27). There was never just one historical narrative, and the local folk nar- ratives sometimes became more powerful and widely accepted than the official narratives that historical experts produced in the cloistered institutions of imperial capitals. In every historical period, diverging narratives claimed to provide the best accounts of recent or remote historical events.
Guha introduces early Indian historical writing by focusing on Muslim histo- rians whose Persian monotheism asserted the existence of a “universal history” that transcended the fragmented local histories of earlier South Asian states (45). Muslim historians believed that a single God oversaw every human activity because all actions took place in a “universal time” (51). This temporal perspec- tive suggested that every great or small event contributed to an overarching historical process, yet the conflicts over political power inevitably occurred in specific places and local settings that required historical attention. Genealogists and court historians thus wrote historical accounts to show the ancient lineage of newly arrived Persian rulers in the era of the Delhi Sultanate (which spanned the thirteenth through the sixteenth centuries), and Persian-language narratives told official stories about heroic past achievements to justify the recent, regional expansion of Muslim power. Politicized historical narratives continued to appear during the later Mughal Empire, whose famous Emperor Akbar (r. 1556–1605) bolstered his centralizing aspirations by supporting new historical narratives (in Persian) and building new monuments that stressed the importance of imperial unity. Other strands of social memory nevertheless flourished outside of the official court-centered narratives that Mughal emperors promoted. Both before and during Akbar’s reign, Guha notes, “many forms of collective memory coex- isted, with the new Persian political and military histories as simply an additional branch of memory” (61). Local memories were often associated with local reli- gious shrines, and long after the Mughal conquests extended into eastern India there were still Bengali legends, lineage stories, and Hindu religious centers that defied or ignored the court-supported Mughal histories. These unofficial narra- tives sustained Bengali cultural memories, though local Buddhist memories were often lost in the competing Muslim and Hindu histories of the era.
As Mughal power declined in the late seventeenth century, the rising Marathi state in western India became a new center of historical knowledge and collective memory. Guha explains that the “Marathi-speaking gentry had long written or dictated narrative histories” for the region, but their expanding political aspirations soon generated new “macronarratives” that helped to justify the political claims and collective identity of the ambitious Marathi (Hindu) regime (107). Historical writing therefore celebrated the achievements of a Marathi elite that governed a mostly Hindu population and eventually displaced the Mughal empire in north- central India, but the Marathi historians ignored the historical achievements of their Hindu predecessors in southern India (the Vijayanagara Empire). The eighteenth-century Marathi elite thus used a narrowly defined collective memory to create an “enmeshing of history and identity [that] was unique in South Asia at the time” (109). Other social groups continued to shape collective historical memories, however, through narratives that circulated outside the Marathi literati. Workers and servants, for example, spoke in court cases that Guha cites to show how nonelite people could provide important historical information about family events and property holdings. Challenging Gayatri Spivak’s famous claim that the voices of subaltern people could never be heard or recovered, Guha refers to late seventeenth-century court testimonies in Maharashtra to argue that lower class women and men in western India “could speak and were sometimes unique sourc- es of evidence” (99).[6]
Craftsmen, barbers, and even gardeners offered their per- spectives on past events or conflicts. Most were illiterate, yet “ordinary villagers . . . passed on key elements of local history from generation to generation” (100). Both the elite Marathi writers and subaltern speakers narrated local history in texts and court testimonies that Guha describes as more factual than the histori- cal narratives that appeared in other parts of India. The west Indian Hindu literati nevertheless resembled historians throughout South Asia in supporting their own government’s political interests and in mostly ignoring the history of previous rulers. Like other elite writers, they also faced the challenge of unofficial historical narratives that conveyed the perspectives of other social groups, including the obscure subalterns who testified (historically) in legal proceedings and family disputes. The struggle to consolidate political power was always linked to cul- tural struggles over the control of stories about the past.
III. HISTORICAL KNOWLEDGE IN THE ERA OF IMPERIALISM AND POSTCOLONIAL TRANSITIONS
Historical writing in both the Marathi-speaking west and the Bengali-speaking east gradually changed after British colonial institutions became new centers of education and historical memory during the nineteenth century. Extending the cultural practices of their political predecessors, British imperialists introduced new historical narratives to increase their own prestige and stature. Guha shows that the power-enhancing uses of historical knowledge remained as prominent in the British colonial era as in the earlier periods of Indian history, but the British brought new European methods for source citations and historical writing. Their sources and narratives conveyed unexamined cultural assumptions about the superiority of Christian traditions, and they often portrayed British rule as a more enlightened imperial successor to the earlier Mughal Empire.
Although Guha explains how the British ascendancy decisively altered the political and cultural context for historical writing, he also argues that the Indian literati always found new ways to narrate their own history—in part by drawing on unofficial, popular histories that still circulated outside of British institutions.Indian writers increasingly accepted new standards of historical evidence, how- ever, which “tended to converge on demanding authentic contemporary sources” (118). The prestige of document-based historical narratives forced Indian histo- rians to recognize that “the power of Western narrative could not be denied, but chinks in it could be sought so as to turn it against the colonizer” (119). Counter- narratives thus challenged the official historical voice, which now spread a European, Christian message within and beyond the cloisters of British schools and universities. Guha gives particular attention to the hybrid historical work of western Indian writers such as the previously noted Vishwanath Kashinath Rajwade and the documentary specialist Ganesh Hari Khare (1901–1985), both of whom wrote texts that differed from the colonial historical narratives and used more factual evidence than could be found in the genealogical stories and “historical romance” of Bengali historians such as Bankim Chandra Chatterjee (1838–1894) (134). Despite Guha’s recognition of the cultural value in all kinds of historical narratives—popular oral histories, genealogies, religious stories, and even fictional works—he repeatedly affirms the superiority of historical research that uses verifiable documentary sources. Adhering to the modern research meth- ods of cloistered professional historians, Guha argues that the most reliable his- torical truths appeared in evidence-based narratives that explained what actually happened rather than what later generations wanted to believe could or should have happened.
The historical resistance to British colonialism did not end when South Asians established independent nations after 1947. As Guha notes in his discussion of postcolonial cultural transitions, historians in both Pakistan and India set to work on nation-building tasks that required coherent national histories and emphasized the kind of long-term continuities that nationalists typically find or invent in their own national cultures. The enduring influence of certain colonial-era British nar- ratives helped to shape new “ethno-nationalist” accounts of Hindu history that condemned Mughal rule and the oppressive power of Muslim outsiders (132). Colonial legacies also influenced some later postcolonial historians who sup- ported an “indigenist” rejection of the evidence-based historical knowledge that British historians had advocated in English-language universities (160). To be sure, British educators had often violated their academic standards for evidence- based historical writing as they promoted their own faith-based assertions about Christian miracles, the superiority of European cultures, and the flaws of Indian religious traditions. Guha notes with dismay, however, that the postcolonial rejection of imperial institutions and ideas evolved into a growing nationalist suspicion or rejection of carefully compiled, evidence-based historical narratives. Historians who searched for indigenous alternatives to British culture drifted away from rigorous research and celebrated ancient Vedic learning in mythic narratives that no longer cited historical evidence or documentary sources.
Guha’s concluding critique of postcolonial changes in South Asian cultures therefore returns to his introductory arguments as he condemns the dangers in “post-truth” societies that reject the foundational research of reliable historical knowledge. The cloisters of professional historical work, where evidence-based research methods established the criteria for accurate (though culturally inflected) knowledge, have been threatened or displaced by the political-cultural influence of a surging Hindu nationalism that resembles similar nationalist critiques of “fake history” and “false” academic work in the US. Political groups and their affiliated media systems in India and America have launched a similar “external assault on the community of professional historians” (x), thereby forcing historical experts to defend the truth of their knowledge in a transformed public sphere. Guha sees familiar historical patterns in these recent challenges to historical knowledge because carefully constructed historical narratives were often overwhelmed and rejected in the sociopolitical upheavals of past transitional eras. Each historical era is different, of course, but Guha suggests that cloistered historians may not recognize how the scapegoating of inconvenient or unpopular knowledge never disappears. “History departments in the few but comparatively well-funded Indian universities controlled by the central government,” Guha writes in a discussion of South Asian historians who lost influence after the 1970s, “were confident, indeed complacent, in their authority. . . . The narrow circle of specialists could still, in principle, resolve disputes by reference to sources and documents, as in the standard model. This gave its members an undue sense of their own grip on the past” (173).
This cultural moment has now passed, however, and the once-cloistered historians find themselves under attack from radical Hindu nationalists, Bollywood historical movies, and so-called identity histories that dismiss or misrepresent the complexities of historical evidence. This situation is by no means unprecedented, as Guha demonstrates in his careful analysis of how collective memories changed under the influence of different governing systems over the last eight centuries. Yet the recurring political struggle for control of historical knowledge seems to be gaining renewed force in a twenty-first-century context of far-reaching social media, website communications, and highly politicized group identities.
IV. HISTORICAL KNOWLEDGE AND THE PUBLIC SPHERE IN A “POST-TRUTH” WORLD
Guha’s careful examination of South Asian historical knowledge contributes valuable perspectives for wider discussions of how collective memories help to shape political cultures and the public sphere. He explains the significance of historical narratives and monuments that sustain collective identities, but he also stresses that popular memories and oral histories have always expanded or challenged the historical perspectives of cloistered experts and state-supported narratives. Guha therefore provides a broad overview to help his readers understand how contemporary critiques of evidence-based academic scholarship may resemble disruptions that have occurred whenever political regimes have been overthrown or new social-cultural-religious groups have come to power. Historical knowledge, as Guha demonstrates throughout his book, has always been fragile and vulnerable to public upheavals.
There are nevertheless limitations in Guha’s work that raise questions for further critical analysis. His insistence on the value of evidence-based research is relevant for historical studies in every society, even though the specific modern arguments for such research emerged in European universities and then gained global influence through other institutions that governments, imperial regimes, and private groups established in other places around the world. Guha notes this complex process of cross-cultural exchange, yet he does not discuss how technological transitions are creating new challenges for document-based historical research and also transforming how historians might study cross- cultural interactions. The new technological challenges began to emerge with the computer revolution of the 1990s, and they became even more pervasive as mobile telephones replaced printed texts and older computers for many twenty- first-century communications. Documents stored on obsolete floppy disks may already be almost as inaccessible as illegible stone tablets in an ancient cave. What happens to evidence-based historical memory when most communications take place in easily deleted telephone text messages or on social media apps that are constantly evolving with the technological innovations of companies that sell mobile telephones?
Guha concludes his book with a commendable insistence on the value of carefully researched historical work and a plea “that we continue to strive for an evidence-based mode of writing it” (178). The instant communications of social media meanwhile pose a double challenge to evidence-based historical writing because sources are disappearing almost instantly, and highly motivated political or religious groups are quickly spreading false historical narratives via internet technologies that previous cloistered historical experts never had to confront. Addressing the implications of these cultural changes would take History and Collective Memory beyond its chronological limits, but historians need to address such issues as they confront the growing public influence of false history, which Guha rightly condemns in his preface, introduction, and conclusion.
Contemporary technological challenges could be explored in future studies of new social media, but a different historical problem appears in Guha’s complaint that cloistered historians have helped to undermine their own evidence-based expertise by embracing postmodern critiques of objectivity. Ironically, as Guha points out in his preface, the influential Foucauldian argument that power cre- ates knowledge seems to have been embraced by powerful governing elites who generally reject the ideas and writing styles of postmodern theorists. One of the American architects of the Iraq invasion in 2003, for example, assured a journalist that American policymakers were powerful enough to define and thereby create political realities in a distant Middle Eastern society. “Postmodern thought,” Guha notes, “had thus been captured by its inveterate critics in the power elite” (ix). This concern about public actors who now adapt theoretical critiques of empirical knowledge to justify their own claims for reality-shaping narratives leads to one of Guha’s specific warnings about the current threats to historical knowledge. Although he provincializes European claims for unique historiographical traditions and methods, he also defends the Rankean belief in the documentary foundation of fact-based historical knowledge. Guha thus views the commitment to evidence-based knowledge as an essential cultural value that should never be dismissed as simply a Eurocentric ideology. Documentary evi- dence, as he correctly insists, provides valid criteria for historical truth in South Asia and in every other society that seeks to establish reliable knowledge about its own past. This commitment to evidence-based historical knowledge, however, leads Guha to an unexpected critique of historians who draw radical relativist implications from the argument that narrative choices shape the construction of all historical knowledge.
Guha’s work carefully examines the words and narrative structures that shape human uses of the past, yet he seems to pull back from his own analytical themes at the end of his book. “We have entered a post-truth world through many paths,” he notes: “One of those brought us here by arguing that all narratives were constructed, and consequently all are equally valid” (176). This is a puz- zling statement because Guha’s book actually shows why the second clause in this sentence is not correct. It is certainly true that all narratives are constructed, but Guha skillfully shows (and almost all historians would agree) that some nar- ratives are far more truthful than others because the best historical accounts are based on documentary evidence and other verifiable sources. Guha’s analysis of South Asian historians thus uses evidence-based criteria to explain why some constructed narratives are more valid than others. His concluding lament about a misguided academic acceptance of the postmodern emphasis on the shaping power of narratives seems to be refuted by the critical assessments of different textual constructions in his own impressive book.
My questions about the impact of changing technologies and the ongoing evaluation of truth claims in historical narratives suggest some of the key issues that Guha’s book encourages readers to continue exploring in our “post-truth” historical era. Although he develops an insightful account of the ways in which historical knowledge evolved in specific South Asian cultures, Guha also shows how this long-developing cultural history challenges traditional narratives about European exceptionalism, confirms the influence of cross-cultural exchanges, demonstrates the complex hybridity of colonial and postcolonial ideologies, and exemplifies the continual intersection of historical knowledge and public conflicts. Guha’s emphasis on the contingency of historical knowledge and the vulnerability of experts also reminds professional historians that sociopolitical forces affect the narratives they write as well as the economic resources that support their privileged positions. Historians thus remain vulnerable to the revo- lutionary upheavals they like to study from the safety of their cloistered positions.
Perhaps the current vulnerability of professional historians results partly from a gradual twentieth-century scholarly withdrawal from intellectual engagements with public life and public history. Given the pressing need for historical narra- tives in public life and in the cultural defense of collective identities, there will always be (nonexpert) groups who want to fill the public historical vacuum that exists when historians argue only among themselves. The historians’ long-term retreat to university cloisters has become increasingly problematic amid the recent populist upheavals around the world, but these unsettling events may now be forcing historians to become more aware of their connections to the public sphere. This awareness could grow in all national cultures as university-based historians struggle to maintain student enrollments and financial resources—and as activist groups constantly develop self-supporting historical narratives in the popular media that flourish outside academic cloisters.
Sumit Guha’s well-argued, well-researched account of collective memory in the longue durée of South Asian history thus helps historians understand the enduring connections between historical knowledge and the struggle for power in public cultures. Cloistered historical experts who find themselves increasingly besieged by twenty-first-century culture wars and polarizing political conflicts might turn to Guha’s narrative for transcultural perspectives on their current chal- lenges. They may also draw on his perceptive analysis of South Asian historical narratives to understand more clearly why they must engage with public cultures beyond their cloisters and defend the evidence-based historical knowledge that others will denounce, distort, or ignore.
Notes
- Guha refers to key themes in Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988).
- Percy Bysshe Shelley, “Ozymandias,” in The Complete Poetry of Percy Bysshe Shelley, vol. 3, ed. Donald H. Reiman, Neil Fraistat, and Nora Crook (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012), 326. This reference reflects my own response to Guha’s themes; he does not mention Shelley or this poem in his book.
- Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton: Princeton University Press, 2000). Guha draws on Chakrabarty for his useful distinctions between “cloistered” and “public” history as well as his broader interest in displacing Europe from its “central, normative role in world history” (Guha 5).
- For a summary of notable research methods in this field, see Samuel Moyn and Andrew Sartori, “Approaches to Global Intellectual History,” in Global Intellectual History, ed. Samuel Moyn and Andrew Sartori (New York: Columbia University Press, 2014), 3-30.
- The key work for Guha is Maurice Halbwachs, On Collective Memory, ed. and transl. Lewis Coser (Chicago: University of Chicago Press, 1992).
- Guha challenges the influential argument that appears, among other places, in Gayatri C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?” in Marxism and the Interpretation of Culture, ed. Cary Nelson and Lawrence Grossberg (Urbana: University of Illinois Press, 1998), 271-314.
Lloyd Kramer – University of North Carolina, Chapel Hill.
GUHA, Sumit. History and collective memory in South Asia, 1200-2000. Seattle: University of Washington Press, 2019. Pp. xiii, 240. Resenha de: KRAMER, Lloyd.The enduring public struggle to constructo, control, and challenge historical memories. History and Theory, v.60, n.1 p.150-162, mar. 2021. Acessar publicação original [IF].
Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico 1450-1850 | Marcello Carmagnani
As conexões mundiais e o Atlântico: título sugestivo para um livro que se propõe a tratar de tema tão amplo. Como fazê-lo, contudo, é questão proeminente. O percurso escolhido nos é explicitado na introdução:
Será necessária uma profunda revisão dos instrumentos analíticos, elaborando os dados históricos até então utilizados apenas descritivamente, para traçar os modelos, os esquemas e as constantes do processo histórico. Fernand Braudel dizia que a história é a representante de todas as ciências sociais no passado: a ampliação da visão de história atlântica aqui proposta depende também da capacidade de elaborar conceitos analíticos que considerem os processos históricos em âmbito econômico, sociológico, político e cultural, sem os quais a história não pode ser nada além de uma mera coleção de conhecimentos [3].
Portanto, como ambicionado, a abordagem das esferas de existência histórica do mundo atlântico depende de uma elaboração conceitual e de uma revisão dos instrumentos analíticos que dê conta das constantes de seu processo formativo. O que, dentro da produção italiana sobre o tema, é de grande significado. Como em países europeus e americanos, os estudos atlânticos ganharam relevo nos últimos anos dentro dos cursos de graduação e pós-graduação. A publicação deste livro, por exemplo, vem cinco anos depois do ótimo Il Mondo Atlantico: una storia senza confini (secoli XV-XIX), de Federica Morelli. Porém, em muitos casos, o Atlântico acaba sendo fortemente concebido como um prolongamento temporal da ordem geopolítica norte-atlântica pós-1945, sendo representado pelos países membros da OTAN (deixando pouco ou nenhum espaço para o Leste Europeu e a Península Ibérica), e excluindo em grande medida o Atlântico Sul, concebendo o ocidente a partir de um interesse que projeta uma interpretação de escopo reduzido.
Portanto, a tarefa assumida requer não apenas amplo conhecimento bibliográfico e documental, como também uma perspectiva metodológica que seja totalizante, por adição ou por relação. Neste campo historiográfico, Bernard Bailyn afirmara que fazer uma história atlântica implica a agregação do conhecimento de histórias locais e suas extensões ultramarinas, bem como as relações desse agregado, operando no campo da descrição de suas dinâmicas e elementos fundamentais e processuais [4]. Apresentando estes aspectos, o presente livro, além de vir em boa hora, é também fruto de uma carreira construída a partir de pesquisas de fôlego sobre a Europa e as Américas. Nos últimos anos, os estudos de Marcello Carmagnani vão da relação intrínseca entre o consumo de produtos extra-europeus e as transformações materiais e imateriais em suas sociedades [5] à formação e plena inserção da América Latina nas sendas do mundo ocidental [6]. E neste livro, como bem descrito, o enquadramento atlântico dos processos históricos e suas relações são delineados plenamente.
Dividindo a obra em cinco capítulos, Carmagnani inicia explorando seus pontos de partida. Pontos que não necessariamente levaram desde o princípio à sua formação, mas que foram determinantes para a estruturação de suas dinâmicas. Neste quesito, as técnicas de navegação e o delineamento das primeiras ocupações atlânticas merecem destaque. Encontramo-nos diante de um processo definido pela experiência e apresentado do seguinte modo: a adoção de técnicas originárias de contatos anteriores, em especial com a Ásia, são, junto com as técnicas locais, adaptadas para a uma realidade que posteriormente se transforma a partir da experiência prática adquirida. No que se refere à busca e ocupação de pontos intermédios no oceano Atlântico, verdadeiras pontes oceânicas, seus papéis são salientados pelas potencialidades como locais de troca e abastecimento/restauração de embarcações, e como primeira experiência de povoamento no além-mar. Com a instalação de estruturas produtivas baseadas no uso do trabalho escravo africano que engendrariam posteriormente o comércio e produção das colônias europeias na América, é ressaltado o desenvolvimento de uma rede mercantil europeia em torno do comércio açucareiro. Juntando estes dois fatores ressaltados, o desafio representado pelo Atlântico vê um número reduzido de agentes envolvidos e possui como seus mecanismos de propulsão a busca de ouro africano e o início do tráfico negreiro em direção às ilhas produtoras de açúcar, que acenavam à conexão entre comércio, técnica e experiência que simbolizam um círculo vicioso.
No segundo capítulo, os efeitos da conquista e o processo de territorialização de espaços americanos são centrais. A catástrofe demográfica americana, o consequente repovoamento e a transposição integral do tráfico negreiro ao mundo atlântico são ressaltadas por duas razões. A primeira diz respeito ao nascimento da articulação entre a costa, o interior e a fronteira aberta, ligando o comércio, as estruturas produtivas e político-jurídicas instaladas na América, tendo a prata e o açúcar como eixos indissociáveis. A segunda é a formação de sociedades específicas, que apesar das divergências locais, eram marcadas por conflitos e violências que visavam a dominação e subordinação da mão de obra. Deste modo, o repovoamento e a instalação produtiva nas Américas representa o nascimento de conflitualidades que levam os poderes coloniais a criarem mecanismos de limitação de contestações e perda de controle sobre o tecido social e produtivos cujas estruturas ainda reverberam.
O terceiro e quarto capítulos devem ser abordados em conjunto, pois enquanto dedica o primeiro à consolidação deste mundo, no outro descreve minuciosamente as plantações, a “originalidade atlântica”. Taxativamente, Carmagnani nos diz que o período entre 1650-1850 é o da afirmação atlântica como principal ator das conexões mundiais. O que era delineado anteriormente passa à concretude: não mais momentos fundamentais e de processos socioeconômicos formativos, mas de ação e projeção dos agentes históricos dentro e a partir deste mundo. Assim ocorre a mudança nos padrões de consumo dentro da Europa, com a oferta maciça de produtos extra-europeus, como café, tabaco, cacau e açúcar. Igualmente, a renda e acumulação de capital dos países europeus norte-atlânticos neste período atingiu índices de crescimento inimagináveis, levando-o, em referência à Eric Williams, a afirmar que o fluxo de capitais ingleses derivantes do comércio mundial, gerado no mundo atlântico e posteriormente na Ásia, permitiu em boa medida os investimentos à Revolução Industrial. Na África, o vínculo entre os mercadores locais e a ampla rede atlântica impulsiona a monetização das regiões costeiras. No Daomé, o equilíbrio entre sociedade, mercados locais e a administração monárquica nos ajuda a compreender por que o comércio atlântico em determinadas localidades africanas podia coexistir com as vicissitudes locais sem criar um mercado único, mas sim uma forte vinculação. No caso da Senegâmbia, o poder local foi ainda mais fortalecido por meio do comércio negreiro.
Tema que merece maior atenção, pois Carmagnani afirma que a expansão do trato transatlântico de escravos é conectada com as mudanças ocorridas não apenas na Europa, mas também na África, e com as estruturas produtivas americanas. Com isso, em um período de queda na oferta europeia de mão de obra, concomitante com a expansão produtiva nas Américas, o comércio de escravos, responsável por uma catástrofe demográfica na África, adquire amplas proporções e desencadeia um fenômeno de grandes dimensões. Diversas redes de comércio se aderiam aos portos de trato que leva ao incremento na demanda africana de tecidos, tabaco, e cachaça, ligando as economias ao ponto de, em determinados períodos do século XVIII, 40% dos produtos ingleses desembarcados na África serem usado para este comércio, enquanto no mundo português foi a sua quase totalidade, inclusive mudando profundamente seu circuito atlântico responsável por 41,8% do escravos desembarcados na América, quando o controle passa de mercadores não mais estabelecidos na Europa, mas sim no Rio de Janeiro e Bahia. Concomitante a essas redes de comércio, o incremento da produção de açúcar após a entrada em cena dos impérios do noroeste europeu aumenta a concorrência produtiva, levando áreas até então açucareiras a diversificarem suas produções.
Por fim, no que se refere ao trabalho e à produção, à parte as importantes considerações sobre as técnicas que favorecem o incremento produtivo, como o sistema de irrigação adotado em meados do século XVIII em Saint-Domingue e investimentos em vias de comunicação e meios de produção que permitiram o aumento da produtividade na Baía de Chesapeake, há um aspecto contraditório originado por uma questão semântica. Em uma passagem, o autor nos diz que escravos africanos, uma vez nas plantações, tinham um duro período de adaptação ao trabalho e de ambientação, aliado às parcas condições materiais, em sociedades que se formavam a partir de pressupostos raciais, dando vida a um sistema produtivo dividido entre um horizonte hierárquico e outro orientado ao lucro. Essa organização do trabalho apresentava tensões latentes, devido ao ritmo e ao controle produtivo. A formação de quilombos e comunidades maroons são exemplos de que esta adaptação não ocorria de fato. A busca de regulamentações e de controle por parte das sociedades coloniais nos leva a pontuar um fator que, em um leitor desatento, pode induzir a um erro de compreensão.
No último capítulo, dedicado às revoluções, a abordagem se baseia principalmente na recente produção historiográfica, dividindo-a em fases ascendente e descendente: a primeira compreende o período entre 1763 e 1815, e a segunda, até 1848. Analisemos as linhas gerais. Sobre a Revolução Americana, Carmagnani reitera que, diferentemente do que afirmam outros autores no cotejo dos eventos revolucionários nos Estados Unidos e na França, sugerindo certo disciplinamento e moderação na história norte-americana, ocorreram sim conflitos civis de monta e também se intensificou o massacre indígena. Ao mesmo tempo, parte significativa dos escravos participou diretamente no conflito, fato que influenciou aspirações de liberdade alhures, formando parte do processo que desembocou na grande rebelião escrava de 1791 na colônia francesa de Saint-Domingue (atual Haiti).
Na Revolução Francesa, se ressaltam suas idas e vindas bem como a leitura da situação política norte-americana. As relações com Saint-Domingue e o papel dos representantes caribenhos na abolição da escravidão em 1794 são cruciais pois sua inserção dentro da política revolucionária demonstra que, diferentemente da Jamaica, a contestação alcançou outra dimensão: não houve apenas uma influência advinda do processo francês, mas esta foi uma experiência que contribuiu ativamente na liberdade dos escravos e na superação, com a declaração de independência de 1804, do restabelecimento escravista decidido pelo governo imperial.
O êxito haitiano, contudo, é em parte responsável pelo caráter mais contido de diversas revoluções liberais posteriores. A moderação se deveu aos temores da classe proprietária e às revoltas eclodidas nas áreas escravistas atlânticas, sem abrir mão, contudo, dos ideais de cidadania e de governo representativo, como se vê na América ibérica, onde as classes dirigentes eram favoráveis à ampliação das reformas que ampliassem a participação política da elite colonial. Como exemplo, a independência brasileira deu luz à uma constituição liberal que centrou mais na organização do Estado que nos direitos dos cidadãos, reiterando o máximo possível a dinâmica da organização social advinda da ordem colonial. Portanto, Carmagnani é cético em afirmar que dessas revoluções nasce a democracia moderna: a representação não dependia da vontade direta da maioria dos cidadãos, e o peso dos interesses das elites foi preservado.
À guisa de conclusão, a obra faz um apanhado bibliográfico geral suficiente e amplo, apresentando os leitores a produção dos últimos 40 anos e instigando um campo de pesquisa promissor em âmbito italiano – os minúsculos erros de digitação na bibliografia não impedem a compreensão da citação, como A Costruçao do Orden. Em Connessioni Mondiali, Marcello Carmagnani, estudioso de projeção internacional, dá um passo importante em direção à “atlantização” da historiografia europeia em geral e italiana em particular.
Notas
1. Università degli studi di Torino. Turim – Itália.
2. Mestrando em Scienze Storiche na Università degli studi di Torino, Torino (TO), Italia. E-mail para contato: joao.covolansilva@edu.unito.it.
3. CARMAGNANI, Marcello. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018, p.5.
4. BAILYN, Bernard. Atlantic History: concepts and contours. Cambridge: Harvard University Press, 2005, pp.60-61.
5. CARMAGNANI, Marcello. Le Isole del Lusso: prodotti esotici, nuovi consumi e cultura economica europea, 1650-1800. Torino: Utet, 2010.
6. CARMAGNANI, Marcello. L’Altro Occidente: l’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio. Torino: Einaudi, 2003.
Referências
BAILYN, Bernard. Atlantic History: concepts and contours. Cambridge: Harvard University Press, 2005.
CARMAGNANI, Marcello. L’Altro Occidente: l’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio. Torino: Einaudi, 2003.
_____. Le Isole del Lusso: prodotti esotici, nuovi consumi e cultura economica europea, 1650-1800. Torino: Utet, 2010.
_____. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018.
MORELLI, Federica. Il Mondo Atlantico: una storia senza confini (secoli XV- -XIX). Roma: Carocci, 2013.
João Gabriel Covolan Silva1;2 – Università degli studi di Torino. Turim – Itália. Mestrando em Scienze Storiche na Università degli studi di Torino, Torino (TO), Italia. E-mail para contato: joao.covolansilva@edu.unito.it
CARMAGNANI, Marcello. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018. Resenha de: SILVA, João Gabriel Covolan. A afirmação do Atlântico na historiografia italiana. Almanack, Guarulhos, n.26, 2020. Acessar publicação original [DR]
Rules and Rituals in Medieval Power Games. A German Perspective – ALTHOFF (FR)
Gerd Althoff /
 ALTHOFF, Gerd. Rules and Rituals in Medieval Power Games. A German Perspective. Leiden (Brill Academic Publishers) 2019. 282p. Resenha de: HUFFMAN, Joseph P. Francia-Recensio, Paris, v.4, 2020.
ALTHOFF, Gerd. Rules and Rituals in Medieval Power Games. A German Perspective. Leiden (Brill Academic Publishers) 2019. 282p. Resenha de: HUFFMAN, Joseph P. Francia-Recensio, Paris, v.4, 2020.
This collection of 15 articles from the prolific opus of Gerd Althoff represents yet another effort to provide Anglophone scholars access to his seminal concept of »Spielregeln« or »rules of the game« in the power politics of the East Frankish-German realm during the Ottonian, Salian, and early Hohenstaufen dynasties (ca. 800–1200). The volume is therefore designed to provide some German-language historiography on the »pre-state society« of medieval Germany. Yet since three of the articles are previously unpublished English-language conference papers (Oxford in 2005, Durham in 2015, and Rome in 2016) and another three of the articles had already been published in English elsewhere, only nine (or 60%) of this volume’s articles are peer-reviewed Althoff scholarship newly available in English. And as in all such reprint editions of scholarly articles and conference papers, there is much redundancy, periodic thinly sourced assertions, and an ex post facto opportunity to address his critics.
Nonetheless, this volume is a welcome contribution. Gerd Althoff is a major German historian of the early Middle Ages whose generation of scholars developed a new perspective on German political history. As a whole, they overturned long-held certitudes about an easily discerned formation and disintegration of a medieval German Staat (nation state), and replaced this Deutsche Kaiserzeit historiography with one that »others« medieval German society. The early medieval German kingdom appears instead to be an unfamiliar »pre-state society« with mentalities, beliefs, customs, and institutions that are actually quite foreign to the modern world of nation states and national historiographies. Indeed, medieval German society followed entirely different political rules than today. From an Anglophone (and French) perspective, one could describe this as a German version of the »cultural turn«, in which politics are no longer understood through the lens of legal historians and their constitutional preoccupations but rather through the lens of social and cultural phenomena.
As Althoff himself recognizes in the preface, even this late-20th-century historiographical movement has become historical, being now increasingly overshadowed by new turns toward trans-cultural and global historiographies. Yet he rightly sees a common thread between his generation’s cultural turn historiography and the new post-cultural-turn historiography: both have replaced nationalistic concepts of history by rewriting parts of Germany’s national history as social and cultural formations. And so for Althoff the origins of the medieval German kingdom are not to be found in constitutions and legal codes, but rather in the cultural code of conduct – the »rules of the game« – for power politics and political communication among its monarchs, aristocracy, and princely churchmen1. The articles in this volume therefore serve as a retrospective reiteration of the Spielregeln thesis, illustrated with studies of various illustrative passages in medieval German chronicles and letter collections. The volume is ordered with the following themes:
Part I: Rules
Part II: Rituals
Part III: Gregorian Revolution
Part IV: History in Literature
Part I begins with a fulsome reiteration of the Spielregeln thesis. Though not as explicit »rules« in the sense of games like chess or a sport, medieval German noble society still maintained and implicitly understood a set of cultural norms for power politics and the public communication of that power. These norms were never fixed in written or governmental forms any more than clothing style or good manners or deportment; rather, they were taught and sustained in oral communication. Such Spielregeln were more important for the maintenance of order in medieval society than in contemporary western society, as the latter contains a comprehensive, written legal basis for political gaming (i. e. constitutions) which are fully sanctioned by the power of the modern nation-state. Medieval German nobles instead held their society together with rules that reinforced trust through rituals of kinship, friendship, and status affirmation (i. e. rank and honor). Such Spielregeln were adaptable enough to be used not only to resolve conflicts but also to extend into novel conundrums by a process of collective counsel and judgment. Finally, the historian can discern the Spielregeln through rituals, accounts of which survive in chronicle sources and letter collections. And though these accounts are literary constructions, Althoff fully embraces them as »reliable evidence« since his focus is on the cultural norms themselves instead of the factual veracity of the narrative accounts. Again, this is cultural history, not narrative political history of events2.
Part II considers the rules of the game themselves, best expressed in rituals serving as a vehicle for symbolic communication of political acts which maintained or restored public order. Rituals therefore did not so much illustrate already existing reality, but rather they created it themselves by their performance. Such public performances at court reinforced and protected the order of rank (e. g. seating at table, order in processions, proximity to those with power – political or sacral). The fusion of noble warrior culture and Christian values were thus expressed in the code of chivalry, filled as it was with ritual acts and gestures of virtue (e. g. humiliatio, clementia) defined by the unspoken Spielregeln.
The articles in Part II catalog the core purposes inherent in the unwritten rules or code of Spielregeln: regulation of the use of violence (both royal and noble); regulation of royal mercy and restoration of friendship as a means of preserving noble rank; regulation of conflict resolution through satisfactio and deditio to restore wounded honor; regulation of secret and/or open colloquia through familiares who lobbied for peaceful solutions acceptable to all; the evolving regulation of bishops from mediators to arbitrators between monarch and nobility. In essence, the Spielregeln provided a means to resolve conflict and preserve rank in order to save the honor of all – both those whose honor had been wounded as well as the peaceful return of those who had wounded. A peaceful equilibrium within the nobility was the ultimate goal of the Spielregeln.
Part III provides studies of specific rituals themselves that inscribed the reality of the long-for peace and restoration of rank. These included participation in convivia (public feasting together) as moments of bonding and alliance fashioning through ritual gestures and non-verbal signs (from smiles to eye contact) as well as verbal negotiations; the ritual of surrender (deditio) with all its theatrical expression of self-accusation and pleading for mercy (e. g. rent clothing, arriving barefoot, sometimes carrying a switch or sword for punishment), prostration; the equally theatrical ritual of pardon after deditio with its raising up of the prostrate penitent (with varying degrees of mercy thereafter); rituals of clementia, misericordia, and iustitia preceding the coronation ceremony of a king; the ritual of gift-giving with theatrical expressions of both honor and reciprocity (we find here the origins of wrapped gifts). We are reminded that in all these acts and gestures, »He who dominated the rituals also mastered the scene« (p. 111). Indeed, Althoff rejects the social scientific analyses of Weber, Habermas, Cassirer and others that rituals were »empty«, »dim«, and »irrational« cultural expressions. Rather, he sees elaborate staging and scripting of rituals with specific, rational acts tailored to specific needs of the moment (though again, there are no surviving accounts of such pre-event staging or scripting negotiations behind the scenes). Just how staged or spontaneous a particular ritual act was still remains a debated point though, since its performance unavoidably allowed for personal agency and »upstaging« others.
Such public rituals took on the cast of legally binding events (not unlike a marriage), as an audience had witnessed the ritual and its attendant gestures, words, and acts. No need for written documentation here, though by the 13th century such was indeed sought as a memorializing of the ritual (e. g. alliances of amicitia). In spite of this development, Althoff still concludes that »Ritual behavior had the same function and created the same obligations as an oath or a written treaty« (p. 141). Such public rituals have the hegemonic power to enable cross-cultural communication, as evidenced by the Polish and Bohemian nobility; yet what seems to have been missed here is that these Slavic communities had recently been Christianized and so had learned cultural cues of Christian Saxons and Bavarians. Other non-Christian Slavic peoples were not invited to participate in such cross-cultural communication in an effort to bind ethnic communities together in alliances and marriages.
Althoff’s final article in this section addresses the critical issue of the ambiguity of symbolic actions. Though rituals and symbols can and were interpreted differently by observers, there is no evidence anywhere that medieval folk felt this ambiguity was a problem; indeed, ambiguity provided the space necessary to establish a broad enough consensus to enable peace and to restore broken bonds between the powerful. Only when written documents from the mid-12th century onward demanded increasing specificity was this interpersonal space of ambiguity compromised and a formal governmental negotiating process entered into the ambiguous space with notions of diplomacy as a conversation of government power.
Part IV takes a major departure from the core theme of the volume, with its focus made clear in the title »Gregorian Revolution«. Here Althoff provides three articles exploring and explaining the radical Gregorian agenda (a preoccupation of German historians since Gerd Tellenbach), from the use of biblical texts as justification for Gregory VII’s claims to obedience of all bishops and monarchs, to the appearance and contested resilience of said claims in subsequent canon law collections (the libelli de lite as the primary conduit), to subsequent papal use of Gregorian claims (again not entirely unchallenged) to justify papal use of violence on behalf of the Church »to pursue their interests« (e. g. to call crusades and to punish recalcitrant kings, schismatics, and heretics). How these articles advance the volume’s avowed study of German noble Spielregeln remains unclear except to give the volume the needed size for publication.
Equally puzzling, though more rewarding, are the articles in Part V. This concluding set of two essays were originally published in German literary studies. Here we see the by now obvious affinity of Althoff’s cultural history approach to chronicle and letter narratives with the narratological and poetics of literary scholars. In the first essay Althoff poses the question, »Do Poets Play with the Rules of Society?« and concludes that indeed they do for dramatic narrative or poetic purposes. Here he considers literary fiction like the »Ruodlieb« and the »Nibelungenlied« as a »broader source base« for historiographical purposes. In the second article he assesses the fictive poem of Duke Ernst and his violent breach of the Spielregeln in an attempt to assassinate a rather tyrannical version of the emperor Otto I.
Then Otto himself breaks the rules of the game by publicly repenting of his harshness toward the duke once Ernst returns seeking restoration after years away on a crusading pilgrimage. What is most salient in Althoff’s analysis, however, is not an analysis of the literary work itself, but his assertion that – in real history – this peculiar poem had been sponsored by the bishop of Bamberg in 1208 just after the actual assassination there of the Hohenstaufen king Philip (of Swabia) by Count Palatine Otto of Wittelsbach. The poem appears to have been an episcopal attempt to legitimate the regicide of a tyrant. The line between literary fiction and historical reality remains smudgy in this section of the volume.
The inclusion of literary fiction as a source for the historical study of unwritten Spielregeln in actual noble society begs the perennial question inherent in Althoff’s thesis. How do we know if the chroniclers of noble rituals have played with them in the same fashion as the poets, and for the same type of rhetorical or political effects? Are we in fact observing actual Spielregeln at work in rituals, or are we reading a literary representation of them by chroniclers with an ulterior purpose in mind? In this volume and generally in all his individual articles Althoff does not systematically present a set of codified political rules as a coherent subject of historical study, but he has instead presented them as evocative yet incompletely unpacked vignettes of intriguing themes.
To his credit, Althoff acknowledges the unavoidable conditional clause for his entire source analysis methodology: »if the representations of many [chronicle] authors are not totally misleading« (p. 115). He then addresses Johannes Fried’s same critique of his methodology (one of many disputes between the two historians over the years), by concluding: »After much discussion about this question I here and now contend, without repeating the arguments for the position, that little or nothing speaks for the assumption that the world of descriptions should be fundamentally different from the world of real customs of communication« (p. 115).
But elsewhere he concedes much less confidently, »It may be doubtful that the [chronicle] authors describe the scenes as they happened, although it is not possible to prove this one way or another. Nevertheless, the stories told by medieval authors can be used in our questions about the forms and functions of public communication, because the authors telling these stories had to consider the common rules and customs governing behavior if they wanted their contemporaries to believe them. […] On the whole, the description had to correspond to the usual practices of communication. These stories can be used for the investigation of these practices, but not for the history of events« (p. 142). So for Althoff’s cultural history, the method serves only a formal analysis of political rules with the goal being »to strive to regain the point of view from which medieval contemporaries looked at ritual. This is a necessary first step, after which we should of course add our own evaluation« (p. 142).
Whether historians, Anglophone or otherwise, will be satisfied with relying on chronicle and letter narratives as sources for a narrowly crafted cultural history of the social history of medieval political history will depend on the type of history they prefer to pursue. The Spielregeln thesis is a fascinating starting point for navigating parts further removed, yet the fundamental source analysis of the discipline of history is different in kind from analysis of literary fiction and for good reason. Yet the value of the cultural turn as found in the work of Gerd Althoff and his generation of historians has provided a signal service – most especially in German historiography – of separating medieval German history from the awfully destructive legacy of an intense nationalistic modern historiography centered on the German state. For helping provide this specific »German Perspective« we are in his debt and can appreciate the import of this volume in his honor. Still to be done is testing the Spielregeln thesis beyond medieval Germany through a comparative study of other European kingdoms and their noble societies and cultures, both before and after the dawn of administrative kingship in the 12th century.
[Notas]1 His Spielregeln thesis first emerged in the last chapter of: Gerd Althoff, Verwandte, Freunde und Getreue. Zum politischen Stellenwert der Gruppenbindungen im früheren Mittelalter, Darmstadt 1990, translated into English by Christopher Carroll: Family, Friends, and Followers. Political and Social Bonds in Early Medieval Europe, Cambridge 2004. It was then more fully articulated in: Gerd Althoff,Spielregeln der Politik im Mittelalter: Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997; 2nd ed. 2014 – a collection of eleven papers and conference papers delivered between 1989–1996. Althoff then explored the historiographical implications of Spielgregeln in medieval political chronicles in his monograph: Inszenierte Herrschaft. Geschichtsschreibung und politisches Handeln im Mittelalter,Darmstadt 2003. He also applied this Spielregeln thesis to his analysis of the emperor Otto III in his biography: Otto III., Darmstadt 1996 (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance); translated into English by Phyllis G. Jestice: Otto III, University Park 2003.
2 This thesis has sparked a controversial international discussion, and many have been the objections to this loosely defined »know it when you see it« anthropological methodology. See for example: Johannes Fried, Wissenschaft und Phantasie. Das Beispiel der Geschichte, in: Historische Zeitschrift 263 (1996), p. 291–316; Philippe Buc, The Dangers of Ritual. Between Early Medieval Texts and Social Scientific Theory, Princeton 2001; Warren Brown, The Use of Norms in Disputes in Early Medieval Bavaria, in: Viator 30 (1999), p. 15–40; and id., Violence in Medieval Europe, Harlow 2011, p. 137–139.
Joseph P. Huffman – Mechanicsburg, PA.
[IF]Simon de Montfort (c. 1170–1218). Le croisé, son lignage et son temps – AUREL et al (FR)
AUREL, Martin; LIPPIATT, Gregory; MACÉ, Laurent (dir.). Simon de Montfort (c. 1170–1218). Le croisé, son lignage et son temps. Turnhout (Brepols) 2020. 286p. Resenha de: BALARD, Michel. Francia-Recensio, Paris, v.4, 2020.
Figure controversée de son temps et jusqu’au nôtre, Simon de Montfort méritait incontestablement que les historiens d’aujourd’hui reprennent en toute sérénité l’étude de son action dans la croisade albigeoise, de son lignage tant en France qu’en Angleterre, et des idéaux à la base de ses faits et gestes. Un colloque tenu à Poitiers en mai 2018 y pourvut et les communications qui y furent présentées constituent le présent ouvrage, conçu en trois parties: la croisade albigeoise, l’homme, son entourage et ses représentations, enfin le lignage et sa culture.
Jean-Louis Biget, spécialiste reconnu de l’histoire religieuse en Occitanie, analyse la croisade contre les Albigeois, à partir du 15 août 1209, date à laquelle Simon de Montfort en prend la direction. Ce fut une guerre sans merci, mue par un esprit de croisade, de réforme morale et de purification spirituelle, qui cherche à éliminer les hérétiques, jugés pires que les Sarrasins. L’auteur montre les difficultés de la conquête, dues au manque d’effectifs et de moyens financiers, rendant illusoire le gouvernement des villes et des territoires conquis. Aux années triomphales (1214–1215) conclues par le IVe concile du Latran qui accorde au vainqueur tout le pays conquis, succède l’échec marqué par l’incapacité d’occuper le territoire occitan, la révolte de Toulouse et la mort de Simon devant la ville qu’il assiégeait (1218). D’heureuses cartes permettent de suivre la marche des croisés et l’organisation de leurs conquêtes.
C’est à cette tâche que dès 1212 le vainqueur s’adonne en faisant publier par un parlement croisé les »Statuts de Pamiers«. Largement inspiré de la réforme morale néo-grégorienne, ce texte cherche à imposer au Midi occitan la coutume française en matière de fief, de mariage, de statut des clercs, de corvées et de taille, tout en interdisant l’ordalie, la vengeance privée et les exactions seigneuriales. Gregory Lippiatt en compare les clauses avec d’autres textes contemporains, les »Assises d’Antioche«(avant 1219), le »Livre au Roi« (vers 1200) la »Bulle d’or« promulguée en 1222 par le roi André II de Hongrie ou les »Assises de Capoue« dues à Frédéric II (et non à Frédéric Ier, p. 43). À la différence de ces derniers, les »Statuts de Pamiers« établissent avec la »Bulle d’or« une étroite connexion entre croisade et réforme morale, mais ils n’auront qu’une éphémère application.
Martin Alvira retrace les rapports entre Simon de Montfort et Pierre II d’Aragon, depuis leur première rencontre en novembre 1209, jusqu’à la bataille de Muret (13 septembre 1213) où le »comte du Christ«, comme le dénomment certains chroniqueurs, serait venu s’apitoyer sur le cadavre du roi d’Aragon, tué par des chevaliers croisés. Le désir de revanche animera désormais les vaincus, faisant de Simon le bourreau de leur peuple.
La mort de Pierre II fait de son jeune fils, Jacques, otage de Simon de Montfort dès avant Muret, l’héritier du trône d’Aragon. Le légat pontifical, Pierre de Bénévent, recueille le jeune prince et en assure la protection face au conseil de régence. Damian Smith montre comment les nobles aragonais vont se préoccuper plutôt de leurs intérêts dans le Sud de la péninsule, face aux Almohades, que de leur implication dans les affaires de l’Occitanie.
Les démêlés de Simon de Montfort en Angleterre font l’objet de l’exposé, quelque peu confus, de Nicholas Vincent. Comte de Leicester jusqu’en 1209, Simon est privé de ses droits sur son comté par Jean sans Terre, les retrouve en plusieurs occasions, les perd à nouveau, de sorte qu’il devient l’inspirateur des barons anglais hostiles au roi. L’engagement de Simon dans la croisade albigeoise serait la conséquence directe de ses déboires concernant le comté de Leicester. Son fils, Simon VI, bénéficie à son tour de la faveur des barons anglais, en cultivant le souvenir et les relations de son père.
Laurent Macé étudie ensuite les sceaux successifs du lignage des Montfort, dont il donne des descriptions précises, sans malheureusement montrer autre chose que deux petites illustrations. Son exposé ainsi que le précédent (p. 125–126), auraient nécessité plusieurs clichés des types sigillaires successivement adoptés par Simon de Montfort et ses descendants.
Que devient la croisade après la mort de son chef devant les murs de Toulouse en 1218? Daniel Power, déplorant des sources moins nombreuses sur les événements postérieurs, rappelle la mort de Guy de Montfort lors du siège de Castelnaudary en 1220, la prise de Montréal par les Toulousains en février 1221, la participation d’Hugues de Lusignan, la fondation de l’ordre de la Foi en Jésus-Christ, puis en 1224 la trêve conclue avec les comtes de Toulouse et de Foix, par Amaury de Montfort, laissant au roi Louis VIII le soin de poursuivre la croisade dans le Midi.
Les relations des Montfort avec les Capétiens sont rendues difficiles par leur position ambivalente entre France et Angleterre. Lindy Grant retrace l’ascension du lignage depuis Simon Ier (entre 1060 et 1087): à partir d’une petite seigneurie dans la forêt royale des Yvelines (Montfort), la famille grâce à des mariages heureux acquiert le comté d’Évreux, puis celui de Leicester, mais est victime du conflit entre Capétiens et Plantagenêt. Renonçant à ses droits sur le Languedoc en 1224, Amaury, fils de Simon, est accueilli à la cour de Louis VIII, cède ses possessions anglaises à son frère Simon VI, et devient l’un des principaux conseillers de Blanche de Castille, durant sa régence. Il participe en 1239 à la croisade des barons dans le royaume de Jérusalem, est fait prisonnier en Égypte. Racheté, il meurt en Pouille sur la route du retour.
Sophie Ambler s’attache ensuite à décrire l’influence prépondérante de Simon V sur son fils Simon VI. Mu par les mêmes idéaux, faisant de la guerre sainte sa raison d’être, adoptant un sceau semblable à celui de son père (p. 199: pas d’illustration), Simon VI devient le leader de la révolution menée par les barons anglais contre le roi Henri III et son fils Édouard, mais est tué par les fidèles du roi à la bataille d’Evesham le 4 août 1265.
C’est à son expérience de gouverneur de la Gascogne anglaise que s’intéresse Amicie Pélissié du Rausas. Ayant épousé Éléanor, sœur d’Henri III, Simon VI en 1248 est dépêché par le souverain en Gascogne en pleine anarchie. Conscient d’une mission politico-religieuse et d’un souci de bon gouvernement, mais s’opposant avec violence aux coutumes et aux droits ancestraux des Gascons, Montfort se met rapidement à dos les seigneurs locaux, le peuple et l’archevêque de Bordeaux, Géraud de Malemort. Rappelé à Londres en 1252, à la suite des »dépositions gasconnes« rédigées contre lui, il est désavoué par le roi, ce qui explique sans doute son rapprochement avec les barons anglais hostiles au souverain.
Pendant moins d’un an (1265), le comté de Chester est devenu possession de Simon VI. Soutenu par des propriétaires terriens locaux, mais rejeté en raison de son gouvernement autocratique, comme le montre Rodolphe Billaud, Montfort le perd définitivement à sa mort en août 1265, au profit du futur Édouard Ier, suffisamment habile pour s’imposer en confirmant les droits et coutumes du comté.
Le dernier article, dû à Caterina Girber, étudie l’héraldique imaginaire des Montfort, oscillant entre flatteries et diffamations dans le roman arthurien ou dans deux manuscrits de l’Apocalypse.
Vient enfin une lumineuse conclusion de l’ouvrage par Martin Aurell qui développe trois thèmes illustrant la vie du lignage: Simon V et son fils représentent deux figures controversées qu’il convient de comprendre en les situant dans la société de leur temps. Mus par une ambition princière, écartelés entre Capétiens et Plantagenêt, ils échouent à garder un domaine de part et d’autre de la Manche. Aurell insiste enfin sur la ferveur religieuse du lignage, embu d’un idéal chevaleresque cléricalisé, mais aussi lieu de transmission de savoirs et de valeurs culturelles. L’extrême ambition de ses membres, pour lesquels la guerre sainte est une affaire de famille et un moyen d’expansion territoriale, les place dans une situation inconfortable, tantôt au service des souverains, tantôt à la tête d’une conjuration hostile au pouvoir royal.
De ce bel ouvrage émerge une image nuancée de Simon V et de ses descendants. Il est dommage qu’il y manque un exposé sur leurs participations aux croisades d’Orient (1204 pour Simon V, croisade des barons pour Amaury). Un tableau généalogique aurait été d’une grande utilité pour suivre la stratégie matrimoniale, moyen de leur ascension. On peut enfin déplorer la quasi absence de toute illustration et d’un index indispensable dans tout ouvrage de cette qualité.
Michel Balard – Paris.
[IF]
Troyes 1420. Un roi pour deux couronnes – BAUDIN; TOUREILLE (FR)
BAUDIN, Arnaud; TOUREILLE, Valérie (dir.). Troyes 1420. Un roi pour deux couronnes. Gand (snoeck), 2020. 408p. Resenha de: OBERSTE, Jörg. Francia-Recensio, Paris, v.4, 2020.
Am 21. Mai 1420 wurde in der Kathedrale von Troyes ein Friedensvertrag zwischen England und Frankreich besiegelt, der schon von den französischen Zeitgenossen mit gemischten Gefühlen aufgenommen und von der französischen Historiografie seit dem 18. Jahrhundert als »honteux traité« disqualifiziert wurde. Die Ergebnisse dieses Staatsaktes waren für alle Beteiligten, insbesondere die Königshäuser der Valois und Lancaster, aber auch für die Position Herzog Philipps des Guten von Burgund von unmittelbarer und einschneidender Wirkung: Der Dauphin verlor seinen Erbanspruch auf den französischen Thron; der in der Schlacht von Azincourt 1415 siegreiche englische Herrscher, Heinrich V., übernahm als »Regent in Frankreich« faktisch die Regierungsgeschäfte in Paris; die in Troyes vereinbarte und wenige Wochen darauf vollzogene Ehe Heinrichs mit Katharina von Valois sollte den Grundstein für eine neue Dynastie englisch-französischer Doppelmonarchen legen; der Herzog von Burgund schließlich gewann durch sein Bündnis mit den Lancaster eine bis dahin ungekannte und autonome Machtstellung in Frankreich.
Bis heute erfreuen sich der Vertrag von Troyes und die darauf folgende Phase der englischen Besetzung größerer Teile Frankreichs einschließlich der Hauptstadt Paris einer deutlich breiteren Resonanz in der englischen und internationalen Forschung als in der französischen. Daher ist es hervorzuheben, dass dieses Ereignisses am Ort des Geschehens unter der wissenschaftlichen Leitung von Valérie Toureille (Université de Cergy-Pontoise) und Arnaud Baudin (Université Paris 1) in einer großen Ausstellung (vom 4. September 2020 bis 3. Januar 2021) gedacht wird. Zu diesem Anlass wurde ein wissenschaftlicher Katalog vorgelegt, in dem die politischen, sozio-ökonomischen und kulturellen Kontexte des Vertrags von führenden französischen und internationalen Forscherinnen und Forschern aufgedeckt und zugleich die vielfältigen Exponate der Schau großformatig in beeindruckender Qualität gezeigt werden.
Während sich die drei einführenden Beiträge von Philippe Pichery, dem Präsidenten des Conseil départemental de l’Aube, den wissenschaftlichen Organisatoren sowie von Philippe Contamine mit der höchst unterschiedlichen Rezeption und Interpretation des Geschehens von Mai 1420 in seinen Auswirkungen auf das zeitgenössische Machtgefüge in Europa und in der langen Perspektive bis heute befassen, folgt die weitere Einteilung des über 400 Seiten umfassenden Bandes den Sektionen der Ausstellung: »Der politische Kontext (1407–1419)«, »Der Vertrag von Troyes«, »Leben in der Champagne in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts«, »Krieg und Rückeroberung« sowie abschließend: »Die Erinnerung an den Vertrag von Troyes«.
Mit Anne Curry und Christopher Allmand sind zwei herausragende Vertreter der englischen Forschung an der Rekonstruktion der Kontexte beteiligt: Zunächst verfolgt Édouard Bouyé skizzenhaft die lang währende englische Obsession einer englisch-französischen Doppelmonarchie von der Zeit König Eduards III. (1327–1377) bis ins frühe 19. Jahrhundert. Vor diesem Hintergrund wird klarer, dass die Ereignisse von Troyes den Punkt in einer Jahrhunderte währenden Beziehung markieren, an dem zum einzigen Mal eine Realisierung dieser Idee greifbar nahe schien.
Bertrand Schnerb übernimmt es, die korrodierende Herrschaft in Frankreich in den späten Jahren König Karls VI. zu umreißen, die von Attentaten in der Königsfamilie, dem eskalierenden Bürgerkrieg zwischen Bourgignons und Armagnacs und von der zunehmenden Unfähigkeit Karls VI., seine Herrschaft auszuüben, geprägt war. Ein wichtiges Resultat dieses Beitrags liegt in der Erkenntnis, dass bereits vor der Niederlage von Azincourt der Herzog von Burgund zur bestimmenden Figur der französischen Politik avanciert war.
Christopher Thomas Allmand stellt in seinem Beitrag klar, dass bereits die zeitgenössischen Bewertungen der Ursachen der »guerre de Cent Ans« durchaus variierten: als Lehnskonflikt zwischen dem französischen Lehnsherrn und seinem rebellischen Lehnsmann auf dem englischen Thron, als Erbfolgekonflikt um den französischen Thron oder als Territorialkonflikt zweier aufstrebender europäischer Nachbarreiche. In seinem Fazit hebt er die besonderen militärischen Talente und Erfolge Heinrichs V. als Hauptursache für die dynamischen politischen Entwicklungen der Jahre 1415–1420 hervor. Alain Marchandisse verfolgt schließlich die Rolle der burgundischen Herzöge im Umfeld des Vertrags von Troyes. Dieser Teil wird abgeschlossen durch insgesamt 14 knappe Objektskizzen zu so unterschiedlichen Exponaten wie dem Schädel des 1419 ermordeten Herzogs Johann Ohnefurcht oder einem Portrait Heinrichs V. aus dem frühen 16. Jahrhundert.
Das eigentliche Geschehen im Mai 1420 in Troyes ordnen Cléo Rager, Anne Curry, Martin Kintzinger, Ghislain Brunel, Philippe Contamine und andere ein. Die Präsenz der unterschiedlichen Höfe, die aus Troyes die Kulisse für einen bedeutenden europäischen Staatsakt machte, wird hier ebenso beleuchtet wie das politische Tauziehen um einzelne Klauseln oder diplomatische und archivalische Aspekte der beiden überlieferten Vertragstexte (in französischer und lateinischer Sprache).
Unter den eindrücklichen Exponaten, die jeweils im Mittelpunkt eines Beitrags stehen, ragt unter anderem eine durch Anne Curry besprochene Truppenliste mit Verstärkungen für König Heinrich V. von Frühjahr 1420 hervor, die eindringlich klar macht, dass die englische Position trotz des Siegs von Azincourt und der burgundischen Unterstützung keineswegs unangefochten war. Ein anderes Leitobjekt stellt eine Goldmünze König Heinrichs VI. mit dem charakteristischen Doppelwappen aus fleurs de lys und den Lancaster-Löwen auf dem Revers dar. Zur Herrschaft dieses ersten und einzigen englisch-französischen Doppelmonarchen (1431–1435) gibt es außer einer kurzen Bildbesprechung leider keinen weiteren Beitrag.
Mit der regionalen Perspektive auf die burgundische Champagne im frühen 15. Jahrhundert führt der Band vom vorrangig politischen Interesse am Staatsakt von 1420 weg und leistet eine breite sozial-, wirtschafts- und kulturhistorische Einführung anhand einer großen Bandbreite von Exponaten und Dokumenten: Arnaud Baudin widmet sich der historischen Landschaft Champagne, Aurélie Gauthier der blühenden urbanen Kultur, Élisabeth Lusset der Kirchenorganisation, Véronique Beaulande-Barraud der Frömmigkeitspraxis und eine Reihe weiterer Beiträge und Objektskizzen der reichen materiellen Kultur und Schriftüberlieferung.
Auch die folgende Sektion zu »Guerre et Reconquête« geht von der besonderen Lage der Champagne zwischen den burgundischen Kernterritorien und der Île-de-France aus. Laurent Vissière, Olivier Renaudeau, Brice Collet, Alain Morgat und Aleksandr Lobanov beleuchten zunächst militärische Aspekte wie die Ausstattung der rivalisierenden Heere mit Waffen oder den Aufbau eines Netzes englischer Garnisonen in der Champagne. Zu den zentralen politischen Episoden in der Folge des Vertrags von Troyes zählen die Regentschaft des Herzogs Johann von Bedford in Frankreich, der in diesem Amt seinen 1422 in Vincennes verstorbenen königlichen Bruder beerbt, sowie das Auftreten Johannas von Orléans und das Wiedererstarken der Valois. Mit Anne Curry und Valérie Toureille kommen hier zwei der besten Kennerinnen der Materie zum Zuge. Unter den vielfältigen Exponaten beeindruckt der erhaltene Krönungsbaldachin Karls VII., dessen politische Ikonografie Élisabeth Antoine-König als »anti-traité de Troyes« charakterisiert.
Mit der Rezeption des Vertrags von Troyes schließlich befassen sich vier abschließende Beiträge, die so unterschiedliche Themenfelder eröffnen wie den Blick auf Heinrich V. im Werk William Shakespears (Line Cottegnies), den Frieden von Amiens im März 1802 zwischen Großbritannien und dem napoleonischen Fankreich (Patrice Gueniffey), das französisch-englische Bündnis von Juni 1940 (Jenny Raflik) oder den Hundertjährigen Krieg im Kino (François Amy de La Bretagne).
Ein etwa 100 Jahre altes Foto vom Vorplatz der Kathedrale von Troyes erinnert an die Feierlichkeiten zu Ehren von Jeanne d’Arc, die hier 500 Jahre zuvor begeistert empfangen worden war. Nach dem Ersten Weltkrieg trug die Pucelle zur Versöhnung von Republikanern und Katholiken in Frankreich bei, wie Nicolas Dohrmann ausführt. Sorgfältige Register und eine Bibliografie runden diesen aufwändig gestalteten Katalogband ab, der die wissenschaftlichen Perspektiven und materiellen Überlieferungen zu einem wichtigen Datum der europäischen Geschichte auf eindrucksvolle Weise zusammenführt.
Jörg Oberste – Regensburg.
[IF]Logistics of the First Crusade. Acquiring Supplies Amid Chaos – BELL (FR)
BELL, Gregory D. Logistics of the First Crusade. Acquiring Supplies Amid Chaos. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2019. 226p. Resenha de: BALARD, Michel. Francia-Recensio, Paris, v.4, 2020.
La première croisade a fait l’objet d’une pléthore d’études. Était-il indispensable d’en publier une nouvelle? Oui, sans doute, car le thème choisi par l’auteur a trop longtemps été délaissé: comment une troupe disparate de plusieurs dizaines de milliers de combattants et de non-combattants a-t-elle pu s’approvisionner pendant un voyage de plus de 25 mois, à plusieurs milliers de kilomètres de son point de départ, et réussir à s’emparer de Jérusalem, alors que la faim et la soif la tenaillaient pendant de longues semaines et que tout au long de son parcours la maladie, la mort, la désertion amoindrissaient le nombre des croisés en état de combattre? Pour l’auteur, leur succès repose sur une logistique réfléchie et flexible: loin d’être désorganisés, avides et violents, les chefs de la croisade ont su prévoir les modes d’approvisionnement en marche et pendant les sièges de Nicée, d’Antioche et de Jérusalem.
Pour le démontrer, l’auteur organise son propos en dix chapitres qui suivent les principales étapes de la croisade. Il s’appuie sur une large palette de chroniqueurs, sur quelques lettres écrites par les croisés et sur les chartes et cartulaires faisant mémoire des financements obtenus par les participants, avant le départ de l’expédition. Le fait que le pape Urbain II ait promu celle-ci comme un pèlerinage vers Jérusalem aurait été fondamental pour calmer les ardeurs guerrières lors de la traversée des Balkans et même de l’Anatolie. Plutôt que de se livrer au pillage systématique pour trouver des approvisionnements, les chefs de la croisade auraient cherché à acheter leurs subsistances sur les marchés locaux, en ayant pris soin d’en avertir les responsables à l’avance. Pour ce faire, ils auraient emporté d’importantes sommes d’argent et aidé en cours de route les plus pauvres des croisés, dépourvus de moyens.
Cette méthode nécessite d’intenses préparations logistiques, dès que fut connu l’appel du pape à Clermont. Monastères et églises accordent des prêts aux participants ou leur achètent des biens fonciers, les juifs sont victimes d’extorsions d’argent, particulièrement dans les villes rhénanes, les villes portuaires sont invitées à préparer des flottes d’appui à l’expédition. Puis vient le départ, d’abord de la croisade populaire dont la violence et l’anarchie sont dues à l’absence d’un chef prééminent, puis des cinq troupes dirigées par des princes soucieux de négocier des transactions pacifiques et ne recourant au pillage qu’en dernier recours. Leurs relations avec Alexis Ier Comnène auraient mérité une étude plus précise, en ce qui concerne le serment exigé par le basileus ou les dons d’argent et d’aide que celui-ci offrait.
Le volume des approvisionnements nécessaires dépend bien sûr du nombre de croisés. À la suite des historiennes et historiens qui l’ont précédé, l’auteur discute les chiffres cités par les chroniqueurs, en acceptant non sans hésitation que l’armée ait compté près de 100 000 hommes lors du siège de Nicée, un maximum dans l’histoire de la croisade. L’aide byzantine décide alors de la victoire. La traversée de l’Anatolie, en terre ennemie, accroît les problèmes de subsistances: le ravitaillement, le fourrage et l’eau manquent et il faut recourir à des pillages systématiques, qui ne cessent qu’à l’arrivée des croisés dans des régions peuplées majoritairement d’Arméniens. L’armée se divise alors: Baudouin et Tancrède partent à la conquête des villes littorales de Cilicie, puis d’Édesse pour le premier, tandis que l’armée principale gagne difficilement Antioche et qu’une flotte anglaise ou byzantine (?) approche de Port Saint-Syméon, à quelques lieues d’Antioche. L’auteur penche pour une synchronisation entre forces terrestres et navales, sans vraiment le prouver.
La perspective d’un long siège pose à nouveau de redoutables problèmes d’approvisionnement. En comptant 60 000 hommes dans l’armée assiégeante et un bon millier de chevaux, l’auteur estime les besoins journaliers à 110 tonnes de grain pour les hommes, à plus de 10 pour les chevaux. Où les trouver? Les flottes nordiques, byzantines et génoises peuvent se fournir en Chypre et aborder à Port Saint-Syméon, mais le manque de charrettes et les attaques musulmanes empêchent la distribution des provisions. La disette s’installe dès la fin de l’année 1097, et ce n’est qu’après avoir construit au printemps 1098 trois fortifications pour empêcher les sorties des assiégés que les croisés peuvent enfin recourir aux ressources locales. Ils s’emparent d’Antioche au début juin, mais l’arrivée de l’armée de Kerbogha, atabeg de Mossoul, les enferme dans la ville et les condamne pendant 26 jours à une famine intense, jusqu’à ce qu’une sortie heureuse les délivre des assiégeants.
De juillet 1098 à mai 1099, les croisés restent sur place à Antioche, dans l’attente d’une aide navale les aidant à progresser vers le sud. Après quelques mois d’approvisionnements, de nouveau, dès l’hiver, la faim les tenaille. Ils effectuent quelques expéditions: conquêtes d’Albara, d’Arqa et de Ma’arrat-an-Numan où ont lieu des scènes de cannibalisme longuement analysées par Michel Rouche dans un article que l’auteur ignore.
Sous la pression des pauvres, les chefs décident au printemps de marcher rapidement vers Jérusalem, en suivant la route côtière, jalonnée de villes qui leur livrent des subsistances pour éviter d’être pillées. Le 7 juin 1099, l’armée arrive devant Jérusalem et doit agir vite sous une chaleur accablante, par manque d’eau et de provisions. Un premier assaut échoue. Une flottille génoise, arrivée à Jaffa, apporte subsistances et matériel de siège qui permettent la prise de la ville sainte le 15 juillet 1099.
Le récit, on le voit, ne s’écarte guère des nombreuses histoires de la première croisade disponibles à ce jour, sauf pour insister sur les difficultés de ravitaillement de l’armée croisée et sur les méthodes employées pour y faire face. Dire que les chefs auraient eu un plan d’action coordonné entre l’avance des troupes et l’arrivée des flottes de secours n’est guère démontré par les textes, et l’insistance de l’auteur sur la discipline et l’ordre imposés par les chefs pour contrôler la fourniture des approvisionnements me paraît bien optimiste, face à une pénurie empreinte de violences que les chroniqueurs évoquent constamment.
L’ouvrage de Gregory Bell n’est pas exempt de maintes imperfections: »Nance« pour Nantes (p. 9), »Turkic« pour Turkish (p. 84 et 90), »Meragone« pour Maragone (p. 152), »Mans et Puy« pour »Le Mans et Le Puy« (p. 159). Les cartes sont trop petites et peu lisibles, celle d’Antioche est mal orientée et contredit les directions indiquées par le texte (p. 126–128). Surtout la quasi-ignorance de toute bibliographie qui ne soit pas anglo-saxonne frappe le lecteur: six ouvrages en français cités, mais aucune mention des actes des deux colloques de Clermont en 1095, ni du livre de Guy Lobrichon; aucun ouvrage allemand, sauf l’étude de Carl Erdmann qui date de 1935, mais ici dans sa traduction anglaise (1977); de même Cardini et Musarra, spécialistes italiens des croisades, sont totalement ignorés. L’histoire des croisades serait-elle désormais une chasse gardée des Anglo-Saxons?
Michel Balard – Paris.
[IF]Mulheres e Caça às Bruxas: da Idade Média aos dias atuais / Silvia Federici
Silvia Federici / Foto: DeliriumNerd /
 Quando ouvimos falar de Silvia Federici, quase sempre lembramos de Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva, publicado pela primeira vez em 2004. No Brasil, foi traduzido pelo Coletivo Sycorax e publicado em 2017 pela editora Elefante. Esse livro, que teve uma ótima recepção, nos apresentou ideias ainda pouco difundidas por aqui. O impacto de Calibã e a Bruxa para o pensamento feminista foi tão grande que levou Federici a receber diversas solicitações para produzir um livro em que revisitasse algumas questões abordadas nele, mas com uma linguagem capaz de atingir um público mais amplo. Tais solicitações, somadas ao desejo da autora de continuar pesquisando aspectos da caça às bruxas, resultou em Mulheres e Caça às bruxas, lançado em 2018 e publicado no Brasil pela editora Boitempo em 2019.
Quando ouvimos falar de Silvia Federici, quase sempre lembramos de Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva, publicado pela primeira vez em 2004. No Brasil, foi traduzido pelo Coletivo Sycorax e publicado em 2017 pela editora Elefante. Esse livro, que teve uma ótima recepção, nos apresentou ideias ainda pouco difundidas por aqui. O impacto de Calibã e a Bruxa para o pensamento feminista foi tão grande que levou Federici a receber diversas solicitações para produzir um livro em que revisitasse algumas questões abordadas nele, mas com uma linguagem capaz de atingir um público mais amplo. Tais solicitações, somadas ao desejo da autora de continuar pesquisando aspectos da caça às bruxas, resultou em Mulheres e Caça às bruxas, lançado em 2018 e publicado no Brasil pela editora Boitempo em 2019.
Mulheres e Caça às bruxas é composto por sete capítulos, divididos em duas partes. Os capítulos são, em sua maioria, edições revistas de artigos e ensaios publicados anteriormente.
Na primeira parte, Federici dialoga mais especificamente com Calibã e a Bruxa, colocando a caça às bruxas dos séculos XVI e XVII na Europa no rol dos processos sociais que prepararam terreno para o surgimento do capitalismo, junto com o comércio escravista e o extermínio dos povos indígenas. Na segunda parte, Federici esboça novas investigações, trazendo para a conversa sociedades contemporâneas e “novas formas de acumulação de capital e caça às bruxas”.
Para a autora, as transformações sofridas pela Europa resultaram em um aumento vertiginoso de práticas misóginas e patriarcais, cujas consequências mais perversas foram a tortura e a morte na fogueira de milhares de mulheres acusadas de bruxaria. Federici tenta explicar como as mulheres passaram a ser vistas como ameaça à nova ordem que se impunha, passando a ser controladas, vigiadas e punidas. Ela aponta os cercamentos das terras a partir do final do século XV, como fundamentais para a compreensão deste processo e afirma que estes, somados ao crescimento das relações monetárias, resultaram em pauperização e exclusão social da população, sendo as mulheres as mais atingidas. Isso ocorre por múltiplos motivos.
As mulheres, que até então viviam em terras comunais, exercendo suas atividades coletivamente e gozando dos direitos consuetudinários, viram a privatização das terras desmantelar os laços comunais e toda uma rede de saberes compartilhados por elas, bem como a maneira como se relacionavam com a terra, a natureza e seus corpos, que nesse processo passam a servir à produção e reprodução da mão de obra. Para garantir a força de trabalho que serviria ao sistema capitalista, as mulheres foram confinadas no trabalho doméstico não remunerado, bem distante do trabalho coletivo praticado anteriormente.
Dessa forma, a autora relaciona a caça às bruxas à necessidade do controle da reprodução e, consequentemente, dos corpos das mulheres. Nesse sentido, é interessante notar que as mulheres mais velhas eram vistas como as mais perigosas e foram as mais perseguidas e mortas em países como a Inglaterra. As idosas, especialmente as sem família, foram as maiores vítimas da miséria e da exclusão social, sendo muito comum que se rebelassem contra essa situação praguejando, furtando, etc. Além disso, as mais velhas eram as grandes portadoras dos saberes sobre a comunidade e a natureza, saberes estes que poderiam “corromper” as mais jovens, ensinando-as sobre controle de natalidade, ervas abortivas e outros conhecimentos proibidos que iam contra as perspectivas das novas normas que pretendiam disciplinar os corpos para o trabalho.
Era preciso arruinar esses conhecimentos “mágicos” e garantir o total controle do Estado e da Igreja sob o comportamento sexual e reprodutivo das mulheres. Isso pressupunha interferir na maneira como elas se relacionavam entre si, estimulando as suspeitas e denúncias. Federici aprofunda o tema ao analisar as mudanças na Inglaterra entre os século XIV e XVIII, do termo “gossip” – equivalente à “fofoca” no português. A palavra, que na Idade Média remetia à amizade e solidariedade entre mulheres, lentamente adquire o significado pejorativo que conhecemos hoje, de conversa fútil, vazia e maledicente. Essa nova conotação é parte simbólica do processo de degradação, desvalorização e demonização das mulheres e dos saberes compartilhados entre elas, sendo a caça às bruxas o ponto alto dessa degradação.
A caça às bruxas é comumente considerada como “coisa do passado”, algo que entrou para o imaginário, sendo abordada em filmes, séries, romances, etc. muitas vezes de maneira folclorizada e estereotipada. No entanto, Federici argumenta que as novas formas de acumulação do capital – envolvendo desapropriação das terras, destruição de laços comunitários, intensificação da exploração e controle dos corpos das mulheres, etc. – vem resultando em uma nova onda de violências, principalmente nos países mais pobres, como da América Latina e África. Essa violência, na verdade, nunca teria cessado e, sim, se normalizado e adquirido outros formatos, como a violência doméstica, por exemplo, tão banalizada ainda hoje.
Entretanto, apesar do crescimento de organizações e lutas feministas no sentido de prevenir essa violência, o que assistimos nas últimas décadas, segundo a autora, ultrapassa a norma. Para ela, o aumento em todo o mundo de agressões, torturas, estupros e assassinatos de mulheres, atingem níveis de brutalidade que só vemos em tempos de guerra. É sobre essa escalada de violências que Federici fala na segunda parte de Mulheres e caça às Bruxas. Ela relaciona essa situação devastadora às novas formas de acumulação de capital e à “globalização”, que nada mais seria do que um “processo político de recolonização” (p. 94) que não pode ser alcançado sem o ataque sistemático às mulheres e seus direitos reprodutivos, especialmente mulheres negras, indígenas, racializadas e migrantes.
Uma das maiores expressões desse recrudescimento da violência contra as mulheres é a “nova” caça às bruxas que ganhou terreno a partir dos anos 80 em algumas regiões do mundo, como na Índia e em alguns países africanos. Federici finaliza seu livro discutindo esse fenômeno, principalmente na África, colocando-o no âmbito do enfraquecimento das economias locais africanas e à desvalorização da posição social das mulheres. Ela relaciona a caça às bruxas atuais com outros elementos de violência contra as mulheres na Índia, México, etc., analisando-os como efeitos da integração forçada das populações, notadamente das mulheres, na economia global, mas também da propensão dos homens de descarregarem nelas, especialmente em suas companheiras, as frustrações econômicas impostas pelo capitalismo, além da crescente presença de igrejas neopentecostais evangelizadoras em algumas regiões.
Por fim, Silvia Federici fala sobre o importante papel do ativismo feminista em relação à crescente violência contra as mulheres no mundo e, mais especificamente à caça às bruxas na África. Ela comenta o silêncio dos movimentos feministas sobre essa situação, que acredita representar um perigo para todas as mulheres, e propõe alternativas de luta. Essa luta, para ela, deve envolver críticas severas e ações contra as agências que criaram as condições para que tais fenômenos se tornassem possíveis, incluindo os governos africanos, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e até as Nações Unidas que, segundo ela “apoiam os direitos das mulheres da boca para fora” (p. 111). A defesa das mulheres, para Federici, são incompatíveis com o apoio e difusão de políticas neoliberais e os feminismos precisam cobrar das instituições que promovem tais políticas e silenciam diante de tamanha violência.
A caça às bruxas não é apenas uma realidade que ficou para trás. Em pleno século XXI, mulheres continuam sendo perseguidas, controladas, violentadas e mortas. Silvia Federici nos ajuda a compreender os processos históricos que geram essas violências ontem e hoje e, assim, barrar seus avanços. Para isso, é preciso manter viva a memória daquelas que perderam a vida e fortalecer as lutas das mulheres pelo fim dessas violências e do sistema que as concebe e reproduz.
Erika Bastos Arantes – Historiadora, mãe e feminista. Professora do departamento de história da UFF de Campos dos Goytacazes, onde coordena o grupo de estudos Gênero, Raça e Classe.
FEDERICI, Silvia. Mulheres e Caça às Bruxas: da Idade Média aos dias atuais. Tradução Heci Regina Cadian. São Paulo: Boitempo, 2019. Resenha de: ARANTES, Erika Bastos. Caça às Bruxas ontem e hoje. Humanas – Pesquisadoras em Rede. 06 jul. 2020. Acessar publicação original [IF].
Sceller et gouverner: Pratiques et représentations du pouvoir des comtesses de Flandre et de Hainaut (XIIIe-XVe Siècles) – JARDOT (APHG)
JARDOT, Lucie. Sceller et gouverner: Pratiques et représentations du pouvoir des comtesses de Flandre et de Hainaut (XIIIe-XVe Siècles). Resenha de: PROVOU, Anne-Frédérique. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) 5 mai. 2020. Disponível em:.<https://www.aphg.fr/Sceller-et-gouverner-pratiques-et-representations-du-pouvoir-des-comtesses-de>Consultado em 11 jan. 2021.
L’objectif de cette riche étude, à la croisée entre histoire des pouvoirs, des genres et des représentations, est de saisir à travers leurs sceaux le pouvoir et le discours des princesses de Flandre et de Hainaut entre le XIIIe et le XVe siècle, soit en tout vingt-et-une princesses, de Marguerite de Constantinople à Marie de Bourgogne (1244-1482). Lucie Jardot a entrepris ce lourd travail, révélant les aspirations et les ambitions de ces femmes, leurs objectifs politiques et le « discours par l’image » (p. 287) qu’elles déployèrent sur leurs sceaux, l’enjeu étant de comprendre comment ces femmes se représentaient elles-mêmes et voyaient leur propre pouvoir, mais aussi qu’elle fut leur pouvoir réel, l’analyse sigillaire venant ici se coupler à une analyse diplomatique pointue, celle des actes et des chartes produits par ces femmes et auxquelles leurs sceaux furent apposés. Il s’agissait aussi de comprendre en quoi l’insertion de ces femmes dans une parentèle, dans une Maison, fut constitutive de leur identité et de leur pouvoir, une identité fluctuante et « plastique » (p. 285) comme le démontre Lucie Jardot, les princesses devenant successivement fille, épouse, mère et veuve et acquérant de facto un pouvoir et un rôle politique différents.
Une telle étude s’inscrit dans plusieurs décennies déjà de travaux sur l’histoire des genres et des femmes, le monde anglo-américain ayant inauguré la recherche en ce domaine, suivi plus tard par les historiens français [2]. Les questions sont multiples : les femmes eurent-elles un pouvoir au Moyen Âge et peut-on parler de pouvoir au féminin au Bas Moyen Âge ? Ces questions, Lucie Jardot entend y répondre en étudiant le cas précis des principautés hainuyère et flamande, où des héritières puissantes et ambitieuses comme Marguerite de Constantinople ou Jacqueline de Bavière revendiquèrent leur pouvoir, ainsi que leur droit à hériter et à gouverner, deux notions profondément liées au Moyen Âge. Un tel sujet s’inscrit donc dans le sillage des recherches sur le queenship et sur l’histoire des femmes de pouvoir, mais aussi du pouvoir des femmes, qui exprimèrent leurs revendications politiques et leur autorité à travers leurs sceaux, objets de métal chargés « d’identifier leur détenteur et de le distinguer », d’être « le support de leur personnalité juridique » (p. 25-26), ainsi que le support d’une mémoire lignagère, le pouvoir de ces femmes ne pouvant être distingué de la Maison (et même des Maisons) auxquelles elles appartenaient. En cela, l’étude proposée ici est également une étude sur l’aristocratie et la noblesse médiévale.
Si l’auteure de ce livre n’est certes pas la première à étudier le pouvoir féminin, elle est l’une des premières à l’étudier à travers les sceaux et les actes que produisirent ces femmes. Si l’histoire des femmes et des genres connaît un renouveau certain depuis une vingtaine d’années en histoire médiévale, la sigillographie elle – et plus largement l’étude des représentations iconographiques – en sont restés les parents pauvres, peu d’études mettant en parallèle ces deux champs de recherche [3]. Ce livre entend remettre à l’honneur un domaine d’étude délaissé, qui a largement souffert de son statut de « science auxiliaire », en étudiant pas moins de 62 types de sceaux et 750 empreintes différentes. Lucie Jardot insiste d’ailleurs sur la nécessité de confronter ces sceaux avec les chartes et les actes auxquels ils furent accolés, si l’on ne veut pas les couper de leur contexte historique et de leurs objectifs politiques réels. Ces sceaux et ces empreintes, dont l’auteure répertoria minutieusement la forme, la couleur et tant d’autres éléments essentiels pour comprendre les codes et les normes qui présidaient à leur création, – ce qui nous révèlent bien des choses sur les pratiques de chancellerie, en pleine évolution au Bas Moyen Âge –, furent comparés également avec leurs homologues masculins, soit les sceaux des pères et époux des princesses hainuyères et flamandes. Les sceaux féminins ne sont compréhensibles en effet que si on les étudie à travers les différents groupes dans lesquels s’insérait l’individu féminin au Moyen Âge : la famille, la « Maison » à laquelle appartenait la princesse, mais aussi le lignage de son époux, le genre féminin enfin, par opposition au genre masculin. Ces comparaisons mettent en avant des normes sigillaires qui s’appliquèrent autant aux hommes qu’aux femmes, de même que des normes plus masculines, dont certaines princesses surent user avec intelligence pour renforcer leur position et leur pouvoir politique et parler d’égal à égal avec les hommes de leur entourage. Ce fut le cas entre autres de Marie de Bourgogne, héritière de la Grande Principauté de Bourgogne qui adopta sur son premier Grand Sceau (1477) un type équestre qui était passé de mode pour les femmes depuis le XIIIe siècle et qui n’était plus guère utilisé que par les hommes. Un tel choix en faisait l’égale de son époux, Maximilien de Habsbourg, petit prince autrichien, mais aussi et surtout du roi de France Louis XI, désireux de s’emparer du large héritage de sa filleule ; il lui permettait aussi de s’affirmer comme la digne héritière des ducs de Bourgogne, en reprenant les pratiques de chancellerie et les pratiques sigillaires de ses ancêtres masculins, s’opposant là encore aux ambitions du roi de France. Les princesses hainuyères et flamandes usèrent ainsi des types et des normes sigillaires pour s’inscrire dans un groupe, tout en se réappropriant ces normes, ainsi que les emblèmes de leurs ancêtres féminins et masculins, pour affirmer un message politique propre et s’inscrire dans une lignée qui n’était pas toujours celle de l’époux, mais parfois aussi celle du père (chapitres IV et VI).
L’auteure insiste d’ailleurs sur la nécessité de ne pas distinguer trop frontalement les pratiques gouvernementales masculines et féminines, afin de cesser d’envisager le pouvoir féminin comme une « anomalie », erreur dont ont déjà trop souffert les travaux des chercheurs. Le pouvoir de ces princesses n’était certes pas la solution rêvée pour des lignées qui préféraient trouver, pour assurer leur survie, un héritier masculin, mais leur capacité à hériter et leur insertion dans une lignée assuraient à ces femmes un droit à gouverner qui restait une solution parfaitement concevable et envisageable au Moyen Âge, dans le cas où aucune autre voie n’était possible. C’était en somme, dans un monde patriarcal, une solution de dernier recours, mais une solution tout de même, d’autant plus que les mères pouvaient être amenées à jouer le rôle de médiatrices entre le père décédé et le fils, trop jeune encore pour gouverner, constat qui amène Lucie Jardot à souligner le « caractère temporaire » de ces « règnes féminins » (p. 285). Les princesses de Hainaut et de Flandre ne gouvernèrent pas uniquement donc dans l’ombre de leur époux et sous leur tutelle, l’auteure insistant sur le pouvoir effectif de ces femmes qui, en ce qu’elles surent « manipuler un certain nombre de signes » en inventant des sceaux, des gisants et d’autres outils iconographiques censés les représenter elles et leur pouvoir, ont assurément gouverné. Si les femmes d’ailleurs sont aptes à gouverner au Moyen Âge, c’est parce qu’elles sont avant tout des héritières et les princesses surent mettre en avant ce statut dans leurs sceaux, réemployant des normes sigillaires mais sachant aussi les détourner à leur avantage pour transmettre un message politique précis, comme le fit Marie de Bourgogne en 1477. Pensons aussi à Jacqueline de Bavière qui, pour revendiquer des principautés menacées par son cousin Philippe le Bon, prit soin de faire figurer sur plusieurs de ses sceaux des symboles rappelant la puissance de la lignée dont elle était issue, la famille des Wittelsbach (chapitre VI). Le caractère et la personnalité de ces femmes, ainsi que le contexte politique et dynastique dans lequel elles s’inscrivirent, permettent d’expliquer des comportements sigillaires et diplomatiques originaux, révélateurs de leurs ambitions et de leur pouvoir réel.
Quelles sont les conclusions donc de cet ouvrage ? Sans gâter le plaisir du futur lecteur, retraçons-en les grandes lignes : le passage du sceau en navette (aussi appelé sceau en pied) au sceau armorial est très révélateur selon Lucie Jardot de l’évolution du pouvoir des princesses hainuyères et flamandes, mais aussi de l’évolution de leur statut (statut d’héritière, de femme mariée, de mère ou encore de veuve). Ce passage se fit dans le courant du XIVe siècle, le décor architectural, caractéristique des sceaux en navette, se muant en un support héraldique, un constat valable pour les princesses françaises en général, mais particulièrement parlant dans le cas des princesses flamandes. Pensons notamment à Marguerite de Flandre, épouse de Louis de Male et fille de Philippe V de France : le choix des sceaux armoriaux n’était pas anodin, puisqu’ils permettaient de mettre en avant les terres et héritages des princesses flamandes, à une époque où leurs possessions ne cessèrent d’augmenter – Marguerite de Flandre acquit notamment en 1461 le comté d’Artois et le comté de Bourgogne, ainsi que la seigneurie de Salins –. Les princesses ont ainsi mis en avant, à travers cette nouvelle mode sigillaire, leur statut d’héritières, au détriment de leurs autres statuts. Les sceaux donnaient à voir l’alliance par le mariage entre deux familles, facteur de pacification, en même temps que les terres que l’union permettait de regrouper, ce qui est tout à fait révélateur dans un monde où posséder des terres, c’est être puissant. Pour Lucie Jardot, le passage au sceau armorial traduit ainsi « une essentialisation de la place des femmes considérées […] comme des vecteurs de paix », des femmes qui devaient garantir, en se mariant, la survie d’une lignée, que ce soit sur le plan dynastique ou mémoriel, les sceaux mettant en avant la memoria de la Maison et le rôle essentiel des femmes dans ce domaine.
Lucie Jardot insiste aussi, on l’a vu, sur le fait que le pouvoir féminin ne constituait pas une anomalie au Moyen Âge : désireuse de l’envisager sous un jour plus positif, l’auteure rappelle que ces femmes ont bien été des femmes de pouvoir, leurs sceaux et leurs actes le démontrant, même si ce fut souvent dans un cadre et pour un temps limité. Il ne faut pas en effet se méprendre : si certaines princesses à la personnalité forte surent s’affirmer, profitant d’un contexte politique et dynastique favorable, la plupart des princesses hainuyères et flamandes n’exercent un pouvoir que par procuration de leur époux, profitant comme dans le cas de la Grande Principauté de Bourgogne de l’immensité d’un territoire difficile à administrer pour un seul homme, le duc requérant ainsi l’aide de son épouse pour le seconder (chapitre VI). Au XVe siècle, la position des princesses hainuyères et flamandes sur l’échiquier politique devint plus complexe encore : il semble de moins en moins évident de leur confier le pouvoir, les mœurs politiques ayant changé et entrainant une forte masculinisation du pouvoir, dont témoigne l’élaboration à la même époque de la loi salique. Les sceaux, dans ce contexte particulier, ont pu se révéler une arme précieuse dont Jacqueline de Bavière et Marie de Bourgogne surent user, même si elle ne leur permit pas de remporter la bataille finale. Le caractère de plus en plus « affirmatif » des sceaux féminins laisse d’ailleurs deviner une perte de pouvoir des princesses hainuyères et flamandes. Paradoxalement donc, Jacqueline de Bavière et Marie de Bourgogne sont à la fois le témoignage de l’ambition politique que pouvaient avoir ces femmes, autant que le témoignage de leur faiblesse nouvelle, sur un échiquier politique dont les règles étaient en train de changer.
L’étude présentée ici reste encore à achever selon Lucie Jardot, l’ensemble des objets représentatifs du pouvoir féminin en Hainaut et en Flandre n’ayant pu être étudiés dans ce seul livre. Il resterait encore notamment à analyser les représentations produites par le mécénat artistique et littéraire de ces femmes, des œuvres révélatrices elles aussi de leur pouvoir, symbolique et réel.
Un lien vers le podcast Passion médiévistes
Notes
[2] Nous revenons ici sur les travaux français, même si cette liste n’a pas pour objectif d’être exhaustive. Georges Duby et Régine Le Jan figurent parmi les premiers à s’être penchés sur le sujet en France : voir G. DUBY, Mâle Moyen Âge. De l’amour et autres essais, Paris, Flammarion, 1988 et R. LE JAN, « L’épouse du comte du IXe au XIe siècle : transformation d’un modèle et idéologie du pouvoir », dans Femmes, pouvoir et société dans le Haut Moyen Âge, S. Lebecq, R. Le Jan, A. Dierkens et J. M. Sansterre (dir.), Paris, Picard, 2001, p. 65-74. Depuis ces premiers travaux, plusieurs chercheurs ont insisté sur le fait qu’on ne pouvait plus concevoir le pouvoir au Moyen Âge sans étudier celui des femmes. Voir plus particulièrement A. NAYT-DUBOIS et E. SANTINELLI (dir.), Femmes de pouvoir et pouvoir des femmes dans l’Occident médiéval et moderne, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2009 et E. BOUSMAR, J. DUMONT et A. MARCHANDISSE (dir.), Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance, Bruxelles, De Boeck, 2012. Nous renvoyons à l’introduction de l’ouvrage de Lucie Jardot, p. 19-23, pour un développement historiographique plus complet sur ce sujet. [3] Brigitte Bedos-Rezak et Jean-Luc Chassel ont étudié la sigillographie féminine, mais leurs entreprises restent isolées. Voir à ce sujet B. BEDOS-REZAK, « Women, seals and power in medieval France (1150-1350) », dans Women and Power in the Middle Ages, M. Erler et M. Kovaleski (dir.), Athènes-Londres, University of Georgia Press, 1988, p. 61-82 et J. L. CHASSEL, « Le nom et les armes : la matrilinéarité dans la parenté aristocratique du second Moyen Âge », Droit et cultures, n° 64, 2012.Disponible en ligne : https://journals.openedition.org/dr…
Anne-Frédérique Provou – Etudiante en master d’histoire du Moyen Age, Université de Lille.
[IF]El continente vacío. La conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna – SUBIRATS (A-EN)
SUBIRATS, Eduardo. El continente vacío. La conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna. Guadalajara: Editora da Universidad de Guadalajara, 2019. Resenha de SUBIRATS, Eduardo. An intellectual journey through the Americas. Notes on El Continente Vacío. Alea, Rio de Janeiro, v.22 n.1, jan./apr. 2020.
Quiero contarles la historia sumaria de El continente vacío aprovechando su edición este año de 2019 por la Universidad de Guadalajara, México. Tratándose de un libro altamente polémico de análisis filosófico de la “conquista” española de América presentar esta cuarta edición no es un evento cualquiera. La primera, publicada en Madrid en 1993, fue destruida por la propia editorial que la publicó después de que capital ligado a la Iglesia católica española la adquiriese, destituyendo a su director Mario Muchnik. La segunda edición fue publicada, unos meses más tarde, por la editorial mexicana Siglo XXI. Su director rechazó una reedición por motivos ideológicos. La tercera edición aumentada fue publicada por la Universidad del Valle en Cali, Colombia, en 2011.
Pero también deseo aprovechar esta ocasión para explicarles lo que me indujo a escribir este libro en 1988. También deseo contarles mis andanzas por las Américas que siguieron a la primera presentación de este ensayo de interpretación del colonialismo europeo en un Madrid que celebraba el V Centenario de un Descubrimiento de América para ocultarse el continuo proceso de destrucción y decadencia de los pueblos y las civilizaciones del continente americano y de la propia metrópoli que este llamado “descubrimiento” ha traído consigo.
Yo decidí estudiar y escribir sobre el proceso de colonización de América en uno de los muchos viajes a México que entonces realizaba como joven conferenciante, profesor de estética y autor de complicados ensayos filosóficos. Llevaba tiempo vagando y morando entre New York y Cusco, Buenos Aires y Manaos, São Paulo y La Habana. A lo largo de estos viajes me iba distanciando de mis años de aprendizaje en Barcelona, París y Berlín. Yo iba ampliando el horizonte de mi conciencia. Y lo que era más importante: iba reconociendo progresivamente los límites intelectuales y las riendas mentales de una arrogante, pero decadente, conciencia europea. Y un bello día, en el Zócalo de la ciudad de México, me dije: tienes que hacer algo con esos años de aventuras y experiencias en las Américas.
Decidí comenzar por el origen y el principio del nombre y la realidad histórica de estas Américas. Es decir, decidí empezar por el largo proceso de su descubrimiento, conquista, destrucción, sometimiento y conversión, que los estructuralistas franceses habían escamoteado bajo el anodino título de una “invención de América”. El continente vacío nació de una voluntad de analizar la colonización americana a partir de sus fundamentos teológicos y teológico-políticos.
Les contaré un par de anécdotas chuscas que ponen de manifiesto el ambiente que me asediaba en el Madrid del Centenario. Un bello día, en una fiesta madrileña que ofrecía el editor de la primera edición de este libro, Mario Muchnik, la entonces ministra de educación del gobierno socialista español me espetó con una inconfundible insolencia: “¡Usted ha escrito un libro terrible, Sr. Subirats!” Meses más tarde el editor fue defenestrado y destituido. Y una de sus consecuencias fue que mi libro se liquidó por “no vender”, de acuerdo con el veredicto de los nuevos propietarios de la editorial Anaya vinculados a corporaciones nacional-católicas. Todo ese proceso estaba empañado, además, por un resentimiento antisemítico.
Este mismo año tuvo lugar la solemne presentación de la edición mexicana en la Universidad Autónoma de México bajo la presidencia de dos destacados intelectuales mexicanos: Margo Glantz y Roger Bartra. Les mencionaré uno de los temas que se debatieron en esta ocasión. Margo subrayó el punto de partida implícito en el Continente vacío: las destruidas tradiciones espirituales islámicas y hebreas de la Península ibérica. Sólo esta perspectiva histórica permite comprender el proceso colonial americano, que el intelectual judío Bartolomé Casaus o de Las Casas denominó “destruycion de las Indias”, desde sus raíces constituyentes: su principio de guerra santa cristiana y su ferocidad genocida. En otras palabras, reconstruí la eliminación sistemática de dioses, templos, ciudades y vidas, de Tenochtitlán a Cusco, a partir de las cruzadas contra las memorias, las lenguas y los pueblos hebreos e islámicos de la península ibérica.
Les contaré todavía otra anécdota que personalmente me parece curiosa. Apenas comenzando mi nueva vida estadounidense en la Universidad de Princeton, en 1994, entregué un ejemplar de El continente vacío a Princeton University Press con el objeto de su edición inglesa. Lo leyeron atentamente e hicieron elogios de su scholarship, pero dijeron que no podían publicarlo porque citaba a demasiados autores latinoamericanos, de Garcilaso y Las Casas a Bonfil Batalla, que sólo conocían aquellos lectores de habla castellana ya familiarizados con la edición mexicana del Continente vacío. Además, me señalaron explícitamente en una carta que mi punto de vista era eurocéntrico, porque partía de la lógica de las cruzadas y de la teología política del Imperio Romano y Cristiano.
No tengo que subrayarles mi opinión sobre semejante veredicto. Pero añadiré que la ignorancia y la falsificación del proceso colonial de Ibero-América sigue siendo amparado, si más no por simple omisión, limitación y pereza intelectuales, por el eje militar del Atlántico Norte en las más significativas instituciones académicas y editoriales de Berlín, Princeton o Madrid: hoy lo mismo que en el siglo dieciséis.
Con eso creo que ya puedo dar por explicado de qué trata este libro. Es la reconstrucción de la teología política de la colonización que recorre las cartas de San Pablo y los tratados de Las Casas; que recorre la destrucción sistemática de lenguas, memorias y espiritualidades a lo largo del continente americano; y que recorre la esclavitud y el genocidio de millones de seres humanos como una de sus últimas consecuencias. Pero tengo que añadir un breve comentario a esta definición minimalista del proyecto que subyace a este ensayo.
En El continente vacío seguí al pie de la letra el mantra que pronuncio el Inca Garcilaso en sus Comentarios reales: América, antes destruida que conocida y reconocida por el Occidente cristiano. Por consiguiente, decidí reconstruir la teología de la destrucción y definir la hermenéutica de restauración de las memorias y el esclarecimiento de la noche oscura de las sucesivas cruzadas de las Américas. Lo que quiere decir que es tan importante la primera parte de El continente vacío, en la que analizo desde una perspectiva netamente negativa la teología de la sujeción y subjetivación coloniales, como su segunda parte, que es afirmativa. En esta segunda parte pongo de manifiesto un vínculo ocultado entre el Inca Garcilaso y el filósofo sefardí Leone Ebreo, y señalo la alternativa hermenéutica y el nuevo humanismo que se desprende de este encuentro espiritual desde una perspectiva rigurosamente filosófica y precisamente actual; una perspectiva explícitamente crítica con la lógica del suicidio instaurado en los poderes corporativos globales.
Pero les iba a contar la historia del viaje filosófico por las Américas que siguió a la realización de este libro, y me he quedado en México. El siguiente paso, después de México, me llevó a los Estados Unidos. Y en el departamento de Literaturas Romances de Princeton University me encontré con la memoria viva de dos profesores exiliados de la dictadura española de 1939: Américo Castro y Vicente Lloréns. El título del libro que resume esta nueva aventura intelectual es Memoria y exilio, que, en su segunda edición aumentada y revisada, modifique por el de La recuperación de la memoria. En realidad, la colección de ensayos que reúnen estos libros tratan de ser ambas cosas: define la memoria exiliada como una constante del nacionalcatolicismo español hasta el día de hoy; asimismo expone una estrategia de recuperación de estas memorias impunemente negadas y clausuradas desde el siglo de la Inquisición hasta la era de Internet.
Un libro es la continuación del otro. La reconstrucción de la teología colonial en El continente vacío se abre, en Memoria y exilio, a la crítica del absolutismo monárquico, de la arrogancia nacional-católica y de los excesos doctrinarios en la historiografía moderna de la Península Ibérica e Iberoamérica. Y el análisis de la destrucción colonial de las altas civilizaciones americanas desemboca, como su última consecuencia, en una crítica de las culturas de América Latina perenemente sometidas al atraso moral, económico y político, y a la continuidad sin fisuras de las dependencias coloniales y neocoloniales. El mundo hispánico no ha tenido humanistas (los que lo fueron eran, en su mayoría, conversos, como Luis de León o los hermanos Valdés, y fueron encarcelados y exiliados, cuando no torturados y asesinados por la Inquisición). Este pequeño mundo hispánico tampoco ha tenido un pensamiento esclarecedor (los llamados “ilustrados” nunca cuestionaron el sistema autoritario que recorría la tradición escolástica ni la autoridad de la Inquisición en el Siecle des lumières); no ha conocido el liberalismo moderno (fue asesinado o exiliado con la restauración Borbónica a comienzos del siglo diecinueve); y ha cerrado sus puertas a la construcción de un pensamiento crítico en las situaciones cruciales del siglo veinte. Esos son los problemas que debatí en Memoria y exilio.
Pero quiero regresar al relato de mis viajes panamericanos. Y cerraré esta brevísima relación con un tercera y última estación. La titulé Paraíso. Esta colección de ensayos posee múltiples ediciones con títulos ligeramente diferentes, desde una optimista A penúltima visão do Paraíso, publicado en São Paulo en 2001, hasta la más sobria visión en su edición electrónica bajo el título escueto de Paraíso, en el Fondo de Cultura Económica, de 2013.
Paraíso es un cuaderno de viaje intelectual. Y, por consiguiente, es un libro más versátil que versado. Más bien me parece una rapsodia de los motivos y las motivaciones que encontraba en mi camino, guiado por la mano de andanzas y aventuras fortuitas. Y es, con todas sus torpezas, un libro de encuentros con arquitectos como Oscar Niemeyer o Lina Bo Bardi, con artistas y poetas populares, con manifiestos de la música, la pintura, la poesía y la literatura americana como los de Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Villa Lobos y Mário de Andrade. Y un libro que me abrió las puertas a los estudios posteriores sobre momentos cruciales de la cultura latinoamericana moderna como el Muralismo mexicano o Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos.
Permítanme concluir con unas palabras sobre el concepto de esclarecimiento. Su importancia en la historia moderna no puede subrayarse lo suficiente. Sin esclarecimiento no habría existido la Independencia de los Estados Unidos ni la Revolución francesa. Sin esclarecimiento tampoco hubiera tenido lugar la independencia de las naciones iberoamericanas, con todas las ambigüedades que esta translatio imperii de la escolástica y la contrarreforma españolas al esclarecimiento de Francia, los Países Bajos, Inglaterra o Alemania ha llevado consigo. Sin esclarecimiento no existirían joyas arquitectónicas y artísticas como la ciudad de San Petersburgo. Sin esclarecimiento no tendríamos una Novena Sinfonía de Beethoven. Tampoco podríamos contar con la crítica del capitalismo de Marx y la crítica del cristianismo de Nietzsche. En fin, sin esclarecimiento seriamos capaces de citar la máxima por excelencia del psicoanálisis de Freud y Jung: “Donde era Ello debe devenir Yo”, o más exactamente, donde reinaba lo inconsciente debe venir el proceso luminoso de la individuación autoconsciente. Esclarecimiento es también la finalidad suprema de la meditación en sus formas védicas, tántricas, budistas y taoístas. Y sin esclarecimiento no tendríamos el canto prometeico a un desarrollo humano en el medio de una tierra fecunda que Diego Rivera plasmó en los murales de la ex-iglesia católica de Chapingo.
A lo largo de los últimos años he organizado una serie de eventos con otros intelectuales de las Américas en torno a la idea de “esclarecimiento en una edad de destrucción”. Hemos tratado de redefinir el concepto filosófico, educativo y político de esclarecimiento desde una serie de perspectivas diferenciadas, tanto filosóficas como pragmáticas, en Sofía, Ouro Preto, Bogotá y Lima, y en New York y Santiago de Chile. Y hemos hecho público este último proyecto a lo largo de una serie de ensayos y artículos. Finalmente, también cristalizamos estas discusiones en un libro colectivo: Enlightenment in an Age of Destruction (“Esclarecimiento en una edad de destrucción”)
Pero antes de definir el significante esclarecimiento o enlightenment tengo que explicar el concepto de destrucción. Hoy vivimos amenazados bajo una gama amplia de fenómenos industriales que tienen a esta destrucción o autodestrucción como denominador común: la carrera armamentista del complejo tecnológico-industrial-militar, el envenenamiento químico de ecosistemas y el calentamiento global, y no en último lugar, los desplazamientos y el encierro en campos de concentración de decenas de millones de humanos. Paralelamente nos confrontamos con una serie de fenómenos de fragmentación política, segregación social y violencia. Y nos enfrentamos con sistemas electrónicos de manipulación y control corporativos totales sobre la vida individual de centenares de millones.
En cuanto al concepto de esclarecimiento podemos definirlo, negativamente, por lo que no es. En primer lugar, esclarecimiento no significa “ilustración”, una palabra castellana que define el lustre y el brillo de la ciudad letrada hispánica como epítome del eterno anti-esclarecimiento nacional-católico español. En segundo lugar, esclarecimiento no significa información; ni tampoco la robotización de esta información por los softwares académicos. Su fundamento es la experiencia individual de conocimiento y las posibilidades de un diálogo público sobre nuestra experiencia en el mundo. Este diálogo social esclarecedor parte de una premisa: el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales y, por consiguiente, de los sistemas, discursos y estrategias educativas.
Nuestros sistemas educativos, en México, en Brasil o en la Península ibérica se encuentran en un estado ruinoso perfectamente administrado a través de sus salarios miserables, sus deplorables medios técnicos, la escasez de becas, y unas alternativas laborales y sociales mediocres. En los Estados Unidos las humanidades se desmoronan ostensiblemente bajo el dogmatismo antihumanista, antiestético y antifilosófico de las corporaciones académicas. Por encima de todo ello el intelectual independiente capaz de criticar, esclarecer y movilizar a una masa electrónicamente embrutecida brilla por su más obscena ausencia. Las tiranías y gobiernos corruptos dan por sentado que no es necesario investigar, ni pensar, ni esclarecer, puesto que ya tenemos smartphones.
La reivindicación del esclarecimiento y la renovación de su proyecto intelectual, referido específicamente a América Latina en la constelación del colapso completo de sus organizaciones de resistencia anticolonial, es el hilo de oro que recorre mi último ensayo Crisis y crítica. Con este proyecto, que significa revertir el proceso de regresión política y decadencia cultural impuesto por nuevas formas totalitarias de gobierno en el mundo entero, deseo poner punto final a esta presentación. A semejante tarea nos debemos todos nosotros.
Eduardo Subirats. Autor de El continente vacío, Mito y Literatura, Paraíso, La existencia sitiada, entre otras decenas de libros y ensayos. Ha vivido en España, México, Brasil y en los Estados Unidos, donde fue profesor de la Universidad de Princeton. Trabaja actualmente en la New York University. E-mail: eduardosubirats@msn.com.
[IF]
The medieval invention of travel – LEGASSIE (Ge)
Shayne Aaron Legassie. https://timetoeatthedogs.com/
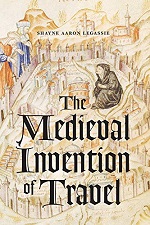 LEGASSIE Shayne Aaron (Aut), The medieval invention of travel (T), University of Chigago Press (E), SANTOS Guilherme Maximiano Ferreira (Res), PEREIRA Luiza Souza (Res), SILVA Tainara do Carmo Lopes da (Res), Geografias (Ge), Literatura medieval, Europa (L), Século 13 (P), Século 14 (P), Século 15 (P), Viagens, Comparação
LEGASSIE Shayne Aaron (Aut), The medieval invention of travel (T), University of Chigago Press (E), SANTOS Guilherme Maximiano Ferreira (Res), PEREIRA Luiza Souza (Res), SILVA Tainara do Carmo Lopes da (Res), Geografias (Ge), Literatura medieval, Europa (L), Século 13 (P), Século 14 (P), Século 15 (P), Viagens, Comparação
LEGASSIE, Shayne Aaron. The medieval invention of travel. [Chicago]: University of Chigago Press, 2017. Resenha de: SANTOS, Guilherme Maximiano Ferreira; PEREIRA, Luiza Souza; SILVA, Tainara do Carmo Lopes da. Revista Geografias, v.28, n.1, 2020.
The Medieval Invention of Travel é o primeiro livro publicado por Shayne Aaron Legassie que não seja em parceria com outro autor e foi lançado em 2017 pela University of Chicago Press. Legassie é professor associado ao Department of English and Comparative Literature na Universidade da Carolina do Norte (UNC). Seus interesses de pesquisa incidem, predominantemente, sobre literatura medieval, a história da Europa na Idade Média, os estudos mediterrâneos e os escritos de viagem. Tal trajetória lhe garante um forte poder comparativo dos diferentes textos literários escritos sobre viagens durante o período entre 1200 e 1500.
O livro se desenrola nesses três séculos de intensa mobilidade humana, cujos deslocamentos cosmopolitas medievais, entre a Europa, a Ásia e a África, cruzam os espaços dessa economia-mundo nascente (BRAUDEL, 1987). A partir do período selecionado, poder-se falar de uma “invenção” (p.8-9) medieval da viagem como etapa provedora de uma literatura idealizadora da subjetividade do viajante a partir do penoso trabalho físico que ele empreende nessas peregrinações.
As viagens medievais desempenharam um papel fundamental nas práticas letradas europeias e na compreensão dessas como elevadoras de status social, pelo trabalho (travail) – viagem (travel). 1 Além disso, originou novos métodos de escrita de romances baseados na investigação geo-etnográfica. É por esses motivos que o título escolhido para o livro busca atribuir um novo sentido ao significado de viagem, com a escolha da palavra “invenção” e mostrando o papel da literatura na formação e racionalização dos novos modos de viagens e subjetividades emergentes.
No decorrer da escrita, o autor aborda as diferentes intenções das viagens medievais, que se caracterizam por motivos religiosos, por razões de relações comerciais e por encontros diplomáticos. Ele também apresenta os escritores de viagens do período, que moldaram os aspectos e os valores inseridos nos relatos das viagens europeias. Por fim, discute as diferentes formas de escrita da viagem utilizadas no gênero de literatura de viagens.
Em sua metodologia, o autor se apoia na literatura comparada, tratando de realizar um esforço de estilo ensaístico a respeito das diferentes obras dos viajantes. No recorte de tempo determinado por Legassie, ocorreram inúmeros processos históricos que dão contornos ao contexto: as cruzadas na Idade Média, as tentativas de expansão dos impérios medievais dominantes, os conflitos religiosos, as peregrinações e o próprio surgimento do capitalismo. Estes processos contribuíram para uma divisão do espaço e do tempo que permite construir uma evolução e diversos estágios da viagem sem que se possa dizer que um estilo supere o outro. No primeiro período da era medieval, há uma primeira aproximação do significado de viagem como sinônimo de dor e sofrimento; no segundo momento, há a construção de um olhar sobre a viagem que a enxerga como oportunidade de ser relatada e vista, como algo a ser enaltecido; por fim, em um terceiro momento, vê-se a possibilidade de transmitir informações entre o lugar de origem do viajante e o resto do mundo.
A partir desse contexto geral, Legassie vai se aprofundar nas relações específicas que estão presentes no decorrer do livro por meio dos diferentes lugares visitados. Ele organiza a estrutura do livro em três partes: viagens ao leste da Ásia (parte I – “Subjectivity, Authority, and the Exotic”), viagens à Terra Santa (parte II – “Pilgrimage as literate work”) e àquelas que estão no caminho entre Europa e Mediterrâneo (parte III – “Discovering the proximate”). Em sua narrativa, ele traz relatos de peregrinos e viajantes diplomáticos da Idade Média, sendo alguns deles Marco Polo, Felix Fabri e Francisco Petrarca2.
A primeira parte, denominada de “Subjectivity, Authority, and the Exotic”, aborda as viagens que partem da Europa ao Leste da Ásia. Legassie debate questões geoetnográficas nas experiências dos viajantes, bem como a forma que essas experiências influenciaram na produção de escritos sobre viagens, como as descrições de Marco Polo sobre Ásia e o Império Mongol. Além disso, fala sobre o papel adquirido pela autoridade clerical e pelos escritores dessas viagens como sumos sacerdotes, que, em alguns casos, após realizarem suas viagens, voltavam como “especialistas de longa distância” (p.22) devido ao conhecimento adquirido nos destinos. Grande parte das viagens na Idade Média eram motivadas por necessidades que se relacionavam às intenções religiosas pela libertação dos pecados ou, como é reconhecido na contemporaneidade, por turismo religioso.
Diferentemente da atualidade, porém, a viagem na era medieval era árdua e penosa, com extenso caminho a percorrer e que colocava em risco a própria vida do viajante. Por isso, não era vista como um momento de lazer. Eram viagens tratadas como um trabalho, ou seja, uma negação ao ócio.
No capítulo 1, intitulado “Exoticism as the appropriation of travail”, o autor aborda os relatos de William of Rubruck (1215 – 1295) e Marco Polo (1254 – 1324). O primeiro era um monge franciscano, missionário e responsável por escritos de viagens à Ásia. O segundo era um mercador e viajante italiano que deixou registros sobre sua viagem à China e às outras regiões da Ásia. Legassie demonstra que as experiências contidas nessas obras reforçam uma posição ideológica em relação ao exotismo, que ele define como “um modo de esteticismo politicamente orientado, que na Idade Média foi fundado na apropriação simbólica do trabalho do viajante.”3 (p.13). Além disso, seus estilos revelam uma “economia de prestígio do conhecimento da longa distância” (p.22) pois é relativa ao conhecimento dos lugares distantes como expressão de um maior status ao viajante. Com efeito, essa forma de economia refere-se a um conjunto de práticas materiais e experiências subjetivas que permitiram às pessoas obter vantagens sociais, políticas e econômicas através da sua relação com o estrangeiro. Mesmo que outras abordagens compreendam que esta emergente economia de prestígio esteja posta como uma repetição excessiva (KYNAN-WILSON, 2019), se o autor o faz, é para situar ou qualificar a economia de bens simbólicos do período abordado.
No capítulo 2, nomeado por “Travail and authority in the forgotten age of discovery”, são analisados os escritos de John of Plano Carpini (1180 – 1252), um franciscano e explorador italiano; Odoric of Pordenone (1286 – 1331), um frade franciscano e missionário italiano; e John Mandeville (século XIV), suposto4 autor de uma coleção de histórias de viajantes. Esses escritos recorrem às dificuldades da viagem para reforçar a credibilidade autoral sobre os textos, ou seja, o peso probatório da verdade de seus escritos e de testemunho oficial da Igreja. A leitura desses escritos por outras pessoas está sujeita ao poder persuasivo da veracidade dos relatos através da personalidade impregnada e transmitida pelo autor através do texto. Paralelamente, o autor faz uma refutação da ideia de que o período medieval tem seus contornos fixos e ditados somente por autores da antiguidade, como Aristóteles, Cícero e Agostinho. Ao contrário, o autor aponta as contribuições da Idade Média aos avanços do conhecimento territorial, sendo esse um aspecto importante que deve ser ressaltado pela historiografia e que pode retirar o período do esquecimento.
De modo geral, a segunda parte do livro de Legassie intitulada “Pilgrimage as literate work” aborda o caminho percorrido pelo teólogo e padre Felix Fabri5 (1441 – 1502), que entende a peregrinação como um exercício de memória. Esse trabalho tratou-se de um exercício da memória pois, no ato do deslocamento da viagem, os viajantes que seguiram o modelo de Fabri utilizavam-se de ferramentas6 para fins de registros, que permitiam aos demais peregrinos lembrar posteriormente de suas viagens, tendo em vista que alguns viajantes que não exercitavam isso estavam sujeitos a desaprender o que a viagem os ensinou.
A peregrinação a Jerusalém era uma forma dos devotos provarem sua fé através do deslocamento. Entretanto, não bastava exercer o ato de deslocar-se para a Terra Santa, era preciso aguçar a mente com exercícios de memória e a utilização de técnicas para o registro do que os viajantes viram e sentiram. Com isso, no capítulo 3, “Memory of work and the labor of writing”, e no capitulo 4, “The Pilgrim as a investigator”, encontramos os relatos desses processos ocorridos na peregrinação. O terceiro capítulo abrange uma discussão sobre a tradição sintética, que se baseava, na época, em produzir um escrito sintético sobre as viagens realizadas, havendo a possibilidade de não deslocar-se para vivenciar a viagem, tratando-se de uma espécie de viagem em imaginação (alguns indivíduos tinham repulsa por vivenciar todos os males do deslocamento). Os escritores da tradição sintética foram responsáveis pela produção e pela formação pictórica dos locais por onde passavam os viajantes em campo. Dessa forma, seus escritos eram admirados na terra natal.
Com isso, os peregrinos, a partir da virada do século XIII, iniciam uma escrita descritiva das memórias para fins de leitura meditativa. Já no capítulo seguinte, o autor mostra como essas produções tornavam-se escritas reformuladas, uma visão crítica e um instrumento de investigação.
A terceira parte, intitulada “Discovering the proximate”, reúne os autores encarregados em viagens pela Europa e pelo Mediterrâneo, destacando-se o poeta italiano Francisco Petrarca (1304-1374) e o cavaleiro de Castela Pero Tafur (ca. 1410-ca. 1487).
Nessa sequência, ganham forma mais contundente os argumentos apresentados no prefácio do livro nos capítulos 5 e 6, questionando a posição de Joan-Pau Rubiés que sustentou a hipótese, em obra anterior7, quanto à uma relativa estagnação dos escritos de viagem no período contido entre 1350 e 1492. Ao contrário, Legassie assegura que, após 1350, surgem muitos novos relatos que são frutos de viagens de curta distância. Assim, antecedem as posteriores conquistas do “Novo Mundo” (p.167), e, ao contrário de serem desprovidas de importância, exerceram grande influência na vida intelectual e cultural para a emergência do mundo moderno europeu em formação.
Ainda nessa parte do livro, Legassie pontua as precisas descrições de Petrarca e Tafur em que eles elevam ao público europeu a condição de seus países de origem. Os largos projetos autobibliográficos e protonacionalistas dos viajantes estreitam a aproximação de territórios europeus a partir das missões políticas empreendidas por eles. Para o autor, os questionamentos levantados por Petrarca acerca dos benefícios e das dificuldades da viagem assemelhavam-se à tradição sintética. A viagem, no caso do poeta italiano, correspondia a um trabalho de construção pessoal identitária e ética8 e a um comprometimento com a descoberta geo-etnográfica. Igualmente, o sentido da viagem para Tafur era visto como uma vantagem política que ele possuía por conhecer os costumes de reinos distantes. Para Legassie, a postura desses autores foi compreensivelmente comparada aos valores inerentes ao Grand Tour9.
Os relatos recolhidos pelo autor, permitem demonstrar a visão europeia de mundo e os mecanismos pelos quais a Europa começa a compor e apropriar-se intelectualmente de um novo mundo que nascia das entranhas do feudalismo e da Idade Média através das viagens, com a ascensão de uma nova ordem econômica – o capitalismo.
Vale lembrar que Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein juntos situam o nascimento do capitalismo no século XIV (BRAUDEL, 1987; WALLERSTEIN, 1979).
Ainda que este seja um processo que se desenrola em seus primórdios, é também por meio da escrita que começa a se estabelecer uma relação de mercado entre as nações e entre os diversos impérios dominantes, revelando o que possivelmente seriam os bastidores dos longos deslocamentos feitos em períodos posteriores e que passaram a incluir o Atlântico (BRAUDEL, 1987). O autor é consistente em afirmar, a partir dos relatos dos viajantes, que a dor e o trabalho árduo dessas práticas estavam relacionados a processos mais amplos e, além disso, elucida as diversas outras significações que essas viagens encarnavam, como heroísmo, superação do trabalho físico ou autodisciplina intelectual.
Ainda assim, apesar de reforçar que esse período contribuiu para formação da identidade do período pós-medieval, não nos revela com clareza os pontos impactados na posterioridade. Em algumas passagens, o autor deixa a desejar no que toca à alusão a alguns acontecimentos históricos que seriam fundamentais para melhor compreensão do leitor.
Porém, pelos seus amplos benefícios percebidos em sua abordagem, a leitura da obra do estadunidense não deve restringir-se aos especialistas da literatura e da história medieval, mas também é interessante para as áreas da Geografia e, sobretudo, para o Turismo, possibilitando o estudo da evolução e das práticas denominadas de viagem.
Agradecimentos À Pró-reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais pela oportunidade de realizar este trabalho através do Programa de Iniciação Científica Voluntária.
Referências BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. 94 p.
TOWNER, John. The Grand Tour: a key phase in the history of tourism. Annals Of Tourism Research, London, v. 12, n. 3, p.297-333, abr. 1985.
WALLERSTEIN, Immanuel. El Moderno Sistema Mundial I: la agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. Siglo Veintiuno Editores, México, 1979.
KYAN-WILSON, William. Book Review: The Medieval Invention of Travel. TRAFO – Blog for Transregional Research, 14 fev. 2019. Disponível em: <https://trafo.hypotheses.org/17922>. Acesso em: 16 jul. 2020.
Notas 1 Legassie aponta que a viagem era vista como um trabalho árduo “travail” (p. 2). A palavra similar em latim é expressada como uma conotação relativa ao trabalho. O autor faz um trocadilho com a palavra “travail” e “travel” (p.2) devido às suas semelhanças ortográficas.
2 Em geral, as partes possuem proximidade em suas grandezas; a parte I contém 76 páginas, a parte II contém 70 páginas e a parte III contém 62 páginas.
3 Tradução dos autores. Original: “a politically oriented mode of aestheticism that — in the Middle Ages — was founded on the symbolic appropriation of the traveler’s travail.” (p. 13).
4 No prefácio de seu escrito As Viagens de Sir John Mandeville se intitulou cavaleiro e assumiu este nome, mas há uma incerteza sobre a sua verdadeira identidade devido à falta de registros comprobatórios.
5 Após umas das suas duas viagens sobre as regiões da Europa, Fabri ficou particularmente preocupado com “sua incapacidade de responder perguntas básicas sobre a disposição e as orientações relativas dos lugares que ele havia visitado” (p. 167, tradução nossa).
6 Legassie afirma que era utilizada Tábuas de Cera para o registro. As folhas de pergaminho chegam posteriormente com o intenso comércio desse produto na Itália.
7 RUBIÉS, Joan-Pau. Travel and ethnology in the Renaissance: South India through European eyes, 1250- 1625. Cambridge University Press, 2002.
8 “Petrarca coloca em primeiro plano a questão ética do tempo e do trabalho envolvidos na descoberta geográfica.” (p.178, tradução nossa). Para Petrarca e Tafur, as viagens perigosas e de longa distância devem ser deixadas para os que não as fazem por valores morais, como por exemplo, os comerciantes e armadores que as empreendem em busca duvidosa de novidade e lucro.
9 Jornada empreendida no século XVIII, “(…) that circuit of western Europe undertaken by a wealthy social elite for culture, education, and pleasure” (TOWNER, 1985, p.289).
Guilherme Maximiano Ferreira Santos – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. E-mail: guilhermemax@icloud.com.
Luiza Souza Pereira – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. E-mail: luizasouper@ufmg.br.
Tainara do Carmo Lopes da Silva – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. E-mail: tainarac@ufmg.br.
[IF]
História medieval – SILVA (S-RH)
SILVA, Marcelo Cândido da. História medieval. São Paulo: Contexto, 2019, 160p. Resenha de: SILVA, Kléber Clementino da. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, v. 24, n. 41, p. 453-463, jul./dez. 2019.
A vinda a lume do novo livro do professor da USP Marcelo Cândido da Silva, História medieval, pela editora Contexto, deve sem dúvida dar motivo a comemorações por parte de estudantes e professores de história, bem como do mais público interessado. Apesar dos recentes avanços da medievalística em terras tupiniquins, por mérito de pesquisadores como Neri de Barros Almeida, Renato Viana Boy, Johnni Langer, entre outros, sem excluir o próprio autor ora resenhado – que já publicou sua tese doutoral sobre a monarquia franca, um conhecido livro discutindo a “queda” do Império Romano do Ocidente e outro sobre o crime no Medievo – sínteses atualizadas e de qualidade, ao alcance do leitor brasileiro, sobre os dez séculos em que, na periodização tradicional, se alonga a Idade Média são ainda produtos raros. E é precisamente esta a lacuna que a recente publicação procura preencher: uma obra de pequena extensão e linguagem simples, tecida com sólida erudição e rigor acadêmico, revisitando tópicos julgados basilares para o primeiro contato com o campo da medievalística: o debate sobre as migrações germânicas e a “queda” do Império Romano do Ocidente; a dominação senhorial; a Reforma da Igreja; a crise dos séculos XIV e XV, entre outros. A opção pela exposição que combina capítulos temáticos com um discernível encadeamento cronológico, ademais, diferencia o novo texto do já clássico Idade Média: o nascimento do Ocidente, de Hilário Franco Jr., publicado em 1986, cujos blocos temáticos pensam o tempo medieval a partir de “estruturas” (políticas, econômicas, sociais, culturais, etc.), faceta teórico-metodológica recorrente nos estudos daquele professor. Este, aliás, como veremos, não é o único elemento que aparta ambos os estudos. Leia Mais
The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion – JACKSON (THT)
JACKSON, Peter. The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion. New Haven, CT: Yale University Press, 2017. p. Resenha de: IGMEN, Ali. The History Teacher, v.52, n.3, p.527-529, may., 2019.
It is an intimidating if not impossible task to review Peter Jackson’s book, The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion. First and foremost, Jackson is one of the founders of the study of the Mongol, and Central Eurasian history in general. The second reason is the encyclopedic breadth of this book, which may be regarded as is an extensive accompaniment to his seminal 2005 book, recently published in second edition, The Mongols and the West. Jackson begins his book by referring to the new corrective scholarship that does not focus solely on the destructive force of the Mongol invasions with a clear statement that he is “concerned equally to avoid minimizing the shock of the Mongol conquest” (p. 6). He also acknowledges the superior siege technology of these “infidel nomads” as opposed to the urbanized societies of Central Eurasia (p. 6). His book tells the story of these infidel masters over the Muslim subjects, mostly from the view of the latter, especially because Jackson examines the role of Muslim allies, or client rulers of the Mongols. One of the main goals of this book is its emphasis on the Mongol territories in Central Asia as opposed to more extensively studied Jochid lands (the Qipchaq khanate or the Golden Horde) and the Ilkhanate. Despite this particular goal, Jackson makes sure we do not forget about Chinggis Khan’s offspring such as Qubilai Khan, who ruled lands as far away as China.
Jackson’s book investigates how the Mongols came to rule such large Islamized territories in such a short time. It also examines the sources, including the wars between Mongol khanates and the extent of destruction of the Mongol conquest, while describing their relationships between the subjugated Muslim rulers and their subjects. The introductory chapter on Jackson’s sources provides detailed information on the writings of mostly medieval Sunni Muslim authors along with two Shī’īs, refreshingly relying on those who mostly wrote in Persian and Arabic, including the newly discovered Akhbār-i mughūlan by Qutb al-Din Shīrāzī (p.145), as opposed to Christian and European travel accounts.
The book is divided into two parts: the first part explores the Mongol conquest to ca. 1260, and the second covers the period of divided successor states with an epilogue that elaborates on the long-term Mongol impact on the Muslim societies of Central Eurasia as late as to the nineteenth century. Although the intricate if occasionally dense first part on the conquest is necessary, educators like myself will find it most useful. It is intriguing to learn about the extent of interconnectedness of the conquered Muslim societies in Eurasia and their Mongol rulers, while understanding the limitations of commercial, artistic, and religious exchanges.
We also learn about the strategic regional Muslim leaders’ relations with the Mongol conquerors. The account of the evolution of the linguistic conversions makes the story even more fascinating. The negotiations between those local rulers who kept their thrones and the Mongol victors tell a more interesting story than the existing accounts of Mongol despotism. The case in point is Jackson’s discussion of the potential of Muslim women in gaining agency under the Mongol rule. Jackson’s analysis of the extent of the repressive laws and taxes provide possible new explanations of the Mongol rule. Furthermore, his analysis of the relationship between the Tājīk bureaucrats and the Mongol military seemed particularly enlightening to me, who is interested in the dynamics of civilian and military interactions. Jackson points out that “the fact that civilian and military affairs were not clearly differentiated added to the instability,” referring to the late thirteenth-century Ilkhanate era (p. 412). The final two chapters complicate the Islamization processes in the Mongol successor states, explaining the lengthy and sporadic nature of conversions.
Without giving away Jackson’s conclusions on Islamization, I can say that he provides a highly nuanced history that challenges any linear and teleological accounts of the Mongol conquest of the Islamic lands. In addition to the breadth and wealth of information, Jackson’s book is generous to the scholars of the Mongols, including younger scholars such as Timothy May. The mostly thematic character of the book results in a shifting chronology, which assumes that the readers possess some previous knowledge of this complex history. Most of the book provides an insight to the intricate history of Mongol politics in conquered lands. The exquisite maps, images, chronologies, and glossary make the book more legible to those readers who may pick it up without prior knowledge of this history. The particular military strategies, coupled with the political intrigue of the Mongols led to a fusion of Muslim, Mongol, and other indigenous cultures, not always destroying what existed before the conquest. Peter Jackson’s book is a worthy reflection of this sophisticated history that is suitable for advanced and graduate students and scholars who possess the basic knowledge of the Mongol conquest and Islamic societies and cultures of the region.
Ali Igmen – California State University, Long Beach.
[IF]
Bispos guerreiros: violência e fé antes das cruzadas – RUST (PL)
Leandro Duarte Rust é um medievalista em ascensão no Brasil. Professor da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) é dono de uma crescente bibliografia, iniciada com a publicação de Colunas de São Pedro: a política papal na idade média central (Annablume, 2011), seguida por A reforma papal (1050-1150): trajetórias e críticas de uma história (EdUFMT, 2013) e Mitos papais: política e imaginação na história (Vozes, 2015). Basta olhar para os títulos de suas obras para compreender porque Rust vem se consagrando como um historiador do papado.
Entretanto, seu quarto livro, Bispos guerreiros: violência e fé antes das cruzadas, recém-publicado pela editora Vozes, vai além. Seguindo a história de Cádalo, entronizado como o “antipapa” Honório II, o autor realiza uma profunda análise sobre as relações entre a violência e o sagrado na Península Itálica nos séculos X e XI. Leia Mais
Guide to Byzantine Historical Writing | L. Neville
Leonora Neville2 (2004; 2012; 2016) é uma bizantinista norte-americana já conhecida por trabalhos anteriores dedicados à sociedade provincial bizantina e a dois historiadores do período intermediário: a princesa Ana Comnena (1083-1153) e seu esposo, o kaisar Nicéforo Briênio (1062-1137). Sendo um nome cada vez mais presente no campo, Neville vem realizando empreendimentos notáveis. O recente Guide to Byzantine Historical Writing é um deles e oferece uma importante contribuição por servir como um guia prático de referência à historiografia bizantina e a tudo de essencial relacionado a ela. O ponto forte da obra, preparada por Neville com o auxílio dos estudantes de pós-graduação David Harrisville, Irina Tamarkina e Charlotte Whatley, é seu grande apanhado bibliográfico multilíngue.
Segundo Neville, seu guia “[…] visa tornar as riquezas das histórias medievais escritas em grego facilmente acessíveis a todos que possam estar interessados” (NEVILLE, 2018, p. 1, tradução nossa). Embora a autora seja modesta ao dizer que seu livro “[…] não contém nenhuma informação que um bizantinista diligente não pudesse rastrear com o tempo […]” (NEVILLE, 2018, p. 1, tradução nossa), o mérito desse seu trabalho reside justamente em seu potencial de servir como um guia prático e acessível a essas fontes, especialmente quando consideramos que o Império Bizantino não costuma ser a primeira escolha daqueles que adentram as pesquisas sobre o período medieval, seja pelas especificidades necessárias para seu estudo, que são distintas daquelas para o Ocidente latino, seja por questões de outra natureza. A obra de Neville pode assim fomentar o interesse de públicos acadêmicos não tradicionais, como o brasileiro, onde esses estudos ainda são bastante escassos e periféricos, facilitando a busca por fontes primárias e proporcionando uma base bibliográfica como ponto de partida.
Embora não há de se negar que seu público seja os bizantinistas, aqueles que se faz questão de dizer, um gesto de boas-vindas aos classicistas, aos medievalistas e aos estudantes de modo geral. Com certeza, além de facilitar a pesquisa daqueles que já atuam no campo e dos que estão começando, esse livro tem o potencial de sanar a curiosidade de classicistas interessados pela produção historiográfica em língua grega após a Antiguidade e de ajudar os demais medievalistas, especialmente aqueles com pesquisas voltadas para os contatos interculturais no mediterrâneo medieval, onde é impossível ignorar a presença bizantina. debruçam sobre as fontes primárias dessa civilização, o livro também é, como Neville
O guia de fontes de Neville abarca exclusivamente textos historiográficos escritos entre 600 e 1490 d.C. Esse recorte singular pula o período inicial da periodização tradicional, uma vez que a autora prefere não disputar o chamado de Early Byzantium com o consagrado Late Antiquity, e estende a produção historiográfica bizantina para além da queda formal do império em 1453. Neville justifica que outras obras de natureza similar já abarcaram o período inicial ao lidarem com fontes tardo-antigas e que a queda de Constantinopla é somente um dos eventos que gradualmente alteraram o horizonte intelectual e cultural daquele mundo. O ponto realmente positivo desse recorte foi ter considerado autores que escreveram naquele mundo pós-bizantino, uma vez que eles testemunharam o crepúsculo final do Império Romano e a ascensão do poder otomano, um processo que a longo prazo causou profundas transformações na região. Por ironia do destino, considera-se que a historiografia medieval em língua grega acaba com o ateniense Laônico Calcondilas (c. 1430-1470), que escreveu dentro dos moldes daquele considerado o primeiro historiador grego, Heródoto de Halicarnasso (c. 484-c. 425 a.C.).
O capítulo introdutório apresenta algumas questões essenciais, como o debate em torno das terminologias história e crônica, a natureza do ofício do historiador em Bizâncio, a questão da imitação dos clássicos e da inovação, o sistema de datação presente nas fontes, a terminologia classicizante empregada pelos autores, a língua grega medieval e seus registros e as problemáticas transliterações empregadas pelos bizantinistas. Além disso, a autora trata sobre as principais publicações e séries de fontes e explica o que ela quer dizer por manuscrito, texto e edição ao longo do livro. Por fim, é oferecida uma pequena, mas importante bibliografia para aprofundamento, seguida por uma geral e mais abrangente.
Além da parte dedicada aos agradecimentos, da introdução e dos apêndices finais, o guia conta ao todo com cinquenta e dois capítulos que levam os nomes dos historiadores ou das obras cujos autores desconhecemos, de Teofilato Simocata (séc. VII) ao já mencionado Laônico Calcondilas (séc. XV). Os capítulos recebem geralmente as seguintes entradas: uma breve biografia do autor com alguma descrição de seus trabalhos historiográficos, uma menção aos manuscritos que chegaram até nós (ou a indicação de uma publicação que adentre isso), uma lista de edições modernas disponíveis, uma breve história de sua publicação, uma lista de estudos fundamentais para se ter como ponto de partida, uma lista das traduções realizadas até o momento e, por fim, uma lista bibliográfica mais vasta com temas relacionados ao autor e sua obra. Após esses capítulos, seguem-se dois apêndices: um gráfico indicando o período de tempo coberto pelas produções e outro indicando o período de vida dos autores.
Neville afirma tomar uma abordagem mais cética (embora isso não pareça diferente de dizer neutra) em relação às reconstruções das fontes e da vida dos autores. Ela demarca, assim, a primeira diferença de seu trabalho em relação ao de Warren Treadgold (2007; 2013), autor de duas obras sobre os historiadores bizantinos do período inicial e intermediário (a terceira, sobre o período tardio, está por vir) e mais recheada de suposições e hipóteses. Em nossa opinião, embora seja compreensível os motivos que podem ter levado a autora a seguir por esse caminho, uma vez que tomar parte em debates é adentrar em possíveis flutuações acadêmicas que podem prejudicar a obra como um guia de referência, datando-a a médio prazo, esse acaba sendo um ponto um tanto obscuro do livro, primeiro pela autora não mencionar essas diferentes interpretações (ela poderia tê-lo feito sem que as endossasse), privando seu leitor de algo fundamental; segundo por não ser um critério muito compreensível (ao menos da forma como colocada) para as posições que ela toma ao longo dos capítulos do livro.
Neville também demarca a diferença essencial de seu livro para os de Treadgold a partir do que está sendo enfocado: enquanto seu trabalho está preocupado com o texto, o de seu colega norte-americano está preocupado com os autores. Para a autora, como na maioria dos casos as informações que sabemos sobre os autores vem de seus próprios textos, deveríamos focar nossa análise no texto, dando pouca ênfase à biografia como determinante para entender a obra. Para Neville, abordar o texto ao invés dos indivíduos está na ordem do dia, como propuseram nas últimas décadas os teóricos pós-modernos da linguistic turn. Embora ela possa ter razão, os exemplos dados para justificar isso são no mínimo problemáticos.
A discussão se devemos confiar em Jorge, o monge e pecador (séc. IX) é pouco relevante; Neville acha que por ter se chamado pecador, uma notória prática monástica de humildade, coisa não enfatizada pela autora, esse autor estava provavelmente mentindo com o propósito de justificar o conteúdo moralizante de sua obra, pois, nesse contexto, chamar-se humilde seria um ato de orgulho. Assim, para Neville, esse não poderia ser um dado biográfico para se ter como ponto de partida, fazendo mais sentido adentrar diretamente no estudo do texto pelo texto. Ela continua com outro exemplo: ao dizer que escreveu em reclusão, João Zonaras (séc. XII) poderia estar se utilizando de um truque retórico para aparentar que escreveu sua obra longe de forças que poderiam influenciá-lo em sua escrita. Neville considera que os historiadores perderam tempo tentando encaixar esse dado em sua biografia e questiona se Zonaras estava recluso da mesma forma que Jorge era pecador. Nesse exemplo, ela aparenta estar sendo puramente especulativa e nada justifica o porquê não considerar realmente a hipótese da reclusão. Além disso, o exemplo de Jorge não é exatamente comparável ao de Zonaras se considerarmos o costume monástico. O problema aqui talvez não seja sua perspectiva teórica, mas uma má seleção de exemplos para sustentá-la.
Embora esse não seja o foco de seu guia, podemos contextualizar a produção intelectual de Neville entre autores que estão resgatando a ideia de uma romanidade bizantina, acabando assim com a separação imposta por historiadores no passado entre Roma e Bizâncio.3 Isso fica evidente quando a autora afirma que “A história bizantina é a história do Império Romano na Idade Média” (NEVILLE, 2018, p. 5, tradução nossa). Como tem sido apontado, a imposição dessa separação tem raízes muito antigas no universo intelectual e cultural ocidental, regressando a finais do século VIII e às disputas políticas e identitárias entre bizantinos e ocidentais, posteriormente reforçada pela especialização acadêmica e a invenção de termos técnicos e delimitações artificiais como Império Bizantino e Bizâncio.4 Neville se coloca nessa discussão ao apontar a necessidade de levarmos a sério a autoidentificação dos bizantinos enquanto romanos, coisa que os estudiosos a todo momento ignoraram, preferindo desenvolver explicações sobre quem eles de fato eram por trás do que diziam. “Em nenhum outro campo os historiadores rotineiramente tratam os sujeitos de sua investigação como tendo uma compreensão incorreta de quem eles eram” (NEVILLE, 2018, p. 5, tradução nossa).
Os comentários oferecidos por Neville sobre essa questão não são um aspecto superficial de seu trabalho, mas funcionam estrategicamente, pela natureza de seu livro, como um manifesto aos pesquisadores e àqueles adentrando o campo dos Estudos Bizantinos para que não ignorem esse duradouro problema. Neville alavanca algumas questões que ela acredita que precisam ser superadas para que enxerguemos definitivamente isso, como a importância exagerada dada à ascensão do cristianismo como o divisor de águas central na história da humanidade, o que teria feito com que os estudiosos entendessem que o Império Romano havia deixado de ser o verdadeiro existia na mente de seus habitantes, e os resíduos das narrativas da Renascença e do Iluminismo, que propunham uma total ruptura entre a Antiguidade e uma Idade das Trevas. Como afirma a autora, “Resistir aos efeitos posteriores desses paradigmas permite que os estudiosos levem a sério a compreensão e a autoapresentação dos cidadãos do Império Romano medieval (NEVILLE, 2018, p. 6, tradução nossa). Império Romano quando se tornou cristão, criando uma ruptura ilusória que não
Acreditamos que o bizantinista e o estudante diligentes pecarão gravemente se não tiverem esse guia ao lado de outras obras de referência já consagradas. Ademais, tendo em mente a escassez de pesquisas sobre essa civilização romana oriental, helefóna e cristã ortodoxa no Brasil, algo que se reflete também na inexistência de traduções, desde as mais básicas a trabalhos importantes publicadas nos últimos anos, consideramos que esse trabalho pode oferecer uma aproximação às fontes historiográficas bizantinas e a um grande apanhado de referências que trarão aos pesquisadores mais confiança para darem o primeiro passo na preparação de seus projetos, ajudando, portanto, a superar parte do que poderia ser uma dificuldade inicial.
Notas
2. Leonora Neville é atualmente John W. and Jeanne M. Rowe Professor of Byzantine History e Vilas Distin-guished Achievement Professor na University of Wincosin-Madison, nos Estados Unidos.
3. Cf., por exemplo, KALDELLIS, 2007, 2019 (o principal revisionista quanto a essa questão); PAGE, 2008; STOURAITIS, 2014; 2017. Diversos autores tem partido dessa perspectiva, incluindo NEVILLE, 2012. As implicâncias de se assumir uma identidade romana para os “bizantinos” e as dimensões da mesma ainda é uma questão em debate, envolven-do não somente perspectivas teóricas, mas interpretações distintas.
4. Para uma boa exposição quanto a esse problema, cf. KALDELLIS, 2019, p. 3-37.
Referências
Obra completa
KALDELLIS, A. Hellenism in Byzantium: The Transformations of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
______. Romanland: Ethnicity and Empire in Byzantium. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019.
TREADGOLD, W. The Early Byzantine Historians. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
______. The Middle Byzantine Historians. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
NEVILLE, L. Authority in Byzantine Provincial Society, 950–1100. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
______. Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian. Oxford: Oxford University Press, 2016.
______. Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
______. Heroes and Romans in Twelfth-Century Byzantium: The Material for History of Nikephoros Bryennios. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
PAGE, G. Being Byzantine: Greek Identity Before the Ottomans. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Artigos
STOURAITIS, I. Roman identity in Byzantium: a critical approach. Byzantinische Zeitschrift, [s.l.], v. 107, n. 1, p. 175-220, 2014.
______. Reinventing Roman Ethnicity in High and Late Medieval Byzantium. Medieval Worlds, Vienna, v. 5, p. 70-94, 2017.
Guilherme Welte Bernardo –
Mestrando em História no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de São Paulo (PPGH/Unifesp), onde realiza pesquisa intitulada “Entre a integração e a barbarização: romanos e ocidentais na historiogra-fia bizantina dos séculos XI e XII” sob orientação do Prof. Dr. Fabiano Fernandes. Pesquisador vinculado ao Núcleo de Estudos Bizantinos e Conexões Mediterrânicas (NEB) e ao Laboratório de Estudos Medievais (Leme/Unifesp). E-mail para contato: g.welte@outlook.com.
NEVILLE, L. Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. Resenha de: BERNARDO, Guilherme Welte. A escrita da História numa outra Idade Média: Descobrindo a Historiografia Bizantina (600-1490). Revista Ágora. Vitória, n.30, p.210-215, 2019. Acessar publicação original [IF].
As Américas na primeira modernidade – CAÑIZARES-ESGUERRA (H-Unesp)
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira; MARTINS, Maria Cristina Bohn. (Orgs.), As Américas na primeira modernidade. Curitiba: Prismas, 2017. 1, 359p. Resenha de: SÁ, Charles Nascimento. Novo Mundo e Modernidade: debates e estudos sobre a colonização das Américas na Idade Moderna. História v.38 Assis/Franca 2019.
Uma das qualidades que se busca na produção acadêmica é a capacidade de cativar e prender a atenção de seu leitor. Ao longo de séculos, escritores e suas obras têm tido sucesso ou insucesso nesse sentido: conseguir produzir um texto que seja interessante, que produza reflexões no ledor e que estimule a busca por mais conhecimento, seja para seu interesse pessoal ou para sua área profissional, é prova inequívoca de que o trabalho atingiu seu objetivo.
Em um romance publicado pela Editora Record, intitulado A livraria mágica de Paris, de autoria da francesa Nina George, a autora, por meio de seu personagem Jean Perdu, define a função da livraria similar à de uma farmácia literária. Perdu nega-se a vender um livro quando percebe que não é aquele que a pessoa necessita. Por meio dos livros, o indivíduo, com seus problemas, dores, tristezas e incertezas, pode aí encontrar sua cura, ou, pelo menos, um paliativo (GEORGE, 2016).
Inicio esse texto abordando uma obra literária porque entendo que, no que concerne à escrita e seu reflexo na formação e melhoramento do conhecimento humano, todo tipo de saber deve ser aproveitado. Seja para momentos de deleite – de puro prazer literário, seja para crescimento profissional e acadêmico, todo livro deve trazer em seu bojo as benesses que uma boa escrita traz para a mente e o coração.
Se na obra literária a narrativa deve sempre buscar a atenção do leitor, prendendo-o com recursos estilísticos diversos – suspense, drama, assassinatos, crises, traições, reviravoltas, etc. -, no livro acadêmico nem sempre isso é possível, ou tem o autor a verve necessária para produzir tal feito. Algumas obras historiográficas conseguiram esse feito: Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, Caminhos e Fronteiras, de Sérgio Buarque de Holanda, Apologia da História, de Marc Bloch, Segredos Internos, de Stuart Schwartz, Um Contraponto Baiano de Bert Barickman são alguns dos autores que produziram obras acadêmicas relevantes e paradigmáticas que também possuem estilo literário que cativa e prende a atenção de seus leitores.
As obras acima referidas possuem outra característica em comum: são frutos de um único autor. Nesse sentido, possuem uma coerência narrativa e vigor estilístico que surge da força criativa, da concepção teórica e da escrita de seu autor, ou mesmo de um dom que este possua.
Essa capacidade da escrita de ser leve e profunda, de fácil percepção para quem lê, nem sempre é conseguida em livros com vários autores. Obras coletivas, mesmo as literárias, perdem muito pela forma e característica com que cada escritor percebe sua produção e a transmite por meio de sua grafia. Esse desequilíbrio é sempre um fator a desmerecer o quantum de uma obra com vários autores.
Passados por esta breve introdução, adentremos no que de fato concerne este texto, isto é, a análise do livro: As Américas na primeira modernidade (1492-1750). Organizado por Jorge Cañizares-Esguerra, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes e Maria Cristina Bohn Martins, publicado pela Editora Prismas, conta com textos de diversos autores em colaboração com os três já citados, ou em outras parcerias. Os autores são docentes e pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Europa. Instituições como Unicamp, UNISINOS, Universidade da Califórnia, Universidade do Texas, Universidade da Integração Latino-Americana e Universidade de Barcelona estão aí representadas. Todos esses centros estudam e pesquisam o passado do continente americano, e seus professores, presentes no livro, demonstram por meio dos capítulos o estágio atual da pesquisa sobre a história da América colonial.
Na introdução da obra, os organizadores fazem uma análise historiográfica da produção sobre a América na Idade Moderna. O processo de colonização, os entendimentos sobre a conquista, as ideias e conceitos que foram utilizados ao longo do tempo para compreensão desse fenômeno são aí abordados. Ao mesmo tempo, indicam os novos olhares e caminhos que têm sido discutidos pelos estudiosos para o entendimento da colonização do continente entre os séculos XV até o XVIII.
Alexandre C. Varella abre o primeiro capítulo, intitulado: Os índios: povos ancestrais, sujeitos modernos. Estes são tratados não apenas dentro de sua ancestralidade, mas também naquilo que carregavam e carregam de moderno. Os povos indígenas que habitavam o continente não são encarados como vítimas circunstanciais da dominação europeia na América, mas se apresentam como indivíduos ou coletivos que produzem com suas ações e ideias sua própria história. Em seu texto, a dicotomia usual entre opressores e oprimidos cede lugar a “caleidoscópio de posições e situações instáveis, contextuais, plurais”. No seu texto fica claro que “existem mais paradoxos que soluções para a análise dos indígenas no início da modernidade” (p. 48).
O segundo capítulo traz em seu bojo o processo de conquista da América, intitulando-se A conquista da América como uma história emaranhada: o intercâmbio de significados de uma palavra controversa. O primeiro item a destacar aqui diz respeito ao fato que esta ação deve ser compreendida não apenas como um processo unilateral, que parte de ibéricos sobre americanos. Segundo o texto de Luiz Estevam de Oliveira Fernandes e Eliane Cristina Deckman Fleck, um dos elementos a obnubilar o entendimento do conflito que terminou por colocar o continente americano sobre a égide espanhola foi o de entendê-lo a partir de uma visão unilateral.
Para os autores do segundo capítulo, a gênese e o desenvolvimento de todo esse épico conflito devem ser compreendidos a partir das junções de acordos e da geopolítica que envolvia os povos e nações existentes no mundo mexicano e peruano, para ficar aqui nas regiões mais famosas. Para os ameríndios que participaram do processo que resultou na queda de Tenochititlán e Cuzco, os espanhóis não foram os senhores que comandaram o processo, mas parceiros em toda a guerra que resultou na queda dos adversários históricos dos grupos oprimidos por astecas e incas. Além disso, o texto possui uma fluidez e uma escrita muito cativante. Nesse texto, o leitor torna-se partícipe de todo o conflito, a narrativa possui aquela característica tão carente em obras de história feita por historiadores: lucidez e simplicidade, atrelados a excelente pesquisa de fontes e bom diálogo com outros autores.
O terceiro capítulo, de autoria de Maria Cristina Bohn Martins e Leandro Karnal apresenta a questão da fé, atrelado a dois outros efes: fama e fortuna, seu título, por isso mesmo chama-se Fama, fé e fortuna: o tripé da conquista. Nesse texto, os autores desenvolvem uma interessante discussão sobre o impacto que a chegada dos europeus e a conquista dos impérios asteca e inca tiveram no desenvolvimento do imaginário europeu no início da modernidade e a importância disso para que outros indivíduos sonhassem em conquistar os mesmos louros que Cortez e Pizarro. Questões envolvendo fé, fama e fortuna foram paralelas e congênitas no empreendimento que resultou na conquista do Novo Mundo. Para os autores, porém, é importante não esquecer que o elemento que dominou toda a ação dos ibéricos foi sempre a fé católica e sua propagação para outros povos, afinal, “a compreensão das ações espanholas não pode prescindir da sua dimensão religiosa e espiritual” (p. 176). Nesse sentido, assemelha-se ao que Charles Boxer, em sua clássica obra O império marítimo português – 1415-1825, já assinalava quando de sua publicação em 1969. Para o historiador britânico, das quatros questões que nortearam a expansão lusitana – a saber, a guerra contra infiéis, a busca de ouro, a busca do reino de Preste João e a expansão da fé católica, foi sempre esta última a que de fato serviu como elemento justificador e impulsionador das navegações portuguesas em mares nunca dantes navegados (BOXER, 2002).
No quarto capítulo, que tem como título O lapso do rei Henrique VIII: inveja imperial e a formação da América Britânica, Jorge Cañizares-Esguerra e Bradley J. Dixon analisam o impacto da conquista e a formação do império ibérico no mundo anglo-saxão. Com suas minas e riquezas advindas do Novo Mundo, a Espanha se consolidou como a maior potência na Europa do início da modernidade. Isso, mais a rivalidade com a consolidação da Reforma na Inglaterra, levou os ingleses a buscarem imitar seus rivais castelhanos na construção de colônias na América. Ao longo dos séculos XVI e XVII encontrava-se na península ibérica a inspiração que os ingleses buscavam para a construção de seu próprio império. Foi somente no século XVIII, com a disseminação da “Legenda Negra” e a percepção de que o modelo ibérico não seria viável para os objetivos anglicanos, que a Grã-Bretanha encetou novo processo de povoamento e conquista na América desvinculado do modelo ibérico. Isso, porém não simbolizou o abandono do modelo espanhol. Durante todo o período de construção de suas colônias a Inglaterra teria no seu adversário o exemplo a seguir ou criticar.
Não foi só de pessoas que se constituiu a formação do mundo colonial americano. Benjamin Breen, no quinto capítulo do livro, analisa o Meio ambiente e trocas atlânticas. A migração de povos do Velho para o Novo Mundo se deu por volta de 60.000 anos atrás, segundo as pesquisas desenvolvidas por vários arqueólogos na América. Houve contatos com vikings durante o ano 1.000, mas as colônias por eles fundadas desapareceram sem deixar traços mais profundos. Assim, ao longo de vários séculos, povos, animais e plantas, além dos micro-organismos, estiveram longe do contato com outras espécies. A vinda dos europeus trouxe consigo não apenas as transformações no estilo de vida desses povos, mas representou também o intercâmbio entre diferentes indivíduos e seres vivos. Dessa forma,
[…] a história ambiental do mundo atlântico também ajuda a compreender duas das mais colossais catástrofes da história humana recente. A primeira é a impenetrável tragédia ocasionada pelas mortes de dezenas de milhões de nativos americanos devido a doenças infecciosas como a gripe, o sarampo e a varíola, contra as quais os indígenas não possuíam resistência. A segunda é a contínua diminuição da biodiversidade global, a qual muitos ecologistas identificam agora como a maior extinção em massa desde o desaparecimento dos dinossauros há 65 milhões de anos (p. 247).As trocas envolvendo os dois lados do Atlântico e a inclusão do Índico e suas variedades de fauna e flora estão diretamente vinculadas à constituição do mundo contemporâneo e suas variedades de flores, frutos e fauna tal qual conhecemos hoje; seu custo para povos e seres que habitavam a América foi altíssimo.
O sexto capítulo da obra, Saberes e livros no mundo atlântico: o intercâmbio cultural na carreira das Índias, aborda as trocas de livros e saberes no mundo atlântico moderno. De autoria de Carlos Alberto González Sánches e Pedro Rueda Ramírez, faz uso de documentos e produções do período para discutir como o saber e sua disseminação por meio de obras muitas vezes não permitidas se fizeram presentes no universo colonial ibérico. A perseguição da Coroa e da Igreja a obras consideradas impróprias e a manutenção por parte do Estado espanhol do sigilo em torno de mapas e descrições do Novo Mundo, com o objetivo de proteger suas minas e riquezas de seus adversários, foram elementos a direcionar a atuação do governo e sua censura sobre livros e saberes.
No último capítulo da obra, Entre textos, contextos e epistemologias: apontamentos sobre a “Polêmica do Novo Mundo”, Beatriz Helena Domingues e Breno Machado dos Santos discutem os textos e obras que, no século XVIII, polemizaram a respeito do Novo Mundo e seus habitantes. De modo particular são aqui estudadas as obras de Buffon e De Paw, na discussão que o italiano Antonello Gerbi denominou como disputa ou controvérsia do Novo Mundo em seu clássico livro O Novo Mundo: história de uma polêmica.
Nesse texto que encerra o livro, as discussões sobre as características inferiores que a América apresentaria quando comparada com o Velho Mundo, tese defendida por Buffon e ampliada por De Paw, são contextualizadas e inseridas dentro de todo o debate que os estudos desses dois intelectuais produziram no período das Luzes. De modo particular, tem-se aqui a ação dos padres jesuítas da América espanhola e portuguesa, bem como dos representantes dos recém-emancipados Estados Unidos, em sua defesa pela semelhança entre os continentes da América e Europa.
A atuação de personagens da América espanhola e dos norte-americanos foi mais destacada que a dos residentes na América portuguesa. Tal fato é explicado por terem sido os padres jesuítas lusitanos encarcerados em Portugal na ocasião da expulsão dos membros da Ordem pelo Marquês de Pombal. Já os espanhóis puderam ir para o exílio em Bolonha, nos Estados Pontifícios. Como apontam os autores: “ainda que a situação do exílio seja sempre terrível, há uma enorme diferença entre Bolonha e as masmorras portuguesas” (p. 336).
Retomam-se aqui, para concluir a presente resenha, os tópicos indicados no início desse texto. Quando escreveu seu emblemático livro Apologia da História, ou o ofício do historiador, o historiador francês Marc Bloch disse: “decerto, mesmo que a história fosse julgada incapaz de outros serviços, restaria dizer, a seu favor, que ela entretém” (BLOCH, 2001, p. 43). Em outras palavras, quis esse estudioso indicar que compete ao texto histórico fazer com que seu leitor se entusiasme pelo que lê. Partindo desse ponto, os artigos encontrados no livro As Américas na primeira modernidade, 1492-1750 cumprem a contento tal expectativa. Torna-se prazerosa e instrutiva sua leitura, pois o leitor fica preso ao texto. Ao mesmo tempo, a precisão acadêmica, o confronto entre diferentes fontes, o diálogo envolvendo a bibliografia mais atual e a já consagrada encontram-se aí presentes. Sendo uma obra coletiva, o vigor acadêmico em nenhum momento se perde no conjunto da obra.
Outra perspectiva que a obra possui tem correlação com aquilo que o historiador Luiz Felipe de Alencastro defende em sua obra O Trato dos Viventes (2000) Nela, Alencastro aponta que, para entender o Brasil dos séculos XVI ao XVII, é preciso ir para fora dele, isto é, só se pode compreender a gênese da formação da América portuguesa olhando para o Atlântico. Nesse oceano e em suas conexões, no caso de Alencastro, de modo particular, a África, pode-se esclarecer e entender todo o processo formativo da sociedade e economia brasileira nesses dois séculos. O livro organizado por Jorge Cañizares-Esguerra, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes e Maria Cristina Bohn Martins cumpre bem esse papel ao dar o destaque necessário às correlações envolvendo povos e territórios do além-mar e suas conexões não apenas com a Europa e África, mas também com a Ásia.
Tanto o indicativo de Bloch quanto o de Alencastro são seguidos no livro. Outro item que vem tendo destaque nas pesquisas envolvendo o mundo colonial da era moderna é abordado no volume que analisamos. Trabalhos oriundos dos Estados Unidos e Europa, bem como outros feitos na África, Ásia e América Latina, têm chamado a atenção para a necessidade de se pesquisar o passado colonial focando em questões e conceitos muitas vezes relegados pela historiografia. As noções de rede, nobreza, império ultramarino, monarquia pluricontinental, monarquia compósita, Antigo Regime, absolutismo, conquista, colonização, hibridismo cultural, miscigenação, direito, dentre outras temáticas foram incorporadas ou rediscutidas para compreensão do passado colonial da América e suas conexões com outros povos.
Nesse sentido, As Américas na Primeira Modernidade tem o mérito de abordar em seus capítulos essa discussão já tão presente no mundo europeu, na América do Norte, em partes da África e do continente asiático. A literatura por eles utilizada assenta-se em nomes como Serge Gruzinski, Sanjay Subrahmanyam, Stuart Schwartz, Jack Greene, Anthony Pagden, Vitorino Godinho, Charles Boxer, Antonello Gerbi, além dos próprios organizadores da coleção e seus autores. Nesse sentido, o diálogo aí presente é fecundo e levanta diversas indagações.
Nós, latino-americanos, fomos marcados pela intolerância, perseguição, guerras, mortes, doenças e pela conquista, mas também nos caracterizamos por dotar o planeta de sua concepção de modernidade. Foi somente pela chegada dos europeus ao Novo Mundo que o planeta iniciou o processo de constituição da economia mundo, afinal “o impacto das explorações oceânicas europeias estava sendo sentido fora da Europa, em uma terra que não possuía atividades transatlânticas […]” (WOOLF, 2014, p. 257).
Ao mesmo tempo, ao saber que outros povos e outras concepções de mundo existiam além do universo do Velho Mundo, religiosos e estudiosos depararam-se com temas que os levaram a redefinir suas concepções sobre o planeta, bem como sobre suas crenças. Como indica Serge Gruzinski, as certezas do conhecimento clássico foram postas em cheque e um novo saber pôde ser realizado.
A obra, porém, possui um revés. Mesmo se tratando das “Américas”, o livro ainda permanece com a divisão que exclui do universo colonial do Novo Mundo a América portuguesa. A região dominada pelos lusitanos somente é abordada no último texto e em vagos momentos está presente em outros poucos capítulos. Argentina, Paraguai e Uruguai são também pouco abordados. Nesse sentido, é necessário que se possa de fato interconectar os diversos povos e histórias da América em seu contexto colonial. Cada vez é maior o número de pesquisas no Brasil, e fora dele, que apontam para as redes abarcando os mercados e povos do mundo luso tropical com áreas da América sob domínio de Madri ou Londres. Envolver esses povos e territórios em uma única rede, ou em várias conexões, tende a tornar a história do continente em algo verdadeiramente americano.
O ponto acima não desmerece o livro analisado aqui. Pelo contrário, serve de indicação para outras obras futuras. Estas, por sua vez, tendem a ser beneficiadas pelo roteiro bibliográfico que todos os capítulos, bem com a Introdução do livro, trazem. Neles é possível entrar em contato com a historiografia sobre o continente e suas diversas concepções. O livro As Américas na primeira modernidade torna-se, assim, valioso contributo para todos aqueles que pesquisam, estudam ou querem entender o passado colonial de Novo Mundo, sejam alunos ou professores.
Primeiro volume de uma coleção que deverá ter mais dois livros, essa obra inaugural nos leva à expectativa quanto ao teor e profundidade dos demais, ao mesmo tempo em que embala novos debates e saberes sobre o mundo colonial da América. Boa leitura.
Referências
ALENCASTRO, Luiz Filipe de. O Trato dos Viventes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. [ Links ]
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001. [ Links ]
BOXER, Charles R. O império marítimo português. São Paulo: Companhia das Letras , 2002. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira; MARTINS, Maria Cristina Bohn. (Orgs.) As Américas na primeira modernidade. Curitiba: Prismas, 2017. v. 1. 359 p. [ Links ]
FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Na trama das redes: política e negócios no império português. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. [ Links ]
GEORGE, Nina. A livraria mágica de Paris. Rio de Janeiro: Record, 2016. [ Links ]
WOOLF, Daniel. Uma história global da história. Petrópolis: Vozes, 2014. [ Links ]
Charles Nascimento de Sá – Historiador, Mestre em Cultura e Turismo, Doutorando em História e Sociedade na UNESP/Assis. Professor da Universidade do Estado da Bahia -UNEB, campus XVIII, Av. David Jonas Fadini, 300, Eunápolis 45823-035, Bahia, Brasil. E-mail: charles.sa75@gmail.com.
An Agrarian History of Portugal, 1000-2000: Economic Development on the European Frontier – FREIRE (LH)
FREIRE, Dulce; LAINS, Pedro (Eds). An Agrarian History of Portugal, 1000-2000: Economic Development on the European Frontier. Leiden/Boston: Brill, 2017, 347 pp. Resenha de: RIBEIRO, Ana Sofia. Ler História, v.72, p.227-231, 2018.
1 Dulce Freire e Pedro Lains, investigadores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, coordenaram a publicação da primeira síntese da história agrária portuguesa vista a partir de uma perspectiva de longa duração. A obra cobre um vasto período cronológico, desde cerca do ano 1000 até ao ano 2000, ou mais exactamente desde os tempos da reconquista cristã da Península Ibérica e do movimento que viria a resultar na independência de Portugal face ao reino de Leão e Castela até ao século XXI. Esta monografia colectiva de 347 páginas estende-se por nove capítulos, uma introdução e um apêndice muito útil de figuras, que incluem, por exemplo, mapas ou gráficos. Além dos editores, outros nove historiadores participam nesta publicação, sendo a maioria vinculada a universidades de Lisboa. Os editores procuram neste volume participar no que chamam de “renovação da história económica europeia”, propondo a inclusão do caso português no debate sobre os diferentes padrões e ritmos do crescimento económico europeu ao longo do tempo, variáveis em que se sustenta a historiografia corrente para a explicação da divergência do desenvolvimento económico entre o centro e as periferias do continente europeu (p. 1).
2 Partindo da ideia (preestabelecida?) da existência de um atraso português crónico e do seu padrão divergente de desenvolvimento (p. 3), este livro pretende (re)interpretar as características macroeconómicas do crescimento da produtividade e do produto agrícolas portugueses na longa duração, comparando-os com um cenário internacional mais vasto e integrando-os no desenvolvimento de outros sectores de actividade da economia nacional. Para isso, cada um dos nove capítulos analisa seis variáveis: (1) evolução demográfica e urbanização; (2) regimes de exploração e propriedade da terra; (3) padrões de povoamento e fixação à terra e produto agrícola; (4) mercados interno e externo; (5) mudanças tecnológicas; e (6) políticas relacionadas com a economia rural. Os nove capítulos encontram-se distribuídos por três partes, organizadas numa abordagem cronológica tradicional: a Idade Média, a época moderna, e a contemporaneidade, respectivamente. Uma quarta parte é constituída por um capítulo de reflexão e balanço sobre os resultados da actividade agrícola portuguesa no último milénio.
3 Contudo, esta divisão torna-se aqui e ali um pouco artificial, uma vez que os ritmos de evolução agrícola não se compadecem, frequentemente, com os cortes artificiais com que nós, historiadores, recorrentemente nos orientamos. Por exemplo, o corte cronológico feito exactamente em 1500, entre os capítulos 2 e 3 parece algo forçado por dois motivos. O primeiro, prende-se com uma série de continuidades e até de alguma redundância de conteúdos quanto a algumas das características da agricultura portuguesa, sendo a distinção mais relevante a introdução, ainda que limitada, das novas culturas ultramarinas e dos novos mercados facultados pela integração nos circuitos da economia colonial, pós-1500. Em segundo lugar, o próprio capítulo 6, “Gross Agricultural Output: a quantitative, unified perspective, 1500-1850”, revela uma acentuada diminuição no produto interno agrícola durante a década de 1520 (fig. 6.1, p. 187). Na realidade, este pode ser um dos novos dados deste livro e o corte entre capítulos faria mais sentido nesta cronologia. Por outro lado, parece aqui faltar um primeiro capítulo relativo à evolução das estruturas ambientais que suportaram o desenvolvimento da agricultura portuguesa: características climáticas, possibilidades químicas dos solos, recursos orográficos e hidrográficos. Um capítulo interdisciplinar escrito por geógrafos, engenheiros agrónomos, geólogos e especialistas climáticos poderia constituir uma grande mais-valia nesta obra, revendo e actualizando o valioso trabalho de Orlando Ribeiro1 e conferindo uma nova contribuição científica que orientaria o conhecimento histórico em geral e o trabalho deste volume, em particular.
4 É impossível sintetizar o conteúdo de cada capítulo nestas breves linhas. Por isso, esta recensão centrar-se-á nas grandes conclusões e equilíbrios da obra. Este livro é muito mais do que uma síntese do vasto número de monografias sobre o passado agrário português. Alguns capítulos partiram de uma análise mais detalhada da historiografia referente a cada período, mas conferindo uma consistência nacional que faltava, devido ao facto de muitos destes trabalhos se focarem em realidades locais ou regionais. Esta tarefa é bem conseguida no capítulo 2, da autoria de Ana Maria Rodrigues, referente aos impactos da Peste Negra na produtividade agrícola e nos mecanismos de recuperação emergentes após a epidemia. Também Margarida Sobral Neto, no capítulo 4, faz um excelente cenário da agricultura portuguesa desde 1620, debatendo sustentadamente a existência verdadeira de uma crise da agricultura portuguesa no complexo século XVII. Outros capítulos tentam reutilizar anteriores abordagens sub-sectoriais para elaborar séries econométricas mais detalhadas sobre o produto agrícola e a produtividade, assim como sobre o papel e o impacto do sector agrário no contexto geral da economia. Isto torna-se evidentemente possível na época estatística da contemporaneidade, entre 1820 e 2000. Os capítulos 7 e 8, da autoria de Amélia Branco e Ester Gomes da Silva, Luciano Amaral e Dulce Freire, representam mais do que uma abordagem quantitativa, uma vez que explicações qualitativas são necessárias para a compreensão dos cenários apontados. Além de constituírem uma boa ferramenta de trabalho e estudo para um público académico, pela sua proximidade cronológica, estes capítulos são uma boa base de consulta para os que tomam decisões no presente.
5 Mas são dois os capítulos que mais novidades trazem para este campo de investigação histórica. O primeiro, “The Reconquista and its Legacy, 1000-1348” (capítulo 1), de António Castro Henriques, deve-se tornar um capítulo de referência na historiografia medieval portuguesa a curto prazo. Ele não só é essencial para a compreensão do desenvolvimento agrário medieval português, mas também para a percepção do quão determinantes foram as características dos diferentes ritmos da Reconquista, no território que se tornaria Portugal, para a evolução do desenvolvimento agrícola. Eles estabeleceram as distintas estruturas de direitos de propriedade, os diferentes modelos de exploração da terra, os distintos regimes de plantação e de cultura, assim como ajudaram a condicionar as estratégias de diferentes instituições que tiveram a seu cargo a tarefa de povoar e desenvolver o território. Este período marcará indelevelmente as diferenças entre o norte e o sul do país, a forte persistência do regime senhorial de exploração da terra até bastante tarde, as preferências regionais entre monocultura ou policultura, entre as distintas adaptações do sector à agricultura de mercado ou à pecuária ou ainda à agricultura de subsistência, ainda tão presente em algumas regiões do país.
6 O segundo capítulo que saliento é o de Jaime Reis, o acima mencionado capítulo 6. Pela primeira vez, retrata a evolução do produto agrícola bruto em Portugal em época pré-estatística (1500-1850). Ainda que possa haver alguma cautela sobre a modelização desta informação e da representatividade da amostra documental, este é um grande avanço para a historiografia económica moderna portuguesa. Permite destacar um instável século XVI, um mais estável mas mais estagnado século XVII, e um crescimento assinalável no século XVIII, até cerca de 1740. Depois de 1757, o produto agrícola cresce até 1772, começando a decrescer até ao final das Invasões Francesas. Os fenómenos de setecentos estão bem contextualizados no capítulo anterior, de José Vicente Serrão. A queda das remessas do ouro brasileiro, as alterações políticas entre reinados e o envolvimento de Portugal em conflitos internacionais afectaram a produtividade agrícola, assim como condicionaram o acesso aos mercados de exportação tão importantes para o crescimento da primeira metade da centúria. Acredito que a segunda parte da obra, referente ao período moderno, ganharia se esta abordagem quantitativa (cap. 6) surgisse antes dos capítulos mais qualitativos (3, 4 e 5), pois salientaria a sua complementaridade. Estes explicam detalhadamente a evolução apresentada no capítulo 6. Esta é uma experiência que gostaria de sugerir ao leitor.
7 O volume termina com o capítulo 9, “Agriculture and Economic Development on the European Frontier 1000-2000”, da autoria de Pedro Lains, que se afigura muito além de uma súmula das conclusões anteriores. Depois de observar as grandes fases de crescimento da agricultura portuguesa, conclui que, na realidade, esta teve um crescimento lento, mas contínuo, ao longo do segundo milénio. As grandes inovações neste sector, ainda que chegando normalmente atrasadas e entrando com menos intensidade de que em outros países europeus, foram introduzidas, ainda que sem nenhum movimento disruptivo. Lains argumenta que esta evolução “bem sucedida” da agricultura portuguesa foi sobretudo impulsionada pela conjuntura interna de cada período (condicionantes ambientais, demográficas, de capacidade de investimento), embora reconheça que a “globalização e o crescimento das relações económicas internacionais” foram também relevantes na performance da agricultura nacional (p. 307).
8 Está já provado como o império não teve um impacto muito relevante na economia portuguesa,2 e é já conhecimento consolidado como o ouro foi crucial para o desenvolvimento da agricultura de mercado no século XVIII, em Portugal, mas acredito que as contingências históricas internacionais foram determinantes para o aumento das exportações agrícolas portuguesas, modificando mercados, procura e oferta. Falta ainda avaliar o peso das exportações no consumo total de produtos agrícolas portugueses, que estudos recentes já indiciam.3 O autor compara ainda a realidade portuguesa com a de outros espaços europeus, contestando as teorias da “divergência” ou da “pequena divergência”4 entre os ritmos de desenvolvimento agrícolas do norte e do sul da Europa, nomeadamente desde o século XVI. Comparando as taxas de crescimento do produto agrícola, o capítulo prova que Portugal seguiu as mesmas tendências da maioria dos países europeus, e que os casos da Holanda e da Inglaterra são excepcionais. Esta nova abordagem necessita ainda de um maior debate nacional e internacional entre historiadores económicos e também entre os especialistas em história rural. Esta recensão procura difundir estes resultados e promover tal discussão. Por exemplo, são os dados dos diferentes países compatíveis para serem comparados, nomeadamente no que toca ao período pré-estatístico?
9 Ainda que os diferentes autores da obra venham de diferentes escolas historiográficas – uns com formação puramente de história e outros de formação em economia –, e que tenham escolhido abordagens mais ou menos inovadoras, este volume apresenta uma forte consistência e coesão. Por um lado, todos os autores tentaram respeitar uma grelha de inquérito comum composta pelas seis variáveis acima descritas; por outro lado, os autores remeteram frequentemente para outros capítulos da obra, fazendo notar um esforço colectivo e um cuidado de contínuo conhecimento do trabalho simultâneo dos colegas. O livro foi pensado e preparado como um todo e não como uma soma de contribuições individuais, um processo difícil de implementar neste tipo de publicação. A obra é um excelente manual para o estudo do desenvolvimento da agricultura portuguesa para um público académico, não só nacional, mas também internacional. Uma vez que foi publicada em inglês, permite uma futura abordagem comparativa, em que o cenário português pode ser considerado. Ainda que tenha sido orientado para participar nos actuais debates sobre o fenómeno da divergência económica liderada pelo mundo ocidental,5 o livro acrescenta valor à historiografia portuguesa sobre a temática. Partindo de uma síntese, propõe novas interrogações e abordagens, assim como coloca a agricultura portuguesa em perspectiva face a outros espaços europeus, entrando em contradição com a ideia prevalente de um desenvolvimento agrário baseado na tradição e num atraso crónico.
Notas
1 Orlando Ribeiro, Portugal. O Mediterrâneo e o Atlântico: estudo geográfico. Lisboa: Letra Livre, (…)
2 Leonor Freire Costa, Nuno Palma, Jaime Reis, “The great escape? The contribution of the empire to (…)
3 Cristina Moreira, Jari Eloranta, “Importance of «weak» states during conflicts: Portuguese trade (…)
4 Robert Allen, “Economic structure and agricultural productivity in Europe, 1300-1800”. European R (…)5 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World Economy (…)
Ana Sofia Ribeiro – Universidade de Évora, Portugal. E-mail: asvribeiro@uevora.pt
A espiritualidade medieval em debate (Séculos XII-XIII) / Revista de História Comparada / 2018
A julgar pelo lançamento de dossiês em periódicos, pela publicação de obras coletivas e autorais, bem como pela organização de congressos, o estudo da espiritualidade cristã na Idade Média Central continua promovendo grande interesse da medievística brasileira.
Contando com a participação de quatro docentes de IES, o dossiê que acompanha o presente volume se soma ao empenho historiográfico nacional em (re)visitar assuntos de grande alcance e relevância, como o milenarismo, as ordens mendicantes e suas inserções políticas e as peregrinações. Um traço comum de suas contribuições diz respeito ao cuidado com que os autores examinaram diferentes documentos, como comentários exegéticos, bulas canônicas, epístolas e estatutos universitários ou mesmo relatos de viagens. Leia Mais
L’histoire des Juifs. Trouver les mots. De 1000 avant notre ère à 1492 / Simon Shama
En lisant cette Histoire des Juifs de Simon Schama, on est à la fois ébloui et irrité. Plus on progresse dans la lecture, plus l’admiration et l’irritation vont croissant. C’est d’abord l’admiration qui domine. Pour la stupéfiante performance de l’auteur. L’ouvrage, écrit en marge de la préparation d’une série télévisée, couvre quinze cents ans d’histoire, puisqu’il va des origines bibliques à 1492, année de l’expulsion des Juifs d’Espagne (un second volume devrait suivre, courant de 1492 à l’époque contemporaine). S. Schama n’a travaillé qu’à ses tout débuts sur des aspects de l’histoire juive et si le savoir qu’il met ici en œuvre est pour une large part de seconde main, il a effectué et assimilé des lectures d’une étendue proprement gigantesque.
Pour la période biblique et l’interprétation des données archéologiques, un sujet de débats passionnés en particulier depuis une quarantaine d’années, il s’est adressé à des spécialistes reconnus et a tracé sa voie – une voie moyenne, entre la parfaite confiance dans le récit biblique et le postulat de sa totale a-historicité. Surtout, pour les périodes postérieures, depuis l’Antiquité gréco-romaine, avant et après la destruction du Temple de Jérusalem en l’an 70, jusqu’à l’histoire des Juifs dans l’Europe du Moyen Âge tardif, en passant par le monde juif en terre d’islam, l’auteur a consulté les travaux de recherche les plus récents et les plus novateurs. L’information bibliographique, signalée dans les notes, n’est nullement ornementale : le texte principal s’appuie tout au long sur les dernières publications qui comptent, dont, soupçonne-t-on, les spécialistes, dans les différents domaines, n’ont pas eux-mêmes toujours su saisir ce qui fait leur surcroît d’utilité.
Schama donne un texte très enlevé, mais, comme on pouvait s’y attendre, il est à son meilleur dans les deux exercices où l’on sait qu’il excelle, et d’abord dans l’usage des archives visuelles et des données matérielles. Ainsi fait-il merveille lorsqu’il introduit l’exposé portant sur les déchirements internes de la société juive et les circonstances de la révolte des Maccabées par une description évocatrice du palais édifié, à l’est du Jourdain, par Hyrcan, petit-fils d’un Tobiah connu grâce aussi bien à ce que dit de lui Flavius Josèphe qu’à la documentation laissée par un intendant du ministre des finances de l’Égypte ptolémaïque, et représentant d’un milieu juif particulièrement hellénisé. Ou lorsque, pour montrer l’ouverture sur les cultures environnantes, aux iieet iiie siècles de l’ère chrétienne, du judaïsme diasporique mais aussi palestinien, S. Schama mobilise le témoignage des peintures murales de la synagogue de Doura-Europos en Syrie orientale et celui des mosaïques et des restes architecturaux de Sepphoris en Galilée. Ou encore lorsque, afin de souligner la prospérité des Juifs d’Égypte, ou en tout cas de certains d’entre eux, à l’époque, entre xe et xiie siècle, qu’éclairent les documents découverts dans la gueniza (la remise) d’une synagogue du Vieux Caire, il décrit les garde-robes que nous font connaître les papiers publiés et analysés par Shlomo-Dov Goitein et par Yedida Stillman.
L’ouvrage se distingue ensuite dans la façon qu’a S. Schama de faire du récit l’élément même dans lequel se coule une analyse. Le morceau le plus réussi à cet égard est peut-être la mise en perspective de la condition des Juifs, à la fois solide et précaire, dans l’Angleterre des années 1240-1270, à travers le récit d’une vie, celle d’une femme d’affaires avisée, Licoricia de Winchester. Les grincheux diront que l’auteur emprunte sa documentation à une monographie récente [1] [2] Certes. Encore fallait-il savoir, à partir de celle-ci, à la fois brosser un tableau et conduire une démonstration.
chama fait preuve, en chaque chapitre, d’une remarquable capacité à synthétiser les résultats de la recherche, la clarté de la discussion et sa densité faisant bon ménage. J’ai eu à plusieurs reprises le sentiment, en cours de lecture, que, sur telle ou telle question abordée, et sur laquelle j’ai eu moi-même à consulter une abondante littérature, je n’avais jamais lu de présentation ramassée aussi pénétrante, qui sache dégager ce qui compte, et permette de comprendre mieux ou autrement un épisode que je croyais bien connaître. Il faut espérer que la traduction française de l’ouvrage trouvera de nombreux lecteurs, et qu’en particulier un lectorat universitaire saura reconnaître qu’il dispose là d’une « histoire des Juifs » saisie dans toute son ampleur chronologique, qui cumule les avantages, puisqu’elle est exposée selon les critères de l’histoire savante, qu’elle est parfaitement accessible et présente en même temps toute garantie de fiabilité.
Mais l’irritation ? C’est qu’on ne voit aucune des questions fortes que l’histoire des Juifs appelle, on ne dit pas tranchées, mais seulement posées. Pour fil conducteur, S. Schama a pris le thème de la puissance des « mots » : les mots, c’est-à-dire l’exégèse d’une parole tenue pour révélée, et la réinvention constante du sens attribué à son dépôt (d’où le sous-titre : « Trouver les mots »). Ce sont ces mots, nous dit-on, qui donnent la clé d’une pérennité. Peu importe que la proposition ne pèche pas par excès d’originalité. L’ennui est surtout que, sur ces « mots », l’auteur n’est pas à son affaire. À propos de la littérature talmudique et midrashique, il reprend un discours rebattu, et qu’on espérait définitivement remisé, sur un fatras parcouru d’étranges lueurs. Il s’enthousiasme, en revanche, pour Moïse Maïmonide, sans que perce une véritable familiarité avec l’œuvre et ses problèmes. Il suffit à S. Schama de savoir que Maïmonide a tenté de réconcilier l’intérieur et l’extérieur, l’étude du donné révélé et la réflexion philosophique à l’horizon de l’universel, l’ancrage dans l’intime d’une culture et l’ouverture à des questionnements qui s’adressent à tout homme, par-delà les appartenances spécifiques, sur fond de raison partagée ; et de conspuer les adversaires de Maïmonide, obscurantistes obtus.
On ne nourrit pas nécessairement des préférences et des détestations différentes. Mais ces développements rappellent, par la combinaison de la fadeur de la pensée et du lyrisme du ton, un discours apologétique largement diffusé, au moins dans certains courants du judaïsme des lendemains de l’Émancipation. Il s’agit, aujourd’hui comme hier ou avant-hier, de montrer comment l’influence du judaïsme a profité à l’avancement de la rationalité, comment les deux causes, celle de l’identité juive et celle du progrès moderne, se rejoignent naturellement. Et si le texte atteste une baisse de tension et une dérive vers la banalité, non seulement à propos de Maïmonide (qu’à titre exceptionnel S. Schama professe admirer), mais chaque fois qu’il est question des évolutions intellectuelles et religieuses, c’est que « les mots », l’auteur non seulement les connaît mal (il n’a pour bagage que des souvenirs d’enfance et des lectures récentes peut-être pressées), mais, assez manifestement, ressent pour eux peu d’appétence, et qu’ils suscitent chez lui, d’emblée, le malaise plutôt que la curiosité.
Au point d’avoir, face à l’empire des mots, érigé un contre-modèle : celui que lui offre la vie des soldats juifs en poste à la garnison de l’île d’Éléphantine, à Assouan, que nous font apercevoir, pour l’époque de la domination perse en Égypte, des papyrus en araméen découverts à la fin du xixe siècle. L’auteur ouvre son livre sur l’existence au quotidien, longtemps sans histoires, de cette colonie aux coutumes si éloignées de celles qui prévalaient dans l’Israël biblique (ne serait-ce que parce que ces soldats ont érigé un temple, et ignoré ainsi la prescription deutéronomique qui réserve l’exclusivité du culte au Temple de Jérusalem).
De ce que lui apprennent les documents, qui portent sur la vie familiale et les transferts de biens, S. Schama tire cette leçon : « Comme dans tant d’autres sociétés juives implantées parmi les Gentils, la judéité d’Éléphantine était prosaïque, cosmopolite, vernaculaire (araméenne) plutôt qu’hébraïque, obsédée par la loi et la propriété, attentive à l’argent et soucieuse de la mode, très préoccupée par la conclusion des mariages et les ruptures, le soin des enfants, les subtilités de la hiérarchie sociale, sans oublier les délices et les fardeaux du calendrier rituel juif. Par ailleurs, elle ne semble pas avoir été particulièrement livresque. […] C’est le côté suburbain, ordinaire, de tout cela qui, l’espace d’un instant, paraît absolument merveilleux – un peu d’histoire juive sans martyrs ni sages, sans tourment philosophique, le Tout-Puissant grincheux pas très en vue ; un lieu d’une heureuse banalité, très préoccupé par les conflits de propriété, l’habillement, les mariages et les fêtes […] un temps et un monde innocents du roman de la souffrance » (p. 39).
Il est arrivé à Gershom Scholem de moquer une historiographie juive qui dépeignait parfois les patriarches bibliques comme de braves bourgmestres de Rhénanie [3]. Puis-je prendre exemple sur lui pour exprimer des doutes sur une caractérisation des « sociétés juives implantées parmi les Gentils » qui propose de promener d’une époque à l’autre l’histoire de réussite et les préoccupations typiques d’une upper middle class suburbaine ? On a dénoncé, d’ailleurs très injustement, une historiographie juive du xixe siècle trop souvent organisée autour du diptyque souffrances/élévation spirituelle, misère et grandeur. On conçoit que, en période post-moderne où les causes quelles qu’elles soient ne font ni vivre ni mourir, il paraisse judicieux d’écarter le passé de souffrances et de substituer aux récits trop inspirés le prosaïsme de l’épanouissement personnel. Et, après avoir dit sa détestation de l’histoire lacrymale, de réintroduire le malheur pour réagir contre les excès d’un discours devenu rituel de dénonciation de ce type d’histoire, mais surtout pour mieux souligner la présence continue d’une faculté éminemment contemporaine : le rebond, la résilience. Cela revient à remplacer des anachronismes ridicules par d’autres anachronismes ridicules, et à mener l’œuvre apologétique par d’autres moyens. L’entreprise peut au demeurant rencontrer l’adhésion : le livre se transformera alors en livre-cadeau, offert à des enfants qui ne le liront pas par des parents qui ne le liront pas non plus, puisqu’ils ne ressentiront pas le besoin de légitimer par des précédents historiques l’existence suburbaine d’aujourd’hui. Ce serait dommage : voilà un livre qui, malgré ces faiblesses essentielles, est une manière de chef-d’œuvre.
Notes
1. Faruk Tabak, The Waning of the Mediterranean, 1550-1870: A Geohistorical Approach, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008.
2. Suzanne Bartlet, Licoricia of Winchester: Marriage, Motherhood and Murder in the Medieval Anglo-Jewish Community, Londres, Vallentine Mitchell, 2009.
3. Gershom Scholem, « Réflexions sur les études juives », no thématique « Gershom Scholem », Cahiers de l’Herne, 92, 2009, p. 133-145, ici p. 143
Maurice Kriegel
SHAMA, Simon. L’histoire des Juifs. Trouver les mots. De 1000 avant notre ère à 1492. Trad. par P. E. Dauzat, Paris, Fayard, [2013] 2016. 506p. Resenha de: KRIEGEL, Maurice. Annales. Histoire, Sciences Sociales. Paris, n.4, 2016. Acessar publicação original [IF].
A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI) (vol. I). (Séculos XVI e XVII) (vol. II) – CALAFATE (FU)
CALAFATE, P. A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI) (vol. I). (Séculos XVI e XVII) (vol. II). Coimbra: Edições Almedina, 2015. Resenha de: NASCIMENTO1, Marlo do. Os mestres da Escola Ibérica da Paz. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.17, n.1, p.81-84, jan./abr., 2016.
A publicação da obra A Escola Ibérica da Paz vem a ser um resgate de textos latinos manuscritos e impressos de alguns professores renascentistas das Universidades de Coimbra e Évora. Os dois volumes da referida obra foram publicados sob a direção de Pedro Calafate, professor da Universidade de Lisboa, e são fruto do trabalho de uma equipe interdisciplinar que realizou suas atividades via projeto Corpus Lusitanorum de Pace: o contributo das Universidades de Coimbra e Évora para a Escola Ibérica da Paz2. Este grupo de pesquisadores tratou de investigar, transcrever e traduzir manuscritos e textos latinos impressos de autores como Luís de Molina, Pedro Simões, António de São Domingos, Fernando Pérez, Martín de Azpilcueta, Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
O volume I tem por título A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI), com direção de Pedro Calafate e coordenação de Ana Maria Tarrío e Ricardo Ventura. Este volume contém dois estudos introdutórios, apresentação dos textos e, em seguida, a transcrição e tradução de textos de Luís de Molina, Pedro Simões, António de São Domingos, Fernando Pérez (todos em versão bilíngue latim/português) e ainda, em anexo, um texto transcrito de autor anônimo. Os temas abordados versam sobre questões da guerra e da paz, relacionando-as a temáticas que implicam problemáticas de cunho ético, político e jurídico. Conforme aponta Pedro Calafate, est es textos não deixam de ser verdadeiros manifest os sobre o valor da paz e o respeito pela soberania dos povos.
O Estudo introdutório – I, escrito por Pedro Calafate, tem por título “A Guerra Justa e a igualdade natural dos povos: os debates ético-jurídicos sobre os direitos da pessoa humana”. Nest a introdução, o autor aborda várias temáticas desenvolvidas pela Escola Ibérica da Paz, entre elas: o limite do poder papal e do imperador, a legitimidade das soberanias indígenas, a noção de que o poder dos príncipes pagãos não difere daquele dos príncipes cristãos, a compreensão de que a rudeza dos povos não lhes impede a liberdade nem o direito de domínio e de posse. Discute ainda as punições de crimes contra o gênero humano (sacrifícios humanos, morte de seres humanos inocentes) e apresenta a compreensão de que o cumprimento de ordens superiores não deve justificar o ato de um soldado cometer um crime contra o gênero humano. Ressalta ainda a importância do respeito ao direito natural de sociedade e comunicação, e ainda o direito ao comércio, sendo justa causa de guerra o caso de haver impedimentos violentos contra est es direitos.
No Estudo introdutório – II, escrito por Miguel Nogueira de Brito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o qual versa sobre “A primeira fundação do Direito Internacional Moderno”, ressalta o autor a relevância dos escritos dos teólogos-juristas da segunda escolástica para a fundação do direito internacional moderno. Para isso, ele apresenta o contraste entre as doutrinas dos autores da segunda escolástica (primeira fundação do direito internacional) e os autores da “segunda” fundação do direito internacional público, com destaque para Grócio e Pufendorf. Assim, expõe que os da primeira fundação entendem o direito internacional como direito dos povos e os da segunda assumem que a comunidade é como um instrumento de proteção do indivíduo. Compreender o direto internacional a partir do direito dos povos conduz o autor a relacionar o pensamento dos autores da segunda escolástica com o pensamento de John Rawls. Isso porque a obra de Rawls A Lei dos Povos (1999) é alvo de muitas críticas justamente porque ele aborda as relações internacionais na perspectiva dos povos havendo uma grande semelhança com o pensamento dos autores da segunda escolástica. Por fim, enaltece a importância das ideias destes escolásticos para as discussões sobre o direito internacional mais recente.
Antes de adentrar propriamente os textos transcritos e traduzidos, Ricardo Ventura, da Universidade de Lisboa, tece uma apresentação dos textos, o que muito auxilia na posterior leitura. A apreciação destes textos não só traz à tona a cultura presente nas universidades portuguesas do século XVI, como também mostra o que se tem de mais original no pensamento português, fruto de uma extensão da influência da Escola de Salamanca.
Como primeiro texto temos o escrito de Luís Molina intitulado Da fé – Artigo 8 Se os infiéis devem ser forçados a abraçar a fé (p. 76-105), transcrito e traduzido por Luís Machado de Abreu. A primeira conclusão que se tem é que não é lícito obrigar nenhum dos infiéis a abraçar o batismo e tampouco a fé, e que não é lícito fazer guerra contra eles por est a razão ou subjugá-los. Como uma segunda conclusão se tem que é lícito atrair aqueles que são infiéis com favores, dinheiro e afabilidade, para que desta forma possam ser levados a prestar culto a Deus. A terceira conclusão é que qualquer pessoa tem o direito de anunciar o Evangelho em qualquer lugar. Quarta conclusão: é lícito fazer guerra, se for necessário, contra aqueles que impedem a pregação do Evangelho como forma de vingar alguma ofensa, com a devida proporcionalidade. Mostra-se lícito forçar os hereges e apóstatas a conservar a fé que receberam no batismo ou fazê-los abraçá-la novamente, porque a ideia é que a Igreja tem poder sobre aqueles que receberam o batismo.
Em seguida, temos o texto chamado Notas sobre a Matéria acerca da Guerra, lecionadas pelo Reverendo Padre Pedro Simões no ano de 1575 (p. 106-209). Este teve a transcrição de Joana Serafim, tradução e anotação de Ana Maria Tarrío e Mariana Costa Castanho, com o estabelecimento do texto e revisão final de Ana Maria Tarrío e Ricardo Ventura. Pouco se sabe sobre Pedro Simões: apenas que em 1557 ingressou na Companhia de Jesus e em 1569 foi professor da Universidade de Évora. Nest e escrito, o autor trata da questão da guerra em três momentos. Além da referência tomista, o texto tem como inspiração as cinco questões sobre a guerra apresentadas na suma de Caetano. Os três momentos abordados por Pedro Simões são: (i) Acerca das condições da guerra justa; (ii) acerca dos soldados e dos restantes que cooperam na guerra; e (iii) acerca do que é lícito fazer em uma guerra justa. Uma das temáticas que permeia est es momentos e vale ser destacada é a importante discussão sobre os títulos que legitimam o poder português nas Índias.
Em seu escrito, António de São Domingos também discute sobre a matéria da guerra. Este autor nasceu em Coimbra em 1531 e professou em 1547 no convento de São Domingos em Lisboa. Assumiu a cadeira prima na Universidade de Coimbra em 1574 e veio a falecer entre 1596 e 1598. Seu texto De bello. Questio 40 (p. 210-341) tem a mesma estruturação feita por São Tomás ao tratar do tema em sua Suma Teológica, ques ão 40, que a estrutura em quatro artigos. Este escrito teve a transcrição e o estabelecimento do texto feitos por Ricardo Ventura e contou com a revisão final da transcrição, tradução do latim e notas de António Guimarães Pinto. Os quatro artigos são assim apresentados: no Artigo 1º, a questão é se fazer guerra é sempre pecado; no artigo 2º, se é lícito aos clérigos combater; no artigo 3º, se numa guerra justa é lícito usar de ciladas; e no artigo 4º, se é lícito combater nos dias santos. É importante destacar, deste manuscrito, que Frei António, ao elencar os títulos que dão direito à guerra justa, diverge de Francisco de Vitória e seus discípulos que defendiam que o direito que Cristo concedeu aos apóstolos de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura (Mc 16,15) era um direito natural. Para Frei António de São Domingos não era assim, pois est e direito concedido por Cristo não poderia ser confundido com um direito natural. Além disso, salienta (f. 68) que o Evangelho deve ser pregado com mansidão e não por força das armas. Desta maneira, é possível revelar o reconhecido respeito que o autor possuía por quem ainda não era conhecedor da revelação cristã.
Temos ainda o escrito de 1588 intitulado Sobre a Matéria da Guerra (p. 342-497), de Fernando Pérez. A transcrição e o estabelecimento do texto são de Filipa Roldão e Ricardo Ventura, e ele teve como revisor final da transcrição e tradutor António Guimarães Pinto. Fernando Pérez, nascido em Córdoba por volta de 1530, foi professor da Universidade de Évora, ocupando a cadeira prima nesta Universidade de 1567 a 1572. In materiam de Bello a Patre Doctore Ferdinandus Perez é um texto inspirado, principalmente, na questão 40 da II-II da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Desta forma, o autor também desenvolve sua temática por meio de quatro artigos a partir das questões levantadas por São Tomás. Cabe lembrar que o texto de Pérez é semelhante em estruturação ao De Bello de António de São Domingos. Talvez a novidade apresentada neste texto seja justamente a relação que Pérez faz das questões levantadas por Tomás com questões pertinentes à sua época, como, por exemplo, reflexões sobre a questão da soberania dos hispânicos sobre as Índias, sobre a guerra contra mouros e turcos, sobre o poder papal, se o mesmo se estende para fora da Igreja, sobre a defesa do direito natural no caso de matar inocentes, sobre a legitimidade de subjugar povos considerados bárbaros (africanos, indígenas do Brasil e outros).
No final deste primeiro volume, também podemos encontrar a minuta de uma carta dirigida a D. João III, de autor anônimo, de 1556 (?), e nela se encontram as causas pelas quais se poderia mover guerra justa contra infiéis. A minuta desta carta tem a transcrição paleográfica de João G. Ramalho Fialho. Este texto carece de um pouco mais de atenção do leitor pelo fato da grafia ser um pouco distinta daquela com que est amos acostumados.
É possível dizer que este primeiro volume é um convite a pensar o direito internacional e seus vários desdobramentos, principalmente no diz respeito a questões de guerra e de paz. O que fica muito claro nestes escritos é a preocupação dos autores em pensar a guerra em função da paz, e est a relação é um dos motivos que tornam seus escritos fascinantes. Por fim, imagino que seja preciso ressaltar uma pequena falha do volume I, que é a falta do Índice Onomástico, o que se pode encontrar no Volume II, que em seguida abordaremos. Ressalto a falta deste tipo de índice porque est a é uma obra com uma da gama de autores importantes citados e a busca dos mesmos se torna um pouco mais difícil sem est a ferramenta.
Ao adentrar o Volume II, deparamo-nos com escritos sobre a justiça, o poder e a escravatura. Sob a direção e coordenação de Pedro Calafate, est e volume é estruturado em duas partes. A primeira parte contém uma introdução à Relectio C. Novit de Iudiciis de Martín de Azpilcueta, de autoria de Pedro Calafate. Em seguida, temos o texto propriamente dito e, no final dest a primeira parte, em anexo o Novit Ille de Inocêncio III. A segunda parte também possui uma nota introdutória elaborada por Pedro Calafate. Na sequência temos três capítulos, nos quais encontramos, respectivamente, a tradução dos escritos de Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
Inicialmente, é importante ressaltar que a introdução à Relectio de Martín de Azpilcueta, feita pelo Pedro Calafate, é muito válida, pois ela cumpre o intuito de realmente introduzir o leitor no escrito de Azpilcueta que vem em seguida. Nela, Pedro Calafate apresenta claramente o contexto em que o escrito se insere, além de destacar as principais questões discutidas nele. O escrito Sobre o Poder Supremo (p. 23-181), propriamente dito, de Martín de Azpilcueta, tem a tradução do latim e anotação realizada por António Guimarães Pinto. Martín de Azpilcueta, que foi professor da Universidade de Coimbra, aborda em sua Relectio C. Novit de Iudiciis variados temas, porém a discussão central gira em torno do poder supremo dos reis e dos papas, uma temática um tanto delicada de ser trabalhada, pois o que est á em pauta são os limites do poder temporal e do poder espiritual, questões que envolvem a relação de soberania do Estado e da Igreja.
A Relectio é estruturada em forma de anotações, seis no total. Elas foram desenvolvidas a partir da reflexão sobre o texto de Inocêncio III Novit Ille (1204), que pode ser encontrado em anexo à Parte I deste volume, logo após o escrito de Azpilcueta. Nas duas primeiras anotações, encontramos discussões de questões referentes à onisciência divina à sua relação com o livre-arbítrio, e a crítica à astrologia supersticiosa e às práticas de adivinhação, pelo fato de que elas interferem no âmbito da ciência divina. Porém, é nas anotações III a VI que podemos encontrar o centro do escrito, que versa mais propriamente sobre a questão do poder supremo dos monarcas supremos (tanto reis como papas). Cabe ainda ressaltar que Azpilcueta, fazendo jus à Escola Ibérica da Paz, trata da defesa da soberania legítima dos povos do Novo Mundo, defendendo, no âmbito jurídico, que nem o papa nem o imperador possuíam direito sobre o território e a soberania indígena do Novo Mundo.
Na segunda parte deste volume, podemos encontrar uma nota introdutória seguida de três capítulos onde temos, respectivamente, a tradução de escritos de Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
A nota introdutória desta parte, de autoria de Pedro Calafate, apresenta a relevância do conjunto de textos escolhidos dos professores das Universidades de Évora e Coimbra, que tratam de questões como: origem e natureza do poder civil, a escravatura, as relações entre infiéis e cristãos no período entre os séculos XVI e XVII.
No primeiro capítulo, encontraremos excertos de Martín de Ledesma, professor na Universidade de Coimbra entre os anos de 1540-1562, tendo como título Secunda Quartae (p. 197-202). A seleção de textos e a tradução do latim são de Leonel Ribeiro dos Santos a partir da edição príncipe (Coimbra, 1560). São seis excertos intitulados pelo próprio tradutor. Neles são tratados temas que envolvem a defesa da soberania dos povos e do direito natural, o combate do argumento de que a inferioridade civilizacional justifica a guerra e a escravatura, condenando, assim, a escravatura e declarando-a ilegítima quando se tem como pretexto tornar cristãos os escravos. Também discorre sobre o poder papal, destacando que o mesmo não é senhor das coisas temporais e que o poder civil não está sujeito ao poder temporal do papa.
No segundo capítulo, temos o texto de Fernão Rebelo, nascido em 1547, que foi professor da Universidade de Évora. Este escrito tem por título Opus de Obligationibus, Justitiae, Religionis et Caritatis3 (p. 203-241), cuja tradução do latim é de António Guimarães, a partir da edição príncipe (Lyon, 1608). A opção por traduzir apenas algumas questões desta obra se deve à escolha temática. Pelo fato deste escrito possuir uma gama variada de temas, explica Calafate (p. 194), optou-se traduzir apenas as questões relativas à escravatura. E é dentro dessa temática que Fernão Rebelo discorre sobre algumas questões como: quando é legítimo um homem tornar-se escravo de outro, o que legitima a posse de escravos, que tipo de poder tem o senhor sobre o escravo e quais os limites desse poder, quais direitos possui um escravo, quando é lícita a fuga de um escravo e quando est e deve tornar-se livre.
No terceiro e último capítulo deste volume, encontramos o texto de Francisco Suárez chamado Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae Adversus Anglicanae Sectae Errores4 (p. 243-301). Suárez é movido a escrever est a obra no intuito de combater a teses jusdivinistas do rei Jaime I de Inglaterra. A tradução destes capítulos do livro III, cujo título Principatus Politicus se justifica pelo fato deles incidirem mais especificamente sobre a questão da fundamentação da doutrina democrática de Francisco Suárez, conforme explica em nota o tradutor do texto, André Santos Campos (p. 245). Já o capítulo IV do livro VI, que tem por título De Iuramento Fidelitatis, vem de certa forma complementar o que foi exposto no livro III, porém com destaque para o direito à resistência ativa e a discussão em torno do poder indireto do papa ao tratar de questões de ordem temporal.
Cabe ressaltar que a obra A Escola Ibérica da Paz (vol. I e II) é importante por vários motivos. Dentre eles, pode-se destacar que est a obra é válida por resgatar o pensamento destes autores do Renascimento através de seus escritos, pensamento est e que ilumina de maneira crítica vários acontecimentos históricos dos séculos XVI e XVII referentes às questões de guerra e paz, justiça, poder e escravatura. Ela também resgata uma memória histórica que nos auxilia e influencia a pensar o presente e o futuro sob uma nova perspectiva, ou seja, sob a perspectiva de quem compreende o direito como algo inclusivo, do qual todos fazem parte, não distinguindo as pessoas por raça, credo, classe social, costumes, etc. Além disso, é importante ressaltar que a obra A Escola Ibérica da Paz (vol. I e II), que pode ser adquirida através do site da Editora Almedina, permite o contato, de maneira mais fácil, com textos de autores que, de outra forma, seriam de difícil acesso ao público menos especializado.
Notas
1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Av. Unisinos, 950, Cristo Rei, 93022-750, São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: marlo_kn@hotmail.com 2 Projeto PTDC/FIL-ETI/119182/2010 do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tendo como investigador responsável o Professor Pedro Calafate.
2 Projeto PTDC/FIL-ETI/119182/2010 do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tendo como investigador responsável o Professor Pedro Calafate.
3 Desta obra foram traduzidas as questões 9, 10, 11, 12, 13 do livro I.
4 Traduziram-se do latim, a partir da edição príncipe (Coimbra, 1613), apenas os capítulos II, III e IV do livro III, que possui em sua totalidade nove capítulos, e o capítulo IV do livro VI, que possui em sua totalidade 12 capítulos.
Marlo do Nascimento – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: marlo_kn@hotmail.com
[DR]
Giotto et les humanistes: la découverte de la composition em peinture, 1350-1450 – BAXANDALL (Ph)
BAXANDALL, Micheal. Giotto et les humanistes: la découverte de la composition em peinture, 1350-1450. Tradução Maurice Brock. Paris: Seuil, 2013. Resenha de: CARDIM, Leandro Neves. Philósophos, Goiânia, v. 21, n. 1, p.235-249, jan./jun., 2016.
A versão mais próxima para o português do título deste livro de Micheal Baxandall (1933-2008) escrito originalmente em inglês é: Giotto e os oradores. Os humanistas observadores da pintura na Itália e a descoberta da composição pictórica 1350- 1450. Sua primeira edição de 1971 é ilustrada e vem acompanhada de um aparato crítico extraordinário. A última tradução para o francês é a que tomaremos por referência nesta resenha. Mas é preciso dizer que esta tradução, apesar de seu cuidado linguístico, peca principalmente por dois motivos: ela não traz nenhuma das dezesseis ilustrações, tão importantes para o texto de Baxandall, nem os vinte excertos de textos em latim e em grego de alguns dos autores trabalhados no corpo do livro. Supressão injustificável pratica e teoricamente: na prática, tanto as imagens quanto os textos poderiam ser consultados como fontes de pesquisa; teoricamente, porque faz parte da tese do livro mostrar a relação entre tais imagens e textos. Quanto às ideias veiculadas pelo livro é preciso chamar a atenção, desde seu longo título, para o fato de que o autor se propõe analisar não só a obra dos primeiros humanistas que foram observadores da pintura, ou melhor, aquilo que eles disseram sobre a pintura, mas também, e este é o ponto alto do livro, analisar a descoberta propriamente humanista do conceito de composição.
Baxandall toma todo o cuidado de relacionar de modo muito estreito as regras da figuração pictórica com a arte da retórica, e é isto que tentaremos tornar sensível nesta resenha; mas veremos, além disto, que em um mesmo movimento, o autor rastreia a historicidade do conceito de composição com o objetivo de marcar momentos de continuidade e de ruptura relativamente a seu uso vigente no início do Renascimento. Quanto à referência a Giotto e aos oradores, ela deve ser compreendida como o horizonte do livro. Giotto e os oradores delineiam o índice de um problema de fundo que envolve as delicadas e controversas relações que se estabeleceram historicamente entre as duas disciplinas em questão: a pintura e a poesia. O leitor não deve procurar ali alguma espécie de discurso sobre o alcance da pintura de Giotto, não se trata de um livro sobre a história da pintura de Giotto e de suas relações com os oradores, exímios usuários da retórica antiga. Porém, é possível dizer que o livro nos conduz de tal modo através de várias considerações sobre Giotto entre os primeiros humanistas que, no limite, talvez seja possível depreender dali um debate sobre a história da arte no sentido estrito da palavra.
O livro analisa três gerações de humanistas para mostrar que a palavra e a imagem estão emaranhadas na produção de uma mesma estrutura retórica: a composição de uma beleza ordenada. Baxandall aborda “dois problemas conexos”: o primeiro e mais geral é o de saber “o quê, nas preferências visuais, procede da linguagem”, o segundo e mais local diz respeito à “contribuição mais interessante dos humanistas à nossa apreensão da pintura”: o conceito de composição. Em primeiro lugar, Baxandall insiste que “a gramática e a retórica em uso em uma língua dada inflecte substancialmente a maneira com a qual se descreve as imagens” (BAXANDALL, 2013, 21). Isto é compreensível porque a referência à gramática e à retórica determina o tipo de atenção que os primeiros humanistas dirigem à pintura. É justamente isto que põe em relevo o interesse de Baxandall pelo latim humanista, detentor de características formais bem acentuadas. Trata-se de colocar em evidência “as condições linguísticas e literárias nas quais os humanistas operavam quando eles formulavam considerações sobre a pintura” (BAXANDALL, 2013, 21). Em segundo lugar, Baxandall afirma que a ideia de que um quadro tem uma “composição” tem uma dupla fonte: ela foi sugerida por uma categoria humanista e pela própria situação da pintura em uma determinada época. O conceito em questão nasce de um conjunto de problemas e de uma determinada configuração linguística que polariza a atenção do autor para aquelas relações que “unem os hábitos da linguagem à atenção visual”. É neste contexto que a tese do livro deve saltar aos nossos olhos: “é a língua latina que estrutura o ponto de vista humanista” (BAXANDALL, 2013, 22).
As condições linguísticas e literárias devem ser circunscritas em torno do interesse comum dos primeiros humanistas pela ordem retórica e pelo latim neoclássico. A retórica era o centro de suas principais competências e o latim neoclássico era um interesse comum a todos os humanistas: “a arte dos humanistas era a gramática e a retórica” (BAXANDALL, 2013, 26). A situação dos humanistas ao formularem seus discursos sobre a pintura era ao mesmo tempo prática e linguística: eles eram secretários, professores, historiógrafos, e enquanto tais seus campos de atividades intelectuais eram bem específicos. Ao nascerem é óbvio que eles aprendiam sua língua natal, mas enquanto humanistas eles conversavam entre si com uma “língua literária que não estava mais em uso já fazia mil anos”. Esses homens também se esforçavam para diferenciar este latim neoclássico das formas do latim medieval que já estavam degradadas, mas que ainda eram usadas pela Igreja e pelos homens da lei. Conviviam, assim, uma “língua cultural de elite” e uma “língua vernácula e seu uso culto”. Ora, comparado com o latim medieval, o latim neoclássico era muito mais pródigo em discriminações internas, e mesmo seus recursos sintáxicos eram mais ricos do que os das línguas vernáculas da época. Essas línguas, como por exemplo o italiano, não concorriam com o latim neoclássico, o qual era um “complemento especializado” delas. Os primeiros humanistas estavam imersos em uma paisagem cultural e linguística bem peculiar: muitas versões do latim pós-clássico, leituras muito diferentes daquelas que poderíamos imaginar (enciclopédias medievais, retóricas da antiguidade tardia e traduções latinas dos tratados apócrifos de Aristóteles), uso da retórica grega e romana ao mesmo tempo com intenção de persuadir e de ensinar, um público determinado ao qual o orador se referia (o orador pronunciava discursos em casamentos, enterros, investiduras de magistrados, aulas inaugurais). Sob este pano de fundo é possível dizer que a novidade dos primeiros humanistas consiste na “firme resolução de se reapropriar e de praticar a língua de Cícero: eles se veem nesta tarefa com uma energia e um ardor inteiramente novos” (BAXANDALL, 2013, 31). Para nós, esta situação é estranha: qual interesse haveria em fazer um “pastiche de Cícero”? Baxandall nos mostra que “o que há de fundamental e heroico nos primeiros humanistas é o pastiche de Cícero: eles colocavam sua melhor energia em reencontrar estruturas linguísticas perdidas fazia mil anos” (BAXANDALL, 2013, 32). A contribuição destes homens para a cultura pictórica consiste em que eles estudaram os hábitos linguísticos da própria pintura. Para além de um simples uso de palavras e de sintaxe latinas, é preciso ver aí um “comportamento verbal altamente formalizado se aplicar à mais sensível das experiências visuais quase sem que se produza interferências” (BAXANDALL, 2013, 35).
Conscientes do fato de que o latim discriminava melhor certas regiões da experiência do que a língua vernácula, os primeiros humanistas aprenderam a manejar certos grupos de palavras que os levaram a modificar suas percepções da arte e dos artistas. Vem daí o expurgo sistemático e consciente do vocabulário degradado. Vem daí, também, que rastrear esse vocabulário não seja tão difícil. Mas vem daí, enfim, que não seja fácil rastrear as mudanças de sentido que muitas palavras sofreram. A mudança no sentido das palavras não se deixa apreender por aquilo que elas designam ou por aquilo a que se referem. A resposta de Baxandall é clara: “o uso faz o sentido”. Graças a isto é que em seus pastiches de Cícero os humanistas reconstruíram “redes de articulação do léxico” (BAXANDALL, 2013, 44). A propósito, é no interior destas redes que encontram-se as metáforas intersensoriais, as quais remetem o pesquisador à terminologia da retórica clássica que repousa sobre metáforas saídas da experiência visual. É deste recurso antigo sistemático às metáforas ― seja como procedimento estabelecido, seja como bagagem de expressões consagradas ―, é em contraste com este recurso que a novidade de Alberti ganhará relevo.
Os primeiros humanistas atribuíam “importância suprema” à frase periódica: o período ― “frase combinando vários pensamentos e afirmações em várias proposições equilibradas” ―, era o “paradigma da grande frase neoclássica” (BAXANDALL, 2013, 53). Havia aí uma forma artística fundamental que, no início do Renascimento, foi o modelo da composição artística em geral. Assim, para que a frase periódica oferecesse suas “delicadas combinações de elementos diversos”, era preciso, da parte de quem a manejava, um vasto conhecimento do campo semântico, da flexão das palavras, um domínio do vocabulário e da gramática clássica. O que atraía os primeiros humanistas no estilo periódico era, enfim, o uso das “antíteses” e dos “paralelos”.
Até mesmo Alberti usa a frase periódica, a qual opera um arranjo simétrico e equilibrado das palavras, das expressões, das proporções, e mesmo de noções abstratas.
Dos dois métodos que a retórica clássica dispunha para inventar o conteúdo de um discurso (o método especulativo e o método indutivo), foi o método indutivo que exerceu maior influência sobre os humanistas, afinal, eles procuravam algo que tivesse influência sobre suas próprias vidas e práticas literárias. Enquanto o método especulativo só ensinava argumentar em um tribunal, o indutivo ensinava “levar uma vida feliz ou ter um estilo elegante em prosa”. A comparação, modo de operar do método indutivo, tinha um duplo estatuto: funcionava como argumento e como ornamento, funcionando, neste caso, como processo de estilo.
Eles praticavam tanto esses exercícios comparativos que tais exercícios acabaram se tornando um hábito: a comparação está na origem seja de suas observações, seja de suas noções relativas às artes visuais. A natureza de seus discursos exigia comparações extraídas da pintura e da escultura, eles agiam assim baseando-se em precedentes clássicos em que Cícero e muitos outros autores clássicos faziam comparações entre o estilo literário e as artes figurativas. Os humanistas “se remetiam ao material clássico e modificavam, transpunham ou renovavam comparações já empregadas por Cícero e outros autores” (BAXANDALL, 2013, 73). Assim, as anedotas, a mitologia da história da arte, seus lugares comuns, lhes serviam de material, não para fazer considerações diretas sobre a pintura, mas para uso em benefício próprio em seus textos e vidas: “o uso de comprar a literatura à pintura se tornou um jogo humanista” (BAXANDALL, 2013, 78).
O tipo de uso da linguagem que é feito entre os humanistas pode ser delineado desde que notemos que se trata, precisamente, de observações humanistas sobre a pintura.
No elogio ou na censura que eles faziam de uma obra de arte pressupunha-se que o ouvinte não conhecesse a obra, mas isto deveria forçar o orador a possuir o máximo de habilidade usando, então, o registro “florido”: “alguém agencia pigmentos sobre um suporte, e, vendo isto, outro alguém se esforça para encontrar palavras adequadas ao interesse da coisa” (BAXANDALL, 2013, 87). Esta atividade “árdua” e “excêntrica” já era validada pela antiguidade, e como já existiam no latim termos que evocavam categorias visuais, o caso da pintura era ainda mais interessante porque se aprendia com ela “a distinguir quais registros ou quais sensações” correspondiam a estes termos: “o aprendizado de uma língua tão sutil reorganizou suas capacidades de atenção para as obras de arte” (BAXANDALL, 2013, 92). O que era comum aos humanistas não era uma simples questão do gosto, mas uma “comum experiência de uma língua, a posse comum de um sistema de conceitos que permitiam focalizar a atenção” (BAXANDALL, 2013, 93). Esta é a bagagem comum, os elementos constitutivos do ponto de vista humanista que os diferencia do ponto de vista vernáculo.
Baxandall começa a rastrear as observações humanistas sobre a pintura a partir de Francesco Petrarca (1304-1374): ele “recolocou em uso uma forma específica de referência generalizada à pintura e à escultura” (BAXANDALL, 2013, 99). Petrarca trabalha de tal modo com uma “série de grandes oposições” que ele as faz valer como fundamento de sua visão humanista sobre a pintura e a escultura. É por aqui que encontramos os primeiros traços daquelas comparações retóricas. Os primeiros humanistas exploravam as fontes das artes antigas como repertórios de analogias e se inspiravam nos trabalhos plásticos que possuíam duas qualidades necessárias para uma boa comparação: a concretude e a visibilidade.
Assim, os detalhes que serviram para Petrarca elucidar sua arte acabaram, por fim, se tornando um lugar comum obrigatório entre seus sucessores.
Filipo Villani (1325-1407) forjou o mais consistente e durador esquema do progresso das artes. Ele interpreta sua época como decadente e vai buscar em Dante e seus contemporâneos o modelo dos valores necessários para uma renovação da cultura. Villani adota um esquema para interpretar a evolução da pintura no século XIV. O esquema que ele extrai de Dante prescreve o seguinte: primeiro veio Cimabue que tirou a pintura da decadência, em seguida, Giotto, que completou a renovação, enfim, os sucessores de Giotto. Eis o esquema: profeta/salvador/apóstolo. O interesse desta sequência está nos tipos de diferenciações que é possível daí depreender. Ele ainda projeta sobre Giotto não só o lugar ocupado por Dante na história, mas também o lugar que ocupava Zeuxis no esquema de Plínio. Dito de outro modo: Zeuxis está para Apolodoro, assim como Cimabue está para Giotto. Baxandall acredita que este esquema até certo ponto ainda está presente entre nós. Seu interesse está no modo como articula capítulos obscuros da história da arte e no modo como trabalha de forma concisa com diferenciações variadas (prioridade, qualidade, estatura, registro). Seu modo claro de estruturação faz com que ele se baste a si mesmo. Esta é a razão da dificuldade que os humanistas do século XV tiveram para encontrar outro esquema para prolongar o esquema de Villani.
Os humanistas se nutriram não só da literatura latina, mas também da grega. Baxandall mostra que a partir de 1400 as bases literárias se alargaram tanto que, em vinte e cinco anos, suas novas e variadas fontes acabaram influenciando muito suas maneiras de falar sobre a pintura e a escultura.
Precisamente aí encontramos Manuel Chrysoloras (1355-1415), “figura intermediária” relativamente à cultura grega. Sua “marca” foi a estimulação do interesse por essa cultura, a qual deveria “tornar-se o elemento mais dinâmico do humanismo do século XV na Itália” (BAXANDALL, 2013, 137). Uma carta de Chrysoloras ao Papa teve muito alcance na crítica de arte humanista, nela ele recorre a “diversos registros descritivos” e “enumerações generalizadas” para comparar Roma à Constantinopla. Em uma outra carta, e talvez esteja aí sua maior contribuição, ele dá um “alcance geral e uma formulação mais ou menos aristotélica para alguns valores bem precisos: vida dos detalhes, variedade, intensidade de expressividade emocional” (BAXANDALL, 2013, 142). Aristóteles e Chrysoloras situam a fonte de prazer da representação visual no ato de reconhecimento do espectador, mas diferentemente de Aristóteles, Chrysoloras tem grande interesse pela expressividade e, particularmente, pelo artista. Lembremos que os humanistas frequentaram seus contemporâneos bizantinos em Constantinopla. Assim, os humanistas aprenderam a praticar muitos exercícios retóricos separadamente, ou melhor, “como gêneros independentes, em composições realizadas por si mesmas com muita pesquisa e virtuosidade”: “os meios tinham se tornado fins” (BAXANDALL, 2013, 145). Esta é a fonte dos exercícios de descrições detalhadas ou de écfrases como “obras inteiramente à parte”. Essas écfrases possuíam vivacidade visual, clareza, elas tinham o dom de trazer aos olhos o que descreviam. Utilizar os olhos ao dirigir-se aos ouvidos, lançar mão de uma linguagem que esteja de acordo com o objeto descrito, possuir desenvoltura nesta descrição, saber que a écfrase nunca é neutra, combinar noções críticas com procedimentos descritivos habituais já presentes na écfrase, enfim, esses são alguns dos procedimentos determinantes do modo dos humanistas elaborarem seus discursos.
Aluno de Chrysoloras, Guarino de Verona (1370-1460) foi um dos que aprenderam grego para ler Luciano e Arriano, ao passo que os primeiros humanistas queriam ler Homero.
Guarino transmite os valores da écfrase bizantina e aclimata os trabalhos de seu mestre. Guarino exalta a literatura em detrimento das outras artes e argumenta que a pintura não mostra as qualidades morais, mas sim as aparências; ela agrada mais pela destreza do artista do que pela importância do tema; ela não é durável como um livro. Ao comparar a pintura com a literatura, Baxandall nos mostra que Guarino indica os “limites da pintura” com dois argumentos: os quadros são “pouco aptos para veicular o renome pessoal” e “não são cômodos para transportar”. Guarino e seus alunos trabalharam muito com este gênero de escrita em torno da obra de Pisanello: seus escritos, particularmente os de Guarino, reúnem em suas descrições o valor retórico que a variedade da pintura pode ter, os atrativos e efeitos da écfrase, e as categorias críticas de Chrysoloras. Baxandall vê aí uma “combinação muito eficaz” na qual encontramos uma concepção de composição que será recusada por Alberti: sua “nova concepção” de composição só ganha relevo sobre o fundo da “concatenação das proposições de Chrysoloras, dos valores ecfráticos e da arte de Pisanello” (BAXANDALL, 2013, 161).
Analogia entre pintura e literatura, esquema histórico, práticas e valores da écfrase: falta acrescentar que Bartolomeo Fazio (1400-1457), aluno de Guarino, traz um duplo aporte que deve aparecer neste rastreamento. Por um lado, Fazio introduz uma associação entre personalidades notáveis, pintores e escultores; por outro, ele retoma dois lugares comuns sobre a relação entre as duas artes: a afinidade que Filostrato o Jovem via entre a pintura e a poesia (que nos remete à exaltação da expressão), e a compreensão da pintura como poesia silenciosa tal como ela chega até nós vindo de Simônides. Ele aprofunda tudo isto no sentido de explorar a expressão do caráter e da emoção. Enfim, só compreenderemos o fato de que tanto a pintura quanto a poesia “têm em comum esta função expressiva”, se reencontrarmos, por trás destas ideias, os rastros de Horácio quando elabora metáforas retóricas que pretendem tocar o coração dos ouvintes. Só assim a superioridade da pintura pode ser reconhecida. Mas se é verdade que as convenções do neoclassicismo eram corretas, é verdade, também, que, segundo Baxandall, elas desviaram os humanistas de empreitadas mais profundas.
Vários caminhos poderiam ter sido seguidos. Aí encontramos Lorenzo Valla (1407-1457) com sua teoria da percepção sensorial e seu “novo esquema” ou “modelo” para pensar a história da arte italiana. Segundo ele, o progresso das artes deve ser visto como um “efeito das relações sociais”: em princípio, “um indivíduo inova”, em seguida, “sua inovação é tornada acessível à seus confrades, e, em troca, ele tem acesso à totalidade de suas invenções” (BAXANDALL, 2013, 192). Enfim, o impasse da crítica humanista não é um índice de mediocridade: o ponto está em que as convenções dos humanistas “não forneciam a um Lorenzo Valla ― ou, em outro sentido, a um Léon Battista Alberti ―, um quadro que encorajasse suas reflexões” (BAXANDALL, 2013, 193).
O tratado de pintura escrito em latim por Alberti (1404-1472) ― De pictura ―, se distingue de todos os outros textos da época pela “seriedade da iniciativa”. A formação humanista de Alberti ainda incluía uma prática da pintura. É neste cruzamento que encontramos a noção de composição e o método de Alberti. Como compreender que mesmo sendo humanista Alberti não se comporte como um humanista? O traço principal que define o tratado de Alberti como um livro humanista deve ser procurado nas competências exigidas ao leitor. Peritos em analogias, os humanistas não elaboraram nenhuma teoria da pintura em quanto atividade intelectual relacionada com seus estudos.
Ao que tudo indica, não havia uma demanda urgente de um livro como o de Alberti, mas o lugar que ele ocupa era oferecido pelo próprio sistema de pensamento da época.
Seu público deveria possuir “três tipos de competências”: ler facilmente em latim neoclássico, dominar os Elementos de Euclides e um pouco de ótica geométrica, saber desenhar ou pintar. Ainda que seu leitor não seja um humanista tradicional, resta que a redação do livro era autorizada pela tradição: “o De pictura aparece como um manual que dava os meios de uma apreciação ativa da pintura a uma espécie inabitual de amadores humanistas informados”. O leitor de Alberti precisava ter simultaneamente um ponto de vista euclidiano e ciceroniano. Assim, a noção de composição surge como a “maneira com a qual um quadro deve ser organizado para que cada superfície plana e cada objeto traga sua contribuição ao efeito de conjunto” (BAXANDALL, 2013, 205-06).
O procedimento de Alberti é duplo: ele reconduz a pintura a uma “certa norma, feita de pertinência narrativa e de conveniência e economia” ― “norma amplamente giottesca” ―, mas que é uma “norma não-clássica”, já que visa a pertinência e a organização. Por um lado, as normas de Giotto, por outro, sua aplicação à relação das formas no interior do quadro. A “arma” de Alberti contra a tradição virtuosística da écfrase é a noção de composição. Esta noção já possuía o sentido geral de colocação em conjunto, e isto, de Vitrúvio à estética medieval. Mas Alberti ao mesmo tempo modifica o conceito anterior e introduz nele um sentido novo. A grande novidade de seu conceito de composição está na “interdependência das formas”. No momento em que ele enuncia isto, no momento em que inova, ele está, ao mesmo tempo, “mais condicionado do que nunca, em suas possibilidades de comunicação com seus leitores, por sua situação de humanista escrevendo para humanista”.
Alberti interpreta a obra de Giotto como se ela fosse uma “frase periódica de Cícero ou de Leonardo Bruni”! A eficácia deste modelo permite a Alberti submeter a pintura a uma análise funcional rigorosa que encontra, ao fim e ao cabo, seu complemento visual na obra de Mantegna, o qual adota o regime narrativo sugerido no tratado que, por sua vez, relaciona internamente termos com procedimentos e ingredientes tradicionais. O conceito de composição “emana de um conjunto de elementos e de disposições humanistas”, mas Alberti reúne esses elementos e disposições em sua própria formulação:
assumindo as imagens dos humanistas, ele inverte a analogia que ia da pintura à literatura em uma analogia indo da literatura à pintura, ele tem o atrevimento de reivindicar para a pintura uma organização análoga àquela das frases periódicas bem balanceadas nas quais eles tão freqüentemente formulavam esta famosa analogia (BAXANDALL, 2013, 213).
Alberti se afasta, então, dos humanistas que admiravam Pisanello e Guarino. Ele toma posição com relação a isto e seus termos sofrem “deslizamentos de sentidos” se comparados com os da tradição. Ele tem em mete uma pintura neogiottesca que preconiza a elaboração periódica! Para concluir, diríamos que o final do livro conduz a uma delimitação negativa de nosso ponto de vista, já que delimitado o ponto de vista humanista, há o olhar que, organizado segundo certas modalidades, é muito diferente do nosso. No Prefácio à edição italiana do livro resenhado, Baxandall esclarece um pouco mais o que está em questão em seu livro. Ele chama atenção para dois pontos que, vinte e três anos depois, ainda lhe parecem importantes: primeiramente, seu intento mais geral era “demonstrar que os nossos gostos no campo da arte visual são estreitamente ligados aos conceitos (e também, é óbvio, com as palavras) com os quais refletimos sobre as obras”, em seguida, e mais particularmente, ele fornecia as coordenadas daquilo que era “um gosto artístico ‘latino-humanístico'” (BAXANDALL, 1994, 15). Nem “determinismo linguístico”, nem “‘estrutura’ cultural”.
A sugestão de Baxandall ao leitor é a de seguir um dos fios disponíveis: a linguagem. Ela será capaz de nos fornecer, se não quisermos permanecer no nível da aglomeração causal de inclinações fragmentadas, os elementos necessários para a articulação.
Referências
BAXANDALL, Micheal. Giotto and the orators. Humanist observers of painting in Italy and the discovery of pictorial composition 1350-1450. Oxford: Claredon Press, 1971.
____. Giotto et les humanistes. La découverte de la composition en peinture 1350-1450. Tradução Maurice Brock.Paris: Seuil, 2013.
____. Giotto e gli umanisti. Gli umanisti osservatori dela pittura in Italia e la scoperta della composizione pittorica 1350-1450. Tradução Fabrizio Lollini. Prefácio Michael Baxandall. Milão: Jaca Book, 1994.
Leandro Neves Cardim – Professor de Filosofia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, PR, Brasil. E-mail: leandronevescardim@gmail.com
The Walking Qur’an: islamic education, embodied knowledge and history in West Africa / Rudolph Ware III
O crescimento dos estudos africanos no Brasil, nas últimas décadas, evidencia a necessidade de expandir os objetos de análise para além das relações históricas e culturais afro-brasileiras pautadas na escravidão. Neste processo de emancipação da História da África, um novo tema emerge na agenda dos pesquisadores brasileiros: o Islã. Abordado em publicações pontuais2, o estudo de práticas, crenças, experiências e relações sociais, culturais, econômicas e políticas muçulmanas mostra-se uma necessidade inescapável à compreensão de historicidades africanas, passadas e presentes. A demografia torna inquestionável o papel desempenhado pela África na comunidade islâmica global: a Nigéria possui uma população muçulmana maior que o Irã, maior que o dobro presente no Iraque e que o triplo da Síria; na Etiópia, há mais muçulmanos que na Arábia Saudita; no Senegal, há mais que na Jordânia e na Palestina juntas3. Um peregrino que sair de Dacar poderá cruzar o continente, de oeste a leste, até atingir as margens do Mar Vermelho, andando somente por terras muçulmanas. O Islã, portanto, não é um fenômeno externo à história da África.
Este é o tema central do trabalho de Rudolph Ware, atualmente professor na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos (EUA), cujo objetivo é evidenciar como a experiência da educação islâmica moldou aspectos da história da África Ocidental no último milênio. “The Walking Qur’na” cumpre a importante tarefa de chamar a atenção para esta realidade, muitas vezes desprezada tanto por pesquisadores de História da África quanto de História Islâmica: o Islã africano costuma ser visto como “orientalista” demais para interessar aos primeiros; “africanizado” demais para os segundos. Além disso, a mais importante contribuição do autor é oferecer-nos uma obra inaugural, na qual a educação e a produção de conhecimentos islâmicos ocupam posição de destaque.
Publicado em 2014, o livro é uma versão expandida da tese defendida por Ware em 2004, na Universidade da Pensilvânia (EUA). Nos 10 anos, ele transformou seu estudo sobre educação corânica no Senegal do século XX em importante volume amparado na longa duração, que defende a especificidade e o resguardo das tradições islâmicas na África Ocidental, desde o século XI até as transformações em curso a partir do período pós-1945. Organizado em cinco capítulos, o livro é composto por uma introdução teórica, seguida de um capítulo no qual os principais conceitos – educação, epistemologia islâmica e incorporação (embodiment) – são apresentados. Na sequência, Ware opta por uma organização cronológica para analisar os impactos da educação corânica no Senegal, evidenciando como a cronologia política dialogou com transformações sociais protagonizadas pelos muçulmanos.
Os capítulos abordam a formação de um clero islâmico (c.1000-1770); escravidão e revoluções marabúticas na Senegâmbia (1770-1890); sufismo e mudança social sob o colonialismo francês (1890-1945); reforma epistemológica ou “desincorporação” do conhecimento no Senegal pós-1945. Suas fontes são textos clássicos de tradições islâmicas concernentes à instrução religiosa, oralidades, notas de cientistas sociais do imperialismo europeu, narrativas ficcionais e documentos de arquivos senegaleses, ingleses e franceses, além de observações participantes no Senegal. O argumento fundamental da obra é que o corpo humano foi o vetor primordial dos saberes islâmicos no período clássico, nisto incluído o aprendizado esotérico como princípio ortodoxo do Islã. Daí deriva toda a narrativa: uma vez que o corpo é o Alcorão que anda, ou seja, o livro sagrado memorizado e integrante do corpo físico, toda violência sofrida pelos portadores da revelação seria encarada por seus correligionários como ataque à própria palavra de Deus.
Central na abordagem é o terceiro capítulo, no qual Ware analisa as guerras marabúticas, que marcaram a África Ocidental nos séculos XVIII e XIX. Em sua interpretação, elas corresponderam ao esforço de clérigos islâmicos para impedir a escravização dos muçulmanos. As relações raciais construídas nesse contexto seriam fundamentais à compreensão posterior do Islã praticado pelas populações negras, bem como à produção de discursos civilizadores europeus. Estes, por sua vez, clamariam pela primazia da abolição da escravidão no século XIX, apropriando-se de uma ideia produzida e desenvolvida pelos próprios marabus no final do século XVIII. Não obstante, ao analisar as relações entre Islã e escravidão, o autor produz certa essencialização de personagens africanos, como o Almaami ‘Abdul-Qadir Kan ou o cheikh Amadu Bamba, nutrida por apropriação entusiasmada de narrativas biográficas e tradições orais4. Contudo, isto não reduz o valor do trabalho realizado, uma vez que não compromete o centro da questão.
O trabalho de Ware carrega o grande mérito de evidenciar uma perspectiva epistemológica da educação islâmica com vistas à formação do indivíduo por completo – que envolve valores, comportamentos e conhecimento intelectual. Tal epistemologia, ausente na tradição racionalista ocidental e marcada por castigos físicos, memorização e exposição a situações humilhantes (como a necessidade de a criança peregrinar pelas ruas pedindo esmolas, atividade cuja justificativa é formação do caráter humilde), muitas vezes é entendida como violência, atraindo campanhas de organizações internacionais, governamentais e não governamentais, pela sua supressão. Este é o fio condutor da narrativa, com ênfase no processo de incorporação do Alcorão, performance corporal das práticas religiosas, educação do comportamento e valores, mais do que aprendizado asséptico de conhecimentos abstratos.
Ware analisa a epistemologia associada à incorporação de saberes e adesão ao poder atribuído à palavra do Alcorão, capaz de curas e proteção, cujo aprendizado é tanto intelectual como físico – a palavra deve, literalmente, ser ingerida na água que lava os quadros nos quais os estudantes escreveram suas lições. Ao afirmar que esta orientação decorre do Islã clássico, e não de um processo posterior de africanização, ele se posiciona contrário à tese que estabelece a supremacia árabe na condução e caracterização da comunidade islâmica. Tal tese, estabelecida no início do século XX a partir do colonialismo francês na África, na comparação entre o Islã no Senegal e na Argélia, atribuía caráter inferior ao Islam Noir, o Islã praticado pelos povos negros. Entretanto, ao combater tal interpretação, Ware acaba por inverter o prisma de sua análise. Trata-se, agora, de afirmar que, a despeito das transformações vivenciadas no restante da comunidade islâmica, a “África Ocidental continua a preservar a forma original de educação corânica e suas respectivas disposições corpóreas para o conhecimento”5. Tal afirmação parece estabelecer um novo essencialismo, semelhante àquele produzido pelos colonialistas, mas em direção oposta.
Decerto, sua interpretação é desafiadora e instigante, sobretudo por reequacionar o papel do Islã na África na comunidade global e trazer sua contribuição no campo dos saberes religiosos para o primeiro plano do debate. Contudo, sua premissa traz em si uma reapropriação das teses racialistas, que outrora viam o Islã na África como heterodoxo e inferior. Agora, caberia considerá-lo como indisputavelmente verdadeiro, superior àquele praticado pelos árabes (a quem muçulmanos mourides senegaleses afirmariam que Maomé teria feito grandes críticas6), tributário aos primeiros muçulmanos, visto que a religião teria chegado ao continente africano no ano de 616, antes mesmo do movimento da Hégira – migração de Meca à Medina, que marca o início do calendário muçulmano7. Eis, pois, uma perspectiva afrocêntrica que corre o sério risco de essencializar aquilo que busca historicizar8.
Ao longo do livro, papel importante é atribuído à forma de transmissão de conhecimentos: neste paradigma, uma pessoa não deve acessar um dado saber através de estudo individual, literal e amparado numa racionalidade externa ao sujeito. Antes, este procedimento é entendido pelo autor como decorrente da modernização cartesiana e da racionalidade iluminista, vistas como irreconciliáveis com a corporeidade, a mística e com a relação direta estabelecida entre mestre e discípulo na produção e divulgação de saberes muçulmanos, presentes num modelo clássico. Ware argumenta que a África foi a única região que conseguiu manter a forma clássica de educação corânica, abandonada pelo restante do mundo muçulmano em função da expansão dos valores racionalistas europeus. Portanto, atribui à Europa a gênese do que considera como traços fundamentais de movimentos como o salafismo e wahabismo: a ênfase em interpretações literais como supostamente autênticas, resistência ao Islã místico e às práticas de incorporação, vistas como expressões heterodoxas.
Assim, afirma que o Islã árabe foi corrompido pelo colonialismo europeu, uma vez que identifica os traços fundamentais de correntes como o islamismo, wahabismo e salafismo como decorrentes de um processo de desincorporação, expressão exotérica (voltada para fora do indivíduo, em oposição à esotérica, ocupada com a internalização dos saberes, seja através da memorização ou do consumo físico da palavra) e racionalizada, próprias do pensamento cartesiano e iluminista. Neste sentido, argumenta que a concepção racialista do Islam Noir foi, de forma irônica, salutar para preservar a identidade muçulmana da região. Os franceses, ao acreditarem que o Islã senegalês era inferior ao árabe e, do ponto de vista político, não oferecia riscos às pretensões coloniais, teriam limitado a circulação dos muçulmanos negros no exercício da peregrinação a Meca e estabelecido redes de censura à produção em língua árabe que chegava ao Senegal. Este processo, cujo objetivo era limitar ideias pan-islâmicas e anticoloniais na África Ocidental Francesa, teria resguardado a religiosidade islâmica na região ante a influência modernizante árabe, permitindo à religião e às formas de transmissão a manutenção de disposições corpóreas, vistas como fundamentais à prática9. O restabelecimento de comunicações entre a África Ocidental e os países de língua árabe, após 1945, teria acelerado o processo de desincorporação, iniciado com a oferta de educação colonial nas escolas francesas, e atribuído a ele novo sentido, agora estritamente religioso.
O autor considera a incorporação e a busca pela reprodução do comportamento de Maomé como características fundamentais e universais do mundo islâmico clássico, corrompidas pela modernização que se pretende ortodoxa. Operando um pensamento indutivo, Ware parte da análise das práticas decorrentes da escola de jurisprudência maliquita, largamente presente no Magrebe e na África Ocidental, e universaliza suas conclusões. Este processo permite-lhe atribuir tal modernização a uma suposta contaminação ocidental do Islã. Esta conclusão, contudo, carece de análise mais cuidadosa das relações de outras escolas de jurisprudência islâmica com a produção e exercício dos saberes religiosos. Uma vez que suas referências remetem à fiqh maliquita, pode-se perguntar se as orientações sunitas das escolas shafita, hambalita e hanafita seriam as mesmas10, além das disposições xiitas e ibaditas. De todo modo, sua explanação torna indubitável o desenvolvimento de uma nova epistemologia na África Ocidental, seja ela procedente da cultura ocidental ou de outra orientação islâmica.
“The Walking Qur’na” é um livro de grande importância aos estudos sobre o Islã na África. Elaborado a partir de grande diversidade documental, tem o mérito de conseguir realizar exatamente o que propõe: o estudo da educação islâmica ao longo de um milênio. Um grande desafio que Rudolph Ware consegue superar, trazendo novas e instigantes perspectivas ao debate da História da África diretamente atrelada ao Islã. O livro cumpre o papel de açular o leitor, levá-lo a refletir sobre categorias muitas vezes cristalizadas, fomentar curiosidades e estimular o debate sobre um tema tão fascinante quanto desprezado por grande parte da historiografia sobre a África. A inflexão epistemológica central à proposta torna-o parada obrigatória a todos os estudiosos do tema, ensinando que a história do conhecimento é fundamental ao conhecimento da História.
Thiago Henrique Mota – Doutorando em História em regime de cotutela entre UFMG e Universidade de Lisboa. Bolsista FAPEMIG. E-mail: thiago.mota@ymail.com.
WARE III, Rudolph T. The Walking Qur’an: islamic education, embodied knowledge and history in West Africa. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2014. 330p. Resenha de: MOTA, Thiago Henrique. Epistemologia islâmica como fio narrativo da História na África Ocidental. Outros Tempos, São Luís, v.13, n.22, p.232-237, 2016. Acessar publicação original. [IF].
Jan Hus – cartas de um educador e seu legado imortal – AGUIAR (RBHE)
AGUIAR, T. B. Jan Hus – cartas de um educador e seu legado imortal. São Paulo: Annablume; Fapesp; Consulado Geral da República Tcheca, 2012. 444 p. Resenha de: NASCIMENTO, Renata Cristina de Sousa. Cartas de Jean Hus: Indícios de uma intenção educativa. Revista Brasileira de História da Educação, Maringá, v. 15, n. 2 (38), p. 309-314, maio/ago. 2015
Partindo da proposta epistemológica de Carlo Ginzburg (1989), no ensaio Sinais: raízes de um paradigma indiciário1, Thiago Borges de Aguiar procurou, em sua pesquisa, conhecer e interpretar a ação educativa de Jan Hus, pregador e importante intelectual, que viveu na Boêmia e morreu condenado pela inquisição em 1415. Ele procura os indícios de um educador, que esteve presente através de suas cartas. “Destas chegaram até nós cerca de uma centena, escritas no período de 1404 a 1415, com aproximadamente 80% em latim e o restante em tcheco” (AGUIAR, 2012, p. 39). Em que sentido essa documentação pode expressar a perspectiva educativa de Hus? É preciso ter em mente que a análise de fontes narrativas, como as cartas, sofre a interferência de nossos padrões conceituais, nem sempre compatíveis com a realidade em que foram concebidas. Presente, pois, esta ‘recomendação metodológica’, de aproximação com o passado medieval, dentro do que é possível ao pesquisador de hoje, o autor buscou por meio de dados, aparentemente negligenciáveis, remontar uma realidade complexa, seguindo pistas que poderiam elucidar a rede de relações em que o clérigo boêmio estava inserido, e o discurso educativo presente em seus escritos.
A primeira edição da correspondência de J. Hus foi realizada no século XVI, pelo reformador Martinho Lutero, intitulada Epistola Quadam Piissima et Eruditissima Iohannis Hus. Outras edições foram publicadas seguidamente. Destas Aguiar trabalhou diretamente com duas: a que chamou Documenta, editada por Frantisek Palacký no século XIX, e a outra Korespondence, publicada em Praga em 1920 por Václav Novotný. Tanto o Documenta quanto a Korespondence possuem traduções para o inglês. Grande parte das cartas foi escrita na prisão, no período em que Hus esteve cativo na cidade de Constança. Como a publicação de Lutero foi a precursora da preservação da correspondência, é preciso considerar que parte delas pode ter sido perdida.
O autor analisa a forma de se escrever cartas no século XV, destacando que, nessa época, o manuscrito deixou de ser um objeto quase sagrado, tornando-se um veículo de transmissão do saber. Essa mudança foi notória a partir do século XII com a organização das universidades. Outra importante transformação narrativa foi o aumento significativo da escrita pessoal, privada. Em relação à correspondência hussita, partes dessas cartas também podem ser consideradas pastorais, endereçadas a uma comunidade específica, ou seja, aos praguenses, especialmente os que frequentavam a Capela de Belém, espaço de pregação e vivência direta do clérigo boêmio. Outra parte considerável, um total de 107, é constituída por cartas pessoais que esperavam por resposta. Nessas fontes, o autor procurou indícios de uma intenção educativa em Hus, pois ele correspondeu-se com todas as camadas sociais da época. “Hus era professor da Universidade de Praga e pregador da Capela de Belém. Esses dois lugares marcaram os espaços a partir dos quais ele participou de uma rede de relações, por meio da correspondência.” (AGUIAR, 2012, p. 97). Suas cartas são consideradas pelo autor como artifícios de ensino. Nelas teria a intenção de aconselhar; continuar seu trabalho intelectual; elaborar uma refutação às diversas acusações que lhe foram imputadas; defender a verdade; dar continuidade à sua tarefa pastoral. A produção escrita de J. Hus é imensa, incluindo, além das cartas, diversos sermões, textos devocionais e teológicos. Entre estes, o mais conhecido e discutido no âmbito acadêmico é o Tratado sobre a Igreja (Tractatus de Ecclesia). Nesse texto, afirmou que o pontífice não seria o chefe da Igreja Universal, motivo fulcral em sua condenação à morte como heresiarca, pelo Concílio de Constança no século XV. Uma característica de seus escritos é o uso da língua tcheca e não somente do latim. Devido a isso, sua produção também possui grande valor linguístico. Na busca pelo educador, o autor afirma que Hus realizou ação educativa por meio de sua produção escrita e de seus sermões. Em sua feroz oposição à Bulla indulgentiarum Pape Joannis XXIII, construiu parte de sua argumentação por intermédio de seus sermões na Capela de Belém, e de debates realizados na Universidade de Praga, o que lhe valeu, mais uma vez, a excomunhão2. Outra aproximação discursiva é com Paulo de Tarso. Assim como Paulo, Jan Hus educava por meio de cartas, escrevendo por estar distante. Nelas também afirmava que poderia morrer por defender a verdade, assim como Cristo o fizera. “Ele precisa escrever para pregar e defender seus princípios” (AGUIAR, 2012, p. 168). Parte importante da produção das cartas hussitas, segundo o autor, foram suas narrativas de viagem. Em agosto de 1414, o clérigo da Boêmia anunciou sua decisão de aceitar o convite do rei Venceslau e ir à Constança. Em seu trajeto, enviava cartas detalhadas sobre as cidades pelas quais passava, e a forma como era recebido. Com sua prisão em Constança, seu estilo de escrita sofreu alterações. Aguiar analisa, então, como os temas prisão e morte tornaram-se constantes em sua correspondência. Sua concepção de ensino adquiriu, ainda mais, um viés religioso. Ao escrever ao povo da Boêmia, enfatizava a importância da salvação e do louvor a Deus.
Thiago Aguiar oferece importante contribuição de cunho histórico, quando analisa as cartas enviadas a partir do dia 18 de junho de 1415, data da formulação final da sentença de morte na fogueira. “Neste período entre 18 de julho, quando recebeu a versão final de suas acusações, até 6 de junho, quando ocorreu seu julgamento, condenação e morte, encontramos vinte e cinco cartas escritas por Hus” (AGUIAR, 2012, p. 205). Nestas narrou pormenores de seu julgamento e a impossibilidade de defesa, criticou a desorganização do Concílio, a incompetência e fragilidade intelectual de seus adversários. Elas serviram também como possibilidade de se defender, já que não obteve em Constança espaço real para explicar seu pensamento, expresso em seus escritos. Essas fontes singulares revelam a memória de seus últimos dias e sua convicção de luta pelo que considerava verdade.
Na terceira parte do livro, o autor desenvolve o que chama de construção de um educador por seu legado. Neste âmbito, demonstra como aqueles que foram influenciados por Hus reelaboraram seu legado em diferentes épocas e contextos. Um dos primeiros biógrafos de Hus foi Petr de Mladoñovice, também responsável pela preservação de suas cartas. Mladoñovice foi seu aluno na Universidade de Praga, tendo sido escolhido pelo nobre Jan de Chlum, a quem Hus dirigiu parte de sua correspondência, para acompanhar o clérigo da Boêmia até Constança. Após a morte de Hus, tornou-se professor na Universidade de Praga, assumindo aos poucos papel de destaque entre os Utraquistas3. Seu relato sobre J. Hus é intitulado Historia de sanctissimo martyre Johanne Hus4, primeiramente publicado em Nuremberg em 1528, também por influência de Lutero. Como o próprio nome revela, essa narrativa foi fundamental na construção de Hus como mártir. O mártir defensor da verdade. “Preservar a memória e a verdade por meio do fiel registro do que aconteceu durante o Concílio de Constança foi uma intenção e pedido do próprio Hus” (AGUIAR, 2012, p. 248). Em suas cartas, sempre repetia que não era um herege, e sim um defensor do que era a verdade. Petr de Mladoñovice é o responsável pela divulgação do que a tradição diz que seriam as últimas palavras do mestre Hus: “Tem piedade de mim, ó Deus, eu me abrigo em ti” e “[…] em tuas mãos eu entrego meu espírito”. Uma clara analogia aos últimos momentos da crucificação de Cristo, narrada no evangelho de São Lucas.
A partir da página 274, Aguiar passa a construir o trajeto da expansão da memória de Hus além de sua terra natal, ou seja, a Boêmia. Mesmo com as cinco cruzadas enviadas a essa região, após a eleição do papa Martinho V em 1418, a memória da vida e do sacrifício de Hus, e de seu companheiro e principal discípulo Jerônimo de Praga, também condenado à morte na fogueira em Constança, não parou de crescer. A igreja da Morávia, de influência hussita, é resultado do grupo conhecido como União dos Irmãos. Jan Amós Comenius (1592-1670), destacado educador, foi um de seus mais famosos bispos.
Sem dúvida, o mais importante divulgador do legado de Hus foi Martinho Lutero (1483-1546). Leitor dos escritos hussitas, ele o considerava um verdadeiro cristão. Foi, como já afirmado, o primeiro a publicar suas cartas. Essa divulgação da memória escrita de Hus ocorreu justamente na época do Concílio de Trento (1545-1563), claramente como uma advertência contra a injustiça. Os elogios de Lutero a Hus elaboraram, ao longo do tempo, outra imagem desse personagem, para além de mártir e defensor da verdade: a de precursor do protestantismo, ao lado de John Wycliffe (1328-1384). Lutero afirmou, no prefácio à segunda edição das cartas, que se Hus tivesse sido um herege, ninguém sob o sol poderia ser visto como verdadeiro cristão. Outro escritor protestante que contribuiu para a rememoração de Hus, como precursor reformista, foi John Foxe, que viveu na Inglaterra ainda no século XVI. Aguiar analisa a importância desse autor, entre outros, na introdução do pensamento hussita entre os protestantes. Foxe foi um dos primeiros a traduzir para o inglês os primeiros escritos sobre Hus, sendo também autor do Livro dos Mártires.
Na discussão sobre as traduções da obra de Hus, o autor diz que “[…] cada nova publicação das cartas de Hus é uma nova leitura, acrescentando interpretações e propondo mudanças na compreensão desta correspondência” (AGUIAR, 2012, p. 288). Na França, destaca a figura de Émile de Bonnechose (1801-1875), que publicou, em sua época, dois importantes livros sobre Hus. Entre eles, a biografia intitulada “Os Reformadores Antes da Reforma: Século XV”. Nessa obra, aparece uma nova imagem dos hussitas, como defensores da liberdade de consciência. O contexto da França revolucionária e anticatólica foi fundamental nessa nova reelaboração. Outra contribuição de Thiago Aguiar foi a apresentação de grande parte da historiografia tcheca sobre a reforma na Boêmia. Para ele, “[…] existiram muitos Hus, dependendo da época que se escreveu sobre ele” (AGUIAR, 2012, p. 301). As fontes são as mesmas, mas cada historiador reconstruiu o próprio personagem.
Outro destaque é o uso da figura de Hus como símbolo nacional, representação identitária para o povo tcheco. O nacionalismo do século XIX e a luta pelo fim da anexação ao Império Austro-Húngaro contribuíram para a rememoração do legado desse personagem. As várias mudanças políticas no mapa da região, a criação da Tchecoslováquia e da futura República Tcheca buscaram também em J. Hus uma simbologia, revelando a longa duração do imaginário sobre ele. Essa busca pelo Hus histórico o recriou através de um discurso laudatório e até apologético. Em relação à área da educação, ele também foi visto como o educador da nação tcheca. Outro viés do legado do clérigo da Boêmia foi a construção de sua primeira estátua em 1869 e de seu memorial em 1915. Por fim, o autor procura, no legado imagético de Hus, sua herança cultural. Dividindo a análise em rostos e cenas, Aguiar faz uma rápida discussão sobre algumas representações escultóricas, desenhos, gravuras e imagens construídas desde a idade média. Entre elas, destacou as de mártir, santo, intelectual pregador e defensor da verdade. Percebe-se a inter-relação da narrativa escrita com a imagética. De que maneira Hus é lembrado nos dias de hoje? É importante sua contribuição na área da educação?
Como um personagem é uma construção contemporânea, o livro em análise pode ser visto como um novo olhar, uma nova leitura sobre o clérigo da Boêmia, garantindo uma contribuição da historiografia brasileira, por meio de Thiago Aguiar, na rememoração e reconstrução discursiva de Hus, um indício de seu legado imortal.
Notas
1GINZBURG, C. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
2O papa enviou a sentença de excomunhão maior, que foi tornada pública em 18 de outubro de 1412.
3 Utraquistas é um dos nomes atribuídos ao grupo dos Hussitas, posteriores à morte de Jan Huss, que defendiam o oferecimento da comunhão com o pão e com o vinho (sub utraque specie) também para os
leigos. O utraquismo foi condenado como heresia pelos Concílios de Constança, Basiléia e Trento (AGUIAR, 2012, p. 245).
4 O relato de Petr foi publicado na Boêmia apenas em 1869 por Palacký, sendo posteriormente revisto, a partir de novas fontes, em 1932 por Novotný. Esta última edição é base para a tradução de Matthew Spinka em 1965. Essa versão é a que foi utilizada pelo autor (AGUIAR, 2012).
Renata Cristina de Sousa Nascimento – Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Participante do NEMED (Núcleo de Estudos Mediterrânicos – UFPR). Professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Mestrado em História). E-mail: renatacristinanasc@gmail.com
Crime et Châtiment au Moyen Âge (Ve-XVe siècle) – ROUREILLE (H-Unesp)
TOUREILLE, Valérie. Crime et Châtiment au Moyen Âge (Ve-XVe siècle). Paris: Éditons du Seuil, 2013. 329 p. Resenha de: TEODORO, Leandro Alves. História [Unesp] v.34 no.1 Franca Jan./June 2015.
Uma carta de remissão, elaborada pela chancelaria régia da França no início do século XVI, reporta que o barbeiro Guilherme Caranda, ao final da procissão de corpus Christi na cidade de Senlis, ouviu, na porta de casa, o serralheiro Claude Caure proferir aos gritos várias palavras obscenas e blasfemadoras. Segundo a peça, “numa explosão de raiva”, Caranda – que não era considerado “muito dócil” – teria reagido imediatamente às provocações verbais, retirando uma faca do bolso para golpear o olho esquerdo do blasfemador. Embora este serralheiro tenha protegido seu rosto com a mão, não se estancava a ferida aberta em seu corpo pelo corte, e, por falta de curativo ou cuidados médicos, veio pouco tempo depois a óbito. Com a notícia do assassinato espalhada pela cidade, o barbeiro, temendo algum tipo de repressão por parte das autoridades, fugiu da França para algum lugar não informado. Em 1530, depois de o crime ter sido investigado pelo poder régio, Guilherme Caranda foi inocentado.
A partir dos séculos XIV e XV, num período em que o poder régio passa a julgar com mais regularidade os crimes de homicídio cometidos em diferentes cantos da França, muitos outros homens foram inocentados ou condenados por pareceres emitidos por monarcas. Partindo da análise de casos semelhantes ao julgamento de Caranda, a historiadora Valérie Toureille,1 mestre de conferência da universidade Cergy-Pontoise, procura esquadrinhar, na obra Crime et Châtiment, não apenas um repertório de crimes ou os diferentes tipos de julgamentos que ocorriam na Idade Média, mas também os limites tolerados para a prática da violência física nesses tempos. A história sobre o crime e o castigo que propõe é enriquecida com várias passagens em que investiga o emprego realizado pelos medievos de termos como “homicídio”, “delito”, “inquérito” e “pena”. Dito de outro modo, tomando como alvo o vocabulário da época, a pesquisadora sugere que o fio condutor de seu livro é investigar como, na Idade Média, os juristas e outros letrados descreviam o que entendiam por crime e justiça. A história dos crimes de Toureille está amparada, pois, na convicção de que os diálogos entre o passado e o presente não podem deixar de respeitar a peculiaridade de cada tempo, bem como de que a sensibilidade humana em relação à violência e ao medo é tão histórica e presa aos limites de cada época quanto os inquéritos criminais ou o próprio processo de solidificação dos jogos de poder.
Toureille procura descontruir a impressão – que, segundo ela, está cristalizada no senso comum do homem moderno – de que a violência física era um grave empecilho para o ordenamento social na Idade Média; alega que a percepção que os juristas desse período tinham do mundo era diferente da nossa, por defenderem, por exemplo, tanto a aprendizagem do uso de armas como indispensável para a vida, quanto o assassinato de caluniadores ou blasfemadores como prática necessária para a manutenção da harmonia entre os cristãos. Deslizando por diferentes tipos de documentos, como códigos legislativos e crônicas, a historiadora considera que, ao contrário dos nossos tempos, a Idade Média teria sido um período em que os homens aprendiam a conviver diariamente com a violência física, pois as cidades e as estradas eram lugares repletos de ladrões, assassinos e estupradores. Ao longo do livro, é recorrente, portanto, a ideia de que o cristão estava habituado com cenas de agressão que seriam hoje certamente condenadas, mas que, naquela época, poderiam ser toleradas ou, dependendo do caso, aceitas sem nenhum tipo de repressão pública.
Toureille também chama atenção para o fato de que, nos dias de hoje, é bastante comum ouvir que, na Idade Média, enquanto os camponeses e os clérigos seriam pessoas sem coragem para tomar qualquer atitude violenta, os guerreiros aristocráticos se notabilizariam pelo uso excessivo da força física. Para contrapor tal opinião, ela mostra, a partir de relatos da época, que camponeses e religiosos precisavam aprender a utilizar instrumentos cortantes que carregavam consigo, já que a falta de segurança nas estradas e ruelas das cidades os obrigava a saber se defender de saqueadores. Aliás, Toureille não deixa de afirmar que, malgrado as diferenças entre um camponês e um guerreiro, o varão leigo de todos os grupos sociais era ensinado a demarcar seu território e a impor respeito pela força física. Na visão dela, uma diferença substancial, contudo, era que os nobres possuíam melhores condições do que os camponeses, tanto para se organizar em bandos e se munir de armas, quanto para realizar saques em diferentes lugares. Ao mirar a desconstrução de opiniões de não especialistas acerca da Idade Média, a pesquisadora também defende que a prática de crimes, ao contrário do que já tinha ouvido, estava longe de ser exclusiva dos homens. Analisando algumas peças criminais em que mulheres eram acusadas por roubo de alimentos, panos e outros objetos domésticos, mostra que o crime era banalizado, a ponto de diferentes tipos de cristãos chegarem a cometê-lo, independentemente da condição social e do gênero.
Tourreille não deixa de ressaltar, do mesmo modo, que a escala de crimes hediondos de nossos tempos é diferente do quadro de delitos condenados na Idade Média. Por exemplo, ela afirma que hoje não há na França qualquer espécie de legislação penal para crimes que firam o primeiro mandamento (amar a Deus sobre todas as coisas), mas naquela época, um jurista consideraria, pois, muito mais grave a injúria ao nome de Cristo do que o assassinato em legítima defesa. Explorando os limites da prática do homicídio e da aceitação da violência, Toureille esmiúça códigos de honras e os costumeiros franceses e chega à conclusão de que a sociedade medieval se organizava em torno da batalha, fosse esta um confronto corpo a corpo durante uma guerra ou uma disputa pela defesa da honra da família. Para ela, a batalha era então um meio para as pessoas resolverem suas rixas, tirarem satisfações e, sobretudo, manterem conservada a hierarquia da vila ou do reino frente a qualquer ameaça externa. Por isso, insiste em dizer, em mais de um capítulo, que a ação de matar, quando fosse para a proteção dos seus, era muito mais do que uma ação tolerada, era uma prova de valentia e audácia – dois valores julgados indispensáveis, na Idade Média, a qualquer homem que quisesse ser respeitado e visto como virtuoso.
Ao inventariar os delitos julgados graves, Toureille assevera que a traição poderia ser considerada mais lesiva que o homicídio. Segundo ela, numa sociedade como a medieval em que a palavra era vista como espelho da alma, faltar com a verdade diante de seu superior e deixar de cumprir um pacto firmado eram deslizes considerados inaceitáveis, a ponto de se poder executar alguém por quebra de contrato. Avançando em seu raciocínio, a historiadora vai além e diz que o roubo era outro crime que poderia causar uma sensação de repugnância muito maior que o homicídio, por desequilibrar as finanças das vítimas e criar um clima de instabilidade social. Toureille explica que muitos ladrões, além de tirarem os bens mais preciosos de suas vítimas, aproveitavam a ocasião tanto para estuprar as mulheres quanto para incendiar as casas que foram por eles assaltadas. Por esse motivo, o roubo acabava, para ela, abrindo espaço para outros delitos que passaram a ser cada vez mais reprimidos pelas autoridades régias e religiosas da época.
Ao longo do livro, Toureille também não deixa de afirmar que o homicídio, depois do falecimento das bases jurídicas do Império Romano, era um problema resolvido, na maioria das vezes, pelas partes envolvidas, pois pouco eficiente era o poder régio para conseguir interferir nesse tipo de contenda. Conta essa historiadora que foi apenas, no século XIII, que os tribunais começaram a surgir como mediadores, isto é, instâncias superiores, para punir, por exemplo, a pessoa que tivesse violentado uma mulher ou matado alguém por motivo fútil. Descrevendo o papel do poder régio no fortalecimento dos tribunais, o livro salta para as leis régias que foram criadas para proibir saques, estupros, roubos, assassinatos e outros crimes, isto é, as normas legislativas elaboradas com a finalidade de garantir a integridade física e moral dos súditos do monarca. Daí em diante ganham cada vez mais espaço, na trama de Crime et Châtiment, os mecanismos de contenção de delitos batizados, no final da Idade Média, de “crimes de lesa-majestade”, chamados assim por denegrirem, de algum modo, a imagem do príncipe.
Visando mostrar a formação da justiça régia francesa, Toureille ressalta que os monarcas começaram, entre os séculos XIV e XV, não apenas a criar um corpus de obras jurídicas, mas também a pôr em prática suas leis, enviando funcionários para diferentes cantos das cidades com a missão de punir homicidas, blasfemadores, sodomitas e outros criminosos. Além disso, ela enfatiza que os reis passaram a defender, nesse momento, a existência de um exército permanente, o que teria levado os juristas a condenarem a formação de grupos de saqueadores e de outros homens armados que não possuíam autorização para agir. Destaca essa historiadora que o resultado da criação dessas medidas foi o aparecimento de uma “memória judicial” – ou seja, decretos e cartas que mantinham a salvo do esquecimento tanto as leis quanto o nome de criminosos e seus respectivos crimes. Na sequência, apresenta o governo do monarca S. Luís (1214-1270) como um marco na configuração do direito medieval, pois possibilitou o advento de um sistema de punição cujo cabeça não poderia ser outro homem a não ser o próprio rei.
Toureille ressalta, contudo, que o tribunal monárquico passou a sofrer a concorrência dos tribunais eclesiásticos por volta dos séculos XIII e XIV. Afirma que, desde o século XII, a Igreja já investia na compilação de códigos canônicos e de outros tipos de materiais que pudessem orientar os prelados a saberem como excomungar e degredar pessoas consideradas criminosas. Tal era o papel das leis canônicas que essa pesquisadora reservou um espaço expressivo do livro para dizer que a legislação da Igreja foi a principal responsável por naturalizar a ideia de que o delito não passava de um tipo de pecado que ameaça a ordem, como rapto ou incêndio. Destaca também que, graças à legislação canônica, a confissão do acusado e o depoimento das testemunhas se tornaram peças-chaves para a resolução de crimes. Cruzando a gama de penas aplicadas pelos tribunais reinóis e eclesiásticos, Toureille vai mostrando, portanto, como que, nos séculos XIII e XIV, surgiram novas correntes políticas e teológicas criadas para ajudar o fiel a entender que o uso exagerado da força física poderia desencadear ações delituosas e, por isso mesmo, pecaminosas.
A história descrita por Toureille não é apenas acerca do repertório de crimes e castigos, mas uma história que busca mostrar que os homens da Idade Média, diferentemente de nós, toleravam certos tipos de violência. Nos dias de hoje, em que a criminalização e a descriminalização de algumas práticas são pauta recorrente na sociedade, essa historiadora parte de questões que preocupam o homem moderno sem negligenciar, contudo, a singularidade dos tempos medievais, isto é, o próprio modo como os medievos definiam suas ações. Em suma, a leitura da obra Crime et Châtiment fascina, pois faz o leitor percorrer quatro capítulos muito bem escritos e que se notabilizam pela erudição neles apresentada.
1 Valérie Toureille também é autora de Vol et brigandage au Moyen Âge (PUF/2006), Robert de Sarrebrück ou l`honneur d`un écorcheur (PUR/2014), entre outros trabalhos.
Leandro Alves Teodoro – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP, Contato: teodoro400@yahoo.com.br.
L’histoire, pour quoi faire? – GRUZINSKI (DH)
GRUZINSKI, Serge. L’histoire, pour quoi faire? Paris: Fayard, 2015, 300p. Resenha de: NICOD, Michel. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.203-204, 2015.
Comment et avec quelles précautions enseigner l’histoire de la première mondialisation du xvie siècle? Cet ouvrage montre que, parmi les modes de représentation du passé, le recours à l’histoire est particulièrement adéquat pour élaborer une démarche critique, surtout lorsqu’il s’accompagne de l’utilisation de supports iconiques, tels le cinéma ou le jeu vidéo. Ces supports, en effet, facilitent en classe le travail de distanciation face aux conceptions spontanées.1 L’histoire, pour quoi faire? est l’aboutissement de vingt années de recherches menées par l’historien français Serge Gruzinski. Celui-ci y reprend ses thèmes favoris: la conquête de l’Amérique du Sud et du Mexique par les Portugais et les Espagnols au xvie siècle, le métissage et la rencontre des cultures qui s’ensuit, le rôle et la place de l’image en histoire.
L’auteur plaide pour une étude des regards que colonisateurs et colonisés se sont mutuellement jetés. Il nous entraîne à scruter de l’extérieur notre propre histoire, pour voir comment l’Europe s’est emparée du monde, non seulement avec les armes mais aussi avec ses représentations, ses cartes, sa géographie.
Dans les premiers chapitres, le livre nous invite à une analyse fine des modes de représentation du passé, des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques aux jeux vidéo, des feuilletons télévisuels aux superproductions des cinémas chinois ou américains, qui ont tous bien davantage d’audience que les historiens. L’auteur s’interroge sur le message véhiculé par ces superproductions qui mettent en scène des époques et des lieux différents. Or leurs reconstitutions stéréotypées n’apportent que rarement une réflexion critique. Il en est de même des jeux vidéo qui n’ont rien d’innocent.
Ils mettent trop souvent en scène des idéologies conservatrices exaltant le goût du pouvoir, l’opposition des barbares aux civilisés. Loin d’être des supports de cours idéaux, ils se prêtent néanmoins à une analyse critique.
Ainsi, l’ouvrage met en lumière les nombreux supports qui existent parallèlement aux récits des historiens. En le parcourant, le lecteur prend conscience du décentrement nécessaire à l’étude des sociétés, de l’importance de décloisonner, puis de reconnecter les différents domaines historiques.
L’auteur montre que c’est à partir du local, en l’occurrence de l’étude de l’Amazonie, que pourra s’étudier la globalisation. Cette dernière est au coeur du livre, où le présent se fait l’écho du passé: aujourd’hui au Brésil, par exemple, le trafic de DVD piratés a remplacé le trafic de produits tropicaux du xvie siècle.
En résumé, Serge Gruzinski met en relief la nécessité de poser d’autres questions, de chausser d’autres lunettes pour envisager le passé comme le futur. Selon lui, notre vision du monde est décalée par rapport aux questions actuelles, car les sociétés se mélangent: l’ailleurs est venu en Europe, tandis que celle-ci s’est étendue au monde. Ainsi, une culture de l’entre-deux, mélangée, fragile mais nécessaire, est apparue, celle des métis, passeurs de culture. Le livre en fait l’éloge tout en montrant sa fragilité.
Serge Gruzinski nous interpelle et nous bouscule par les rapprochements qu’il opère entre le xvie siècle et l’époque inquiète que nous vivons.
Son livre est une bonne introduction à ses recherches antérieures et à l’histoire des mentalités.
Il offre une réflexion enrichissante sur notre temps.
Son questionnement nourrit les réflexions de ses lecteurs en les invitant à se demander si nous ne construisons pas des passés afin de construire du sens, des repères pour affronter les « incertitudes du présent ».
Né en 1949, l’historien français Serge Gruzinski, directeur d’études à l’EHESS de Paris, enseigne l’histoire en France, aux États-Unis et au Brésil.
Il a notamment publié La pensee metisse, Paris: Fayard, 1999 ; Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris: La Martinière, 2004 ; L’aigle et le dragon, Paris: Fayard, 2012.
Michel Nicod
[IF]
William Shakespeare: as canções originais de cena – ZWILLING (AF)
ZWILLING, Carin. Colaboração de Leonel Maciel Filho e Andrea Kaiser. William Shakespeare: as canções originais de cena. São Paulo: Annablume, 2010. Resenha de: PATRIOTA, Rainer; BESSA, Robson. Artefilosofia, Ouro Preto, n.16, jul., 2014.
O livro William Shakespeare: as canções originais de cena, de Carin Zwilling (com a colaboração de Leonel Maciel Filho e Andrea Kaiser), é resultado da pesquisa de doutorado concluída pela autora no Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo sob orientação do prof. Dr. John Milton. Desde já, registre-se a importância crucial do livro, que resgata para o público brasileiro uma faceta raríssima conhecida e comentada do teatro shakespeariano, mas que nem por isso deixa de ser imprescindível a todos aqueles que buscam uma compreensão mais ampla d a arte deste que é o mais admirado artista inglês de todos os tempos. Imprescindível, uma vez que n o teatro de Shakespeare, como deixa bem claro o livro de Carin Z willing, a música não se restringia a uma função meramente decorativa, mas antes operava por dentro da trama e com um impacto estético-catártico decisivo. William Shakespeare: as canções originais de cena, desdobra-se ao longo de s eis capítulos. No primeiro, intitulado “ Sobre William Shakespeare: uma visão panorâmica ”, a autora traça um breve painel da vida e da obra do dramaturgo, oferecendo um quadro cronológico de suas peças em que informa o gênero, as possíveis fontes literárias de que Shakespeare teria se servido, e os principais personagens de cada uma ; o capítulo, cuja brevidade condiz com seu caráter preambular, termina com um interessante comentário de John Dryden – extraído de seu Essay of Dramatic Poesy (1668) – e uma linha do tempo situando os principais eventos da vida de Shakespeare no contexto político e literário da época. O segundo capítulo, “ O teatro inglês ”, da autoria de Leonel Maciel Filho, versa sobre a construção dos teatros londrinos durante os períodos elisabetano e jacobino. Nele, ficamos sabendo que o primeiro teatro moderno fora construído em 1576 por James Burbage, um “ simples ” marceneiro e ator, que custe ara sozinho todo o empreendimento e, com um a ousadia que é tão própria ao homem do Renascimento, veio a fundar aquele que provavelmente foi o primeiro teatro popular da Europa. Por problemas contratuais, o teatro de Burbage teve de se r demolido, mas a madeira empregada em sua construção servi ria para a edificação do famoso Globe – o teatro para o qual Skakespeare veio a escreve r grande parte de suas peças. Leonel Maciel Filho finaliza seu capítulo com uma discussão s obre a retomada do teatro clássico durante o Renascimento. Seguindo as orientações de Vitrúvio em seu De Architectura sobre acústica e teoria da música, os arquitetos do Renascimento tiveram grande preocupação com a questão sonora. Segundo Leonel, essa mesma preocupação norteou a construção d o teatro shakespeariano, pensado mais em função do ator (e do músico) que do cenógrafo. Em “ A música na época de William Shakespeare ”, Carin Zwilling volta à cena e, nesse terceiro ato de sua obra, atua com excelente desenvoltura. De início, descreve a situação social dos músicos e seus divers os papéis, sobretudo o de músico de corte, abordando em seguida – com o auxílio de interessantes ilustrações de época – os
instrumentos mais utilizados, como o alaúde, o virginal, a s viola s da gamba, as flautas, sacabuxas etc. Sua exposição culmina n uma importante exposição conceitual sobre a canção moderna. Nascida da busca pelo resgate da música grega e em oposição ao “artificialismo” da polifonia renascentista, a canção se pauta na expressão de afetos embutidos no texto e elaborados pela melodia. Depois de incursionar pelas terras italianas e esclarecer o conceito de seconda prattica, formulado por Claudio Monteverdi, Zwilling destaca a figura de Thomas Morley – importante madrig alista do período elisabetano, autor de duas canções para o teatro de Shakespeare e de um manual de composição (que é brevemente comentado pela autora). Com o quarto capítulo, “ A música na obra de William Shakespeare ”, chegamos a um momento crucial do livro de Carin Zwilling.
Nele, a autora fornece uma série de dados sobre as canções n as peças de Shakespeare e nos instrui sobre as inúmeras referências musicais feitas pelo dramaturgo, não apenas as poéticas, mas também as técnica s – as indicações para a execução de música de fundo ou para a entrada em cena dos músicos. Discute – a partir das categorias apresentadas pelo renomado pesquisador em Shakespeare Frederick W. Sternfeld – as diversas funções que cabia à música desempenhar dentro da trama e no palco, a exemplo da “música mágica”, que ambientava situações idílicas ou oníricas como aquela em que as fadas ninam Titânia em Sonho de uma Noite de Verão. Às quatro categorias de Sternfeld, Zwilling acrescenta a categoria de “música das esferas”, observando que não só em Shakespeare, mas no teatro da época em geral, o conceito pitagórico de “harmonia das esferas” circulava como um signo cósmico a traduzir a vida e a arte. Segue-se uma descrição das formas de música vocal presentes na dramaturgia shakespeariana, como o carol e o catch, o madrigal, a balada – o gênero predileto de Shakespeare – e a lute air, esta última intimamente associada à obra do ilustre compositor e alaudista John Dowland. O capítulo termina com um quadro das canções utilizadas por Shakespeare, indicando não só a peça da canção, mas também o nome do compositor, o gênero musical a que pertence e sua localização específica na peça (ato e cena). O quinto capítulo, “As canções originais de cena de William Shakespeare”, é o coração do livro de Carin Zwilling. Fruto de cinco anos de pesquisa, ele traz comentários esclarecedores sobre 3 2 canções d e Shakespeare (apenas 33 foram encontradas de um total de 72), contendo ainda a transcrição das partituras e a tradução dessas canções – feita pela autora em colaboração com Leonel Maciel Filho e Andrea Kaiser. Trata-se de um material precioso e do maior interesse para músicos – especialmente aqueles que se dedicam ao repertório antigo –, gente d e teatro e apreciadores de Shakespeare e da literatura em geral. O livro termina com um capítulo que é, na verdade, um apêndice – “Biografia dos compositores das canções de Shakespeare”. Tem-se aqui dez verbetes extraídos do The New Grove Dictionary of Music and Musicians traduzidos por Leonel Maciel Filho. A despeito de seu caráter genérico, o material cumpre sua função como uma fonte de informação para estudantes de música, pesquisadores e curiosos em geral. Não há dúvida de que o livro de Carin Zwilling é digno da maior consideração, sobretudo pelo esforço musicológico de transcrição e análise das canções. Na verdade, ao chamar a atenção para o fato de que o teatro de Shakespeare possuía canções e muita música de fundo, a autora nos convida a reformular nosso ponto de vista acerca d e uma obra que tem sido apreciada sobretudo como literatura, mas que, em sua origem, é mais que isso – é teatro, ou seja, palco, com atores, cantores e instrumentistas. Pela importância da temática e do livro em si mesmo, faz falta, no entanto, uma boa apresentação ou mesmo um prefácio que, em chave estética e musicológica, fizesse as devidas honras ao livro.
Observe-se, por fim, que a autora, que também é alaudista, nos dá um excelente exemplo de que o trabalho do músico não precisa se confinar à lida da performance, podendo – ou mesmo devendo – se prolongar e potencializar pela atividade intelectual e investigativa.
Rainer Patriota-Graduado em música pela UFPB e doutor em filosofia pela UFMG; professor e pesquisador pelo PRODOC junto ao IFAC/UFOP.
Robson Bessa-Graduado em música pela UFMG e doutorando em literatura pela UFMG.
A consciência de um império: Portugal e o seu mundo (sécs. XV-XVII) – MARCOCCI (VH)
MARCOCCI, Giuseppe. A consciência de um império: Portugal e o seu mundo (sécs. XV-XVII). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012, 533 p. PANEGASSI, Rubens. Varia História. Belo Horizonte, v. 30, no. 52, Jan./ Abr. 2014.
Giuseppe Marcocci é um historiador cujas publicações tem ganhado notoriedade junto aos investigadores dedicados ao estudo da formação do Império ultramarino português. Doutor em História pela Scuola Normale Superiore (2008), atualmente é professor da Università degli Studi della Tuscia e tem dedicado suas investigações ao mundo ibérico, com especial atenção ao caso Português e seus principais temas, tais como Inquisição, escravidão, missões extra-europeias e também a justiça no Antigo Regime. No Brasil, participou recentemente evento, além de ter publicado artigos em periódicos relevantes, tais como a Revista de História da Universidade de São Paulo e a revista Tempo da Universidade Federal Fluminense.
Sem perder de vista as contribuições de grandes nomes da historiografia, tais como Luís Filipe Thomaz, António Manuel Hespanha, Francisco Bethencourt e Laura de Mello e Souza, importa notar que o livro de Marcocci traz efetiva colaboração a um campo de estudos onde o número de pesquisas é relativamente escasso. Desse modo, ao preencher uma notória lacuna a respeito do âmago das conquistas lusas, o livro consolida seu trabalho como referência imprescindível aos intressados no debate a respeito da configuração dos impérios coloniais e suas doutrinas políticas nos primórdios da Época Moderna.
Assim, ainda que o autor nos assegure que a noção de império seja pouco comum nas fontes da época, A consciência de um império compreende Portugal como a primeira monarquia europeia a fundar um império de dimensões globais, bem como um necessário aparato ideológico que solucionasse os problemas de natureza jurídica e moral que se desdobravam da ingerência reclamada como direito frente a diversidade de grupos étnicos e suas variadas manifestações culturais e religiosas. Em vista disso, Giuseppe Marcocci parte das bases jurídicas daquilo que denomina como a “vocação imperial portuguesa”, para alcançar a especificidade da herança das elaborações políticas de um império moderno, mas que deitava suas raízes na escravidão, uma instituição atrelada fudamentalmente à antiguidade. Em síntese, é a figuração de Portugal como um agressivo império marítimo o legado que se definia no próprio momento em que a Europa ganhava os contornos de um mosaico de impérios em concorrência.
Trabalho de fôlego, o livro recupera a densidade e o vigor do expansionismo ao atar os laços existentes entre as esferas da economia e da política, aos esquemas culturais e religiosos que estruturaram a consciência do Império português. Diante disso, traz uma perspectiva inovadora ao se deter sobre os pressupostos conceituais característicos do ideário português nos primórdios da Época Moderna, sem perder de vista sua peculiaridade: o entrelaçamento entre Estado e Igreja.
Os doze capítulos que compõem o livro estão distribuídos ao longo de quatro partes bem definidas. Na primeira, A vocação imperial portuguesa, Marcocci debate a intervenção a posteriori do papado na fundação das premissas jurídicas do futuro Império, com ênfase no papel estruturante que a bula Dum diversas (1452) teve como instrumento legitimador de suas futuras ocupações. Partindo desta proposição, o autor esclarece os vínculos de obediência existentes entre os portugueses e o papado, bem como a reivindicação lusa pela ortodoxia católica. Pautada pela necessidade de justificar o tráfico de escravos negros na costa da Guiné, Roma tutelou o acesso exclusivo dos portugueses aos litorais da África atlântica. Em suma, é da incapacidade de legitimar suas conquistas num paradigma distinto das concessões papais que Portugal traçaria o percurso a ser seguido por outros grandes impérios europeus. Entretanto, no início do século XVI o país ibérico definiria um novo posicionamento em relação a Roma no intuito de garantir maior autonomia na gestão de seu império com a criação da Mesa da Consciência, órgão encarregado de se pronunciar sobre matérias tocantes à consciência do rei e que promoveu uma fusão sem precedentes entre as esferas política e religiosa no vértice do reino.
Em A Etiópia, prisma do império, ganha relevância os diferentes usos políticos do mito do Preste João em Portugal. Se num primeiro momento a figura do lendário soberano tornou-se emblemática referência do sucesso da expansão marítima em concomitância à figuração da Etiópia como aliada para a reunificação da Igreja, em um segundo momento são as implicações subversivas do cristianismo etíope que ganham notoriedade. Ou seja, a construção da legitimidade das conquistas a partir da celebração de cristão julgados como heréticos tornou-se um modelo a ser necessariamente abandonado. Tal mudança foi definida pelas rígidas posições frente ao cristianismo etíope adotadas por um atuante grupo de teólogos no interior da corte portuguesa. Doravante, o mítico aliado desapareceria do horizonte cultural português, e paralelamente, vozes dissonantes do movimento humanista seriam sufocadas. Desse modo, ao lado da Mesa da Consciênca, a Inquisição e a censura literária se tornariam as três principais instituições a concorrerem para a definição de um império católico no qual a Etiópia passaria da condição de reino aliado a terra de missões. Definitivamente, a consciência do Império português atrelava-se de modo cada vez mais significativo às formas de inclusão da diversidade na comunidade de crentes.
A terceira parte, Conquista, comércio, navegação: um senhorio disputado, é a mais extensa e se detém nas controvérsias a respeito do controle das especiarias e da supremacia sobre os mares. Aqui, o autor assinala que foi no calor das polêmicas levantadas pelas monarquias europeias contra as pretensões imperialistas das coroas ibéricas que a consciência de um “império marítimo” ganhou seus primeiros contornos no reino português. Sobretudo em face das críticas pela participação direta da coroa no tráfico comercial, que embora possuissem justificativas, encontravam também seus limites nas tradicionais doutrinas cristãs da Idade Média. Por sua vez, a negligência da veiculação da imagem de um príncipe amado e temido, sugerida por alguns ideólogos do Império também foi pautada por estas tradições, que presumiam um modelo político marcado pelos valores da ética cristã. Ou seja, no âmbito das ideias, a violência estaria diluída na perspectiva da conquista espiritual. Com efeito, todo este dabate não correria separado das primeiras reflexões a respeito do papel que o mar desempenharia no equilíbrio de um complexo sistema de domínio que se constituía para além dos limites da Europa. Objeto controverso na época, Marcocci sugere que os descobrimentos modificariam definitivamente a relação entre a terra e o mar, sendo que este passaria a ser compreendido nos quadros de um novo equilíbrio que se origina do pleno conhecimento da verdadeira forma geográfica, bem como das efetivas distâncias do mundo.
Conversões imperiais: para uma sociedade portuguesa nos trópicos? é a última parte do livro. Nela, Marcocci nos faz notar que a ascensão das ações missionárias deu-se no exato momento em que o Brasil tornava-se o centro do sistema colonial lusitano. Tendo em vista que as sociedades nascidas do Império português são caracterizadas pela presença de escravos em resposta às exigências de um sistema produtivo agrícola, o autor atribui relevância ao sacramento do batismo, uma vez que o domínio sobre homens privados de liberdade em nome da conversão era o fundamento jurídico do Império. Assim, na perspectiva do autor, a formação histórica do Brasil nos quadros do Império português está atrelada a um projeto missionário onde os jesuítas desempenharam papel fundamental, de modo que a relação entre batismo e escravidão logo se entrelaçou aos
debates sobre a humanidade dos índios. De todo modo, ao passo que este sacramento seria o instrumento capaz de mudar a posição jurídica e social dos conversos, o contraste entre a perspectiva libertadora da conversão e a dura realidade dos escravos é apresentado como o mais notório vínculo de todo o mundo português do início da Época Moderna.
Por fim, cabe observar que o livro nos conduz à percepção de que a interpenetração entre o Estado e a Igreja define as linhas gerais de inúmeros aspectos da História do Portugal Imperial. Mesmo a retomada do modelo do Império Romano, tida pelo autor como uma das características mais originais da cultura renascentista portuguesa foi sufocada no que tangia à admiração dos autores lusos pela religião romana, o que nos revela o atuante pressuposto de um enquadramento doutrinal que se mostrava indispensável diante do problema da inclusão civil dos novos súditos da coroa. Elemento imprescindível a uma construção política cujo primado, por sua importância e originalidade, seria amplamente valorizada pela cultura europeia, em uma conjuntura de franca mundialização.
Fundamentado em sólida e diversificada pesquisa documental, Marcocci faz uso tanto de cartas, tratados e crônicas impressas, quanto de processos inquisitoriais e outros códices manuscritos pertencentes a fundos diversos, investigados majoritariamente em arquivos portugueses e italianos. Com efeito, um dos fundos ao qual o autor reserva especial atenção é a Mesa da Consciência e Ordens, parcialmente conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Com escrita clara, o livro interessa não apenas aos especialistas, mas a todos que entendem a história como um recurso para a compreensão dos debates contemporâneos, cujos ecos do passado encontram reverberação em fenômenos como a globalização da economia, a homogeneização cultural, ou até mesmo o emprego maciço da força militar como garantia da manutenção da ordem mundial.
Rubens Panegassi – Departamento de História Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa (MG), Brasil, e-mail: rubenspanegassi@gmail.com.
Macabéias da colônia: criptojudaísmo feminino na Bahia – ASSIS (PL)
Em 1497, os judeus portugueses foram convertidos à força e transformados em cristãos-novos. Apesar disto, uma considerável parcela destes, agora chamados, antigos judeus, continuou praticando e repassando os ensinamentos de seus antepassados às novas gerações, adotando comportamentos e práticas secretas. Porém, com a instauração do Tribunal do Santo Ofício, em Portugal, e a intensificação dos trabalhos inquisitoriais muitos deixaram o território português emigrando para as terras brasileiras. Assim sendo, durante a primeira visitação do Santo Ofício à América portuguesa entre 1591 e 1595 ganhou destaque o número de mulheres cristãs-novas acusadas de práticas judaicas. Isto sinaliza a intensa participação feminina na transmissão e propagação de um chamado judaísmo secreto. 2 Leia Mais
Fictions of Embassy: literature and diplomacy in early modern Europe – HAMPTON (Topoi)
HAMPTON, Timothy. Fictions of Embassy: literature and diplomacy in early modern Europe. Ithaca: Cornell University Press, 2012. Resenha de: DUARTE, João de Azevedo e Dias. Em busca de uma “poética diplomática”. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.
A trama de um dos últimos romances publicados em vida de Henry James, Os embaixadores (1903), gira em torno de uma missão “diplomática” frustrada. Lambert Strether, um norte-americano de meia-idade, é incumbido por sua noiva, a autoritária e rica viúva de Woolet, Nova Inglaterra, mrs. Newsome, de viajar a Paris para resgatar seu futuro enteado, o herdeiro Chad, supostamente envolvido em uma relação indecorosa com uma aristocrata europeia. Previsivelmente, o tiro sai pela culatra e é o “embaixador” Strether quem acaba seduzido pelos encantos do velho mundo, numa reviravolta que põe em risco suas pretensões matrimoniais originais. Metaforicamente empregando aspectos da cultura política da diplomacia na construção do enredo de sua narrativa de ficção, Henry James, talvez inadvertidamente, dava continuidade a uma tradição de diálogo entre duas formas simbólicas iniciada na primeira modernidade, entre os séculos XV e XVII, na Europa.
A “interseção entre a história diplomática e a história da literatura” (p. 1), durante esse período, é precisamente o tema de Fictions of Embassy, terceiro livro de Timothy Hampton, professor de literatura francesa e comparada da Universidade de Califórnia, Berkeley. Imerso na disciplina do novo historicismo, Hampton dedicou-se, em ensaios e livros anteriores, a explorar as relações entre história, política e literatura no Renascimento europeu. Esse seu último livro – uma reedição do original publicado em 2009 – continua no mesmo caminho, examinando as implicações culturais da emergência de uma nova prática política, a diplomacia moderna.
Ainda que o termo “diplomacia” só tenha sido cunhado no século XVIII, a atividade diplomática precede em muito a primeira modernidade, remontando à Antiguidade. No entanto, “durante os séculos XV, XVI e XVII na Europa, a diplomacia sofreu uma série de transformações sem precedentes, tanto práticas quanto teóricas, que fizeram dela um poderoso e importante elemento na política de Estado (statecraft)” (p. 1). A moldura mais geral na qual se encerraram essas inovações – entre as quais se destacam a instituição do embaixador profissional, fixo ou “residente”, e da negociação contínua em lugar dos “favoritos” reais e das embaixadas ad hoc medievais – foi o longo processo de constituição do sistema europeu de Estados soberanos. Tendo como marco histórico a chamada Paz de Westfalia de 1648, acordo que deu fim aos conflitos civil-religiosos no continente europeu, a nova ordem estatal emergente tanto requereu para sua conformação como tornou necessária para sua manutenção subsequente inéditos esforços sistemáticos de diplomacia. Esses requisitos práticos, por sua vez, geraram uma série de problemas – relativos à extraterritorialidade, aos limites da imunidade, às dinâmicas de delegação, representação e ratificação de acordos etc. -, cujas soluções teóricas, extrapolando a cultura retórica e moral do humanismo renascentista, ajudaram a delimitar, nos séculos XVII e XVIII, o campo das “relações internacionais”, um espaço jurídico regido por negociações contingentes entre Estados soberanos que se reconhecem como inimigos potenciais.
Fictions of Embassy não é, contudo, uma “história da diplomacia”. Para as minúcias relativas à constituição da diplomacia moderna, Hampton apoia-se em uma vasta bibliografia, devidamente referida nas notas de rodapé. Como já afirmei, Fictions of Embassy ocupa-se antes da relação entre literatura e diplomacia – “meu foco é menos nos detalhes da história diplomática do que nos discursos que modelam a ação pública” (p. 7). Uma forma de compreender o objeto desse livro é visualizar a diplomacia “como um contexto para o estudo de uma série de grandes obras literárias” (p. 5). Desnecessário dizer que “contexto”, neste caso, não é um dado sólido e fixo (uma “infraestrutura” rígida) do qual se deduz o texto literário, mas sim, ele próprio, um “texto”, até certo ponto aberto, requerendo também uma leitura, da mesma forma que o seu análogo literário. À maneira novo-historicista, Hampton interessa-se pelos processos dinâmicos de conflito e negociação entre formas simbólicas que informam a cultura; o que faz dele, o analista e crítico literário, também uma espécie de diplomata, em busca do que ele mesmo define – ecoando a formulação de Stephen Greenblatt do new historicism como uma “poética da cultura” – como uma “poética diplomática”, i.e.: “tanto uma maneira de ler literatura que seja sensível (attuned) à sombra do Outro na fronteira da comunidade nacional, quanto uma maneira de ler a diplomacia que leve em consideração as suas dimensões fictícias e linguísticas” (p. 2-3).
Vista de uma tal perspectiva, a relação entre literatura e diplomacia na primeira modernidade aparece não como meramente temática ou unidirecional, mas sim como uma relação estrutural e de mão dupla. Mais do que simplesmente fornecer um repertório de materiais (cenas, personagens e tópicos) a escritores de peças, poemas e ensaios (o que não deixava de fazer), a diplomacia oferecia à literatura imaginativa um análogo discursivo, com consequências importantes para ambas. Há semelhanças entre a palavra do diplomata e a palavra do poeta, sugere Hampton, que insiste ser “a diplomacia […] o ato político simbólico por excelência” (p. 5 – ênfase no original), tanto por sua natureza semiótica (sua relação íntima com a produção e a interpretação de signos, gestos e palavras), como pelo fato de que é também uma prática escrita, conscientemente envolvida com questões de representação, narrativa, retórica e autoridade textual. Ademais, na medida em que depende da invenção de “ficções jurídicas” – tal como aquela que determina a “imunidade” do diplomata em missão, como se ele estivesse em seu próprio país -, a diplomacia implica ainda, à semelhança de textos literários, atos de “produção de ficção” (fiction making) – “por ‘produção de ficção’ eu entendo a criação de textos que definem para si mesmos um modo de representação que não pretende um acesso direto à verdade teológica ou epistemológica” (p. 10). Sendo, então, “uma forma de ação política […] profundamente estruturada pela dinâmica da significação”, conclui Hampton, “a diplomacia oferece uma analogia poderosa para com a prática de construção de sentido a que chamamos literatura” (p. 10).
Hampton não está dizendo que a diplomacia e a literatura sejam práticas de representação indistintas, mas sim que, nesse período crítico da modernidade europeia, elas se articulavam de maneiras variadas e complexas, modelando-se mutuamente. “A nova ferramenta política da diplomacia e a cultura emergente da literatura secular modelam-se uma a outra de maneiras importantes”: de um lado, “os textos literários fornecem um terreno único e privilegiado para estudar as linguagens da diplomacia”, dando voz a certas ansiedades e tensões não explícitas da política diplomática, do outro, “a cultura diplomática desempenha um papel dinâmico na história literária, na invenção de novas formas, convenções e gêneros literários” (p. 2). Uma das conclusões importantes do livro é que, exatamente por causa de sua proximidade, a diplomacia acabou por servir como um contramodelo para a literatura de ficção, ajudando-a, por oposição, a definir sua própria voz.
Os capítulos – cuja sucessão segue frouxamente a ordem cronológica, iniciando-se ao final do século XV e terminando ao final do século XVII, com uma coda sobre o século XIX – dividem-se em três seções, cada uma abordando questões em torno a algum tema ligado à atividade diplomática, respectivamente: negociação, mediação e representação. Com leituras de Guicciardini, Maquiavel, Thomas Morus, Rabelais, Tasso e Montaigne, os capítulos 1 e 2 examinam a relação entre a diplomacia e a cultura do humanismo renascentista, no âmbito da qual aquela recebe as suas primeiras formulações teóricas, explorando as tensões entre as expectativas éticas do humanismo e as contingências práticas, nem sempre “honoráveis”, das “úteis” negociações diplomáticas. Esses capítulos iniciais estabelecem também um padrão analítico para a interpretação da interseção entre teoria diplomática e literatura de ficção. De início, delimita-se um conjunto específico de problemas ligados à atividade diplomática (nesse caso, questões relativas ao caráter do embaixador e à extensão de sua liberdade no uso da linguagem no contexto da negociação diplomática) a partir de textos de teoria política e diplomática para, em seguida, discutir o modo como tais problemas são tratados em textos de caráter ficcional, com atenção para seus aspectos linguísticos e retóricos e para tensões ideológicas ocultas.
Já nos primeiros capítulos, Hampton chama a atenção para uma tensão crescente entre os mundos da política e da literatura de ficção; uma tensão que emerge, nos textos, por meio da representação de cenas de diplomacia frustrada, uma recorrência nas obras analisadas no livro. Na leitura de Hampton, a representação literária da diplomacia (e de seu fracasso) serve como um momento crítico, um momento privilegiado não apenas para a reflexão sobre ansiedades e conflitos político-sociais não explícitos, mas também para uma autorreflexão, da qual se origina um estranhamento em relação à política. Na medida em que “a negociação diplomática é vista como a sinédoque da retórica política pública”, argumenta Hampton, então, “é mostrando o colapso da diplomacia que as obras literárias podem reivindicar sua própria autoridade linguística e genérica” (p. 34). Esse movimento duplo de representação dos limites da diplomacia e de autoafirmação discursiva, envolvendo, com frequência, a invenção (ou reinvenção) de novas formas literárias, repete-se ao longo dos capítulos – “por meio do fracasso diplomático, a literatura cria o espaço de seu desdobramento” (p. 186).
Os capítulos 3 e 4 abordam a épica, um dos gêneros narrativos mais importantes do período, a partir de questões relativas ao espaço: deslocamento, extraterritorialidade e encontros entre europeus e não europeus. Por meio de leituras originais de Jerusalem libertada, de Torquato Tasso, e Os lusíadas, de Luís de Camões, Hampton explora a tensão entre as convenções diplomáticas e os ideais heroicos que informavam o gênero. Escrevendo no final do século XVI, num momento em que a cultura retórica e moral do humanismo encontrava-se sob a pressão da nova Igreja militante da Contrarreforma, ambos os autores empregaram a linguagem diplomática para repensar o gênero épico. Negociando uma identidade poética e epistemológica com as formas rivais da épica clássica, da historiografia e das narrativas romanescas, Jerusalém libertada e Os lusíadas tematizam a caducidade dos códigos cavalheirescos medievais e a emergência de um mundo pós-heroico – o mundo do direito internacional, do mercantilismo e das burocracias diplomáticas.
Finalmente, os três últimos capítulos dão conta de questões ligadas ao papel da nova ferramenta política da diplomacia no processo concomitante de constituição dos Estados nacionais e do estabelecimento de um sistema jurídico internacional, tais como: o reconhecimento político da soberania de novas entidades políticas por meio da recepção e do envio de embaixadas; a transição do antigo quadro teológico-moral do ius gentium (a lei das nações) para o novo quadro secular do direito codificado, ius inter gentes (a lei entre nações) nas relações internacionais; e a “domesticação” da aristocracia por meio de sua conversão em uma casta burocrática de diplomatas profissionais. A forma literária escolhida para a discussão dessas questões é o drama, a forma privilegiada nas cortes europeias do século XVII. As análises de Hampton de três grandes tragédias, Nicomède, de Pierre Corneille, Hamlet, de William Shakespeare, e Andromaque, de Jean Racine, mostram como a tragédia, mais do que qualquer outro gênero, tematizou a diplomacia de modo a expor o caráter instável e frágil da nova ordem política. Ao mesmo tempo que projeta uma modernidade pós-heroica – de paz e negociação civilizada entre nações em lugar do amor obsessivo e da violência privada pré-estatal -, a tragédia conjura essa imagem, trazendo ao palco o desejo e a vingança recalcados que põem em risco as próprias instituições que vislumbra.
Fictions of Embassy é, sem dúvida, um livro inovador e instigante, que enriquece e complexifica nosso entendimento de um período crítico da história ocidental, por meio de uma abordagem audaciosa que combina enorme erudição histórica e sensibilidade crítica para explorar o cânon literário da primeira modernidade. Trata-se de um livro denso que, a despeito de seu tamanho diminuto (230 páginas), é capaz de cobrir uma extensão impressionante de tópicos, oferecendo leituras originais de um conjunto não menos impressionante de obras. No entanto, é possível que, ao fim da leitura, o leitor se sinta um tanto ou quanto frustrado com o resultado final de um projeto que lhe parecia de início tão promissor e excitante. É que, em seu afã para persuadir o leitor do papel histórico da diplomacia como o agente decisivo de inovação na história literária, Hampton acaba por, em certos momentos, forçar demais seu material, gerando conclusões apressadas que produzem no leitor o efeito contrário ao esperado. Tenho dúvidas, por exemplo, se “a poética de Tasso e o autorretrato de Montaigne” são mesmo “os subprodutos de suas próprias tentativas de reinventar (reimagine) a ação política por meio de uma reflexão sobre a diplomacia” (p. 71), como Hampton sugere; ou se “a diplomacia é um elemento estruturante central no poema” de Camões (p. 101) ou no Hamlet, de Shakespeare (p. 144-162); ou ainda se “Corneille é o primeiro grande dramaturgo da geopolítica” (p. 122). Eis alguns casos nos quais menos entusiasmo e mais prudência seriam recomendáveis. Ademais, para alguém tão interessado na intersecção e mútua influência entre diplomacia e literatura, Hampton dá pouca atenção aos tratados diplomáticos, utilizando-os apenas de forma subsidiária à leitura das obras de ficção, e nem sequer aborda a carta diplomática, provavelmente o gênero mais importante para a prática da diplomacia na primeira modernidade. Faz falta também uma abordagem mais cuidadosa acerca das transformações ocorridas na diplomacia ao longo do tempo, em especial, na transição da Idade Média à primeira modernidade. Por fim, um diálogo com obras que trataram de usos mais metafóricos e menos literais da diplomacia na literatura, como o brilhante La diplomatie de l’esprit, de Marc Fumaroli, poderia ter sido interessante, sobretudo para a compreensão da influência da cultura diplomática sobre o gênero maior da modernidade, o romance. Em que pesem essas ressalvas, Fictions of Embassy é ainda um livro altamente recomendável a todos aqueles interessados na literatura ou história intelectual da primeira modernidade.
O livro é concluído com um breve posfácio, contendo um comentário sobre O vermelho e o negro, de Stendhal, com o intuito de apontar para a continuidade da história traçada até ali. Se a história narrada em Ficitons of Embassy foi “primordialmente uma história da cultura aristocrática”, a conclusão volta-se rapidamente para “uma consideração acerca de como os temas diplomáticos são transmutados quando apropriados pelo gênero dominante da modernidade burguesa – o romance” (p. 190). Numa leitura perspicaz, ainda que breve, Hampton argumenta que é na obra de Stendhal que a carreira literária moderna da diplomacia toma um rumo decisivo (é possível, porém, que uma leitura do livro supracitado de Marc Fumaroli o desmentisse, antecipando essa virada). O vermelho e o negro, sugere ele, marca o momento em que a diplomacia deixa de ser “a sinédoque da retórica política pública” – ao mesmo tempo o modelo dialógico rival e prenúncio da política burocrática moderna – que havia sido para a literatura imaginativa durante a primeira modernidade. Aliviada de seu peso político, apartada do mundo dos grandes dramas da negociação entre as nações, a diplomacia converte-se numa metáfora social para negociar as intrigas que dão forma aos pequenos (porém profundos) dramas cotidianos, dos costumes, da consciência moral, do refinamento estético e da felicidade (ou infelicidade) conjugal, nos quais estão envolvidos os Julien Sorel, Lambert Strether e as mrs. Newsome, de Woolet, Nova Inglaterra.
João de Azevedo e Dias Duarte – Doutor em história social da cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, bolsista de pós-doutorado pelo PNPD Capes. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: jadduarte@gmail.com.
A Reforma Papal (1050-1150): trajetórias e críticas de uma história – RUST (RTF)
RUST, Leandro Duarte. A Reforma Papal (1050-1150): trajetórias e críticas de uma história. Cuiabá: EdUFMT, 2013. Resenha de: MADUREIRA, Natalia Dias. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 7, n. 1, jan.-jun., 2014.
A Reforma Papal (1050-1150), de autoria de Leandro Duarte Rust, carrega já em seu título o prenúncio de um período que foi estudado, comentado, avaliado e reavaliado, mas que, como a obra solidamente nos mostra do começo ao fim, não o foi ao esgotamento. O livro aborda a época comumente considerada como período histórico em quem alguns eclesiásticos de Roma teriam desenvolvido um modelo de governo que colocaria os então gestores do poder laico sob sua jurisdição. E para limitar a atuação de reis e nobres, bem como para submeter os cristãos a essa nova forma de governo, os religiosos teriam criado normas que delimitaram o comportamento dos mesmos nos mais diferentes aspectos sociais, incluindo os âmbitos mais particulares, como a moral e a sexualidade.
Os dois primeiros capítulos, intitulados, respectivamente: A história como re-forma e A história como revolução, – cada um deles construído a partir das argumenta-ções e dos posicionamentos estabelecidos por historiadores que se reconhecem ado-tando tais denominações – apesar de apresentarem duas abordagens já bastante conhecidas no meio historiográfico, são arrematados por Rust de uma maneira que mostra ao leitor que essas não são as duas únicas interpretações possíveis para ex-plicar ou contextualizar o que aconteceu entre os séculos XI e XII. Neste sentido, o autor dissocia a abordagem de um binarismo que recorrentemente assola discussões historiográficas. Aqui o “ou isso ou aquilo” abre espaço para observações mais pontuais, voltadas para realidades específicas, que não podem ser engolidas por com-preensões genéricas e totalizantes. Há que se ressaltar também o exercício feito por Rust de pontuar claramente o caráter Moderno que envolve os escritos e conceitos consagrados a esse período do papado medieval. Exercício que se configura em um elemento de grande auxílio, sobretudo para estudantes há pouco familiarizados com os debates historiográficos. Tal ênfase chama a atenção dos leitores para a necessidade de uma pesquisa minuciosa sobre a própria formação da historiografia, pois, por vezes, elementos como concepções anacrônicas surgem entrelaçados com vocabulários que se estabelecem como hegemônicos e que, por isso, ocultam as formações de estilo e sentido equivalentes à sua própria época: As descrições flicheanas a respeito do desgoverno feudal e de seus efeitos – a crise moral que se abateu sobre a sociedade – remetem ao estilo de Proudhon (…). Que tremenda ironia! O elogio ao governo estatal com-posto por Fliche em sua obra lembra os jogos de palavras de um arauto oitocentista do anarquismo (p.29).
O hoje desgastado conceito de Reforma Gregoriana já foi outrora, a “menina dos olhos” de um sem número de autores, como o francês Augustin Fliche, que, escrevendo sobre o século XI, tornou-se uma espécie de “fundador historiográfico”. Escrevendo no início do século XX, Fliche tentou superar o frequente erro cometi-do por muitos escritores: dissociar todas as conjecturas políticas nas quais se envol-vera Gregório VII, da questão primaria que o levará a propor uma mudança; sua origem e fundamentação religiosa. Todas as contendas, impasses e escândalos, se-gundo o autor, não deviam ser motivos de grande destaque; pois eram peças pontu-ais, inseridas em um mecanismo maior: o desejo de mudança que assomava todos os clérigos reformadores e que ganhou corpo em Roma, sobretudo na pessoa de Gregório VII. Foi sob a égide dessa abordagem que Fliche lançou La Réforme Grégo-rienne, cujo título se naturalizou através das muitas obras que acionaram a expres-são como forma de identificação e periodização de uma fase histórica da igreja e do próprio cristianismo. Contudo, pela forma com a qual o texto de Rust se desdobra, fica explícito que a concepção historiográfica da alçada de Fliche possuía sentidos políticos muito específicos. Leandro Rust nos apresenta os argumentos do medieva-lista francês, intercalando-os com oportunas reflexões e considerações sobre a for-ma como a noção de Reforma Gregoriana foi construída – isto é, expressão historio-gráfica a um pensamento político de matriz autoritária. Outrossim, ele resgata os principais argumentos que compartilham da mesma seara intelectual de Fliche, ad-vindos de outros autores, mostrando assim, conhecimento a respeito da historiografia que envolve a Igreja Romana do século XI. Além disso, Rust apresentar, com rigor e habilidade, a difusão historiográfica que esse tipo de interpretação alcançou. Por fim, reconhece a contribuição dada por Fliche para uma nova forma de se fazer história e credita ao medievalista francês grande relevância em quesitos metodológicos implicados à história religiosa.
Porém, o livro não se restringe às argumentações de Augustin Fliche e seus seguidores. Gerald Tellenbach, medievalista alemão que produziu uma obra crítica sobre o trabalho feito pelo francês é abordado, iniciando o percurso que demonstra as várias revisões sofridas pela Reforma Gregoriana. Tellenbach ampliou as críticas de outro autor de origem germânica, Eric Gaspar, responsável por incorporar as correspondências de Gregório VII aos arquivos da Monumenta Germaniae Historica. Segundo Gaspar, Fliche ignorou uma antiga disputa existente entre “o modelo feudal de igrejas próprias e o episcopal de igrejas autônomas” (p.40), para criar uma lógica de coesão no pensamento religioso do período. Argumentando neste sentido, Tellenbach interperta Gregório VII como um líder que não encontrou na reforma o meio para reagir a um cenário de desordem ou caos, nem política nem moralmente “(…) O historiador alemão encontrou ordem e estabilidade onde Fliche enxergou o desmoronamento quase completo das instituições” (p.41).
Apresentando de maneira bem embasada as vastas discussões sobre as duas correntes historiográficas acerca da realidade sócio-política de meados do século XI, Rust dá mostras de sua preocupação em analisar a produção de conhecimento histórico e submeter ao rigor crítico o sentido contemporâneo das abordagens con-sagradas, abandonando assim, quaisquer possíveis arbitrariedades conceituais.
A trilogia flicheana apelou à história para encontrar uma possibilidade de salvação da ordem pública europeia. Para isso, projetou a história medieval como um precedente da capacidade da Santa Sé de resgatar a sociedade da anarquia e da desordem. Em outras palavras, a Idade Média foi transformada em origem da tradição re-formadora recentemente proclamada por Leão XIII (1810-1903) (p.51).
A ideia de que o caráter revolucionário do ocidente teve início no século XI, justamente com o papa Gregório VII, é outra ideia difundida pelo século XX, mais precisamente pelo alemão Eugen Rosenstock-Huessy, que em 1931 atribuía ao pon-tífice uma personalidade contagiante que inflamou milhares de fiéis e o fez interna-lizar a busca por uma mudança total da vida religiosa. Notoriamente, Rust não se limita a explanar sobre os autores que defendem a abordagem da Revolução Papal – sucessora da noção de Reforma Gregoriana. Mais do que isso, ele prossegue uma lu-cida análise intelectual ao discutir os fundamentos e implicações teóricas de que partiram os autores que posteriormente se inspiraram em tal abordagem teórica para embasarem suas obras. Merece ser destacado o ato de reconhecer e fazer uso de produções que não estão inseridas na familiar cena historiográfica francesa, o que retira o autor de um possível conforto que o trato com o discurso mais tradicionalmente conhecido na historiografia brasileira poderia proporcionar. Além disso, Leandro Duarte Rust tem a louvável capacidade de extrair conteúdo das entrelinhas; de fazer emergir informações que por vezes passam desapercebidas por estarem encobertas por uma névoa de verdades consagradas, de pensamentos considerados sólidos, mas que, precisamente por isso, permitem a identificação do lugar de fala do escritor analisado. Trata-se de uma abordagem que limita à forma dos textos historiográficos, mas que sonda a intencionalidade advinda do discurso empregado: Na superfície das linhas Robert Moore (…) confessava a influência do medievalismo francês. Mas, nas entrelinhas, ocultava um pr-pósito que dominou a historiografia britânica de sua época. Dominou-a e consagrou-a a partir da década de 1960. Difícil lê-lo e não associar sua insistência na multidão/revolução à “história vista de baixo” pelo marxismo inglês (p.73).
Chegando ao fim da segunda parte, o historiador fecha o exercício compa-rativo de maneira bastante clara: Ambas reduzem ao passado a uma unidade taxativa, hermética, negando positividade histórica a grupos e ações sociais que não anunciem a Modernidade industrial. No que diz respeito à socie-dade da época do papa Gregório VII, a busca para restituir as ex-periências possíveis da condição humana, ampliando a complexi-dade da trajetória dos homens no tempo, passa por aceitar a possi-bilidade teórica de que a política papal dos séculos XI e XII não se-ja explicada nem como reforma, nem como revolução. Mas sim, como uma alteridade histórica que parece ainda não ter uma iden-tidade conceitual (p.81).
Leandro Rust constrói a terceira parte de sua obra – como salienta o próprio título As pegadas do sagrado: o político como religiosidade – pautada em uma reflexão sobre as funções políticas que perpassam as questões de religiosidade nas quais o papado se envolveu. A terceira parte consiste no exercício crítico da abordagem tradicional, que mostra os clérigos reformadores do século XI utilizando a religião como uma “régua” para medir a legitimidade de certos comportamentos, como meio de aferição social. Era através dela, que eles, supostamente, pretendiam separar pessoas de acordo com a relação – ou a falta dela – que mantinham com o sagrado. Tradicionalmente, os gregorianos são apresentados como homens investidos da missão de, a partir dessa separação, almejar o controle do profano, de modo a fazer aqueles entregues ao erro religioso se redimirem e se voltarem para Deus. No capítulo em questão essa relação com o sagrado é abordada sob outro prisma. Rust recorre ao pensamento durkheimiano para demonstrar que como a memória sagra-da criada em torno da trajetória de Hildebrando de Soana, posteriormente Gregório VII, consistia em uma narrativa coberta de episódios que atestavam as fragilidades, as tensões e as contradições da experiência religiosa romana.1 Hildebrando fazia uso da posição por ele ocupada e do seu invólucro de sacralidade como resposta à realidade política que o circundava. Rust demonstra, assim, como as atitudes religiosas do líder símbolo da Igreja de Roma eram mutá-veis, problematizando, assim, a coerência e a coesão ideológicas exaltadas pelos conceitos de Reforma Gregoriana e Revolução Papal como uma memória elaborada por séquito e aliados.
Na parte IV do livro, A excomunhão do rei: o direito canônico e a oralidade, Rust apresenta uma rede de evidências, muito bem entrelaçadas, sobre a criação de uma cultura da escrita à qual, sobretudo – conscientemente – os clérigos perpetuavam e usufruíam a partir de sua posição de homens letrados singulares. Essa cultura, se-gundo a historiografia, teria contribuído para o surgimento de uma atmosfera jurí-dica que não mais se pautava em leis orais, e sim, tinha no conteúdo dos papéis, seu respaldo. Contudo, o autor alerta para a dicotomia existente nessa valorização da “cultura da escrita” perante o poder das tradições orais. Tomando como exem-plo uma carta escrita por Gregório VII quando da época de sua deposição, mostra como as duas formas de aplicações jurídicas – a oral e a escrita, aparentemente opostas – se fundem para construir a lógica de ação do religioso. Rust traz ao conhecimento do leitor outros episódios em que demonstram a presença de elementos de oralidade, usados no tempo presente dos envolvidos, ou seja, sem precedentes, sem embasamentos jurídicos formais.
A maldição do antipapa: sobre historiografia e nacionalismo, quinta parte do livro, se presta à formulação de uma bem fundamentada crítica às restrições dos historia-dores impostas por limites geográficos, que acabam por engessar os trabalhos em uma única perspectiva social. Neste caso, o texto se dedica à crítica a respeito dos modos de abordar a figura do antipapa Gregório VIII. Para isso, o autor restitui à abordagem dominando ao seu fundamento teórico: o pensamento hegeliano e sua interface com os sentidos nacionalistas da escrita da história. Neste sentido, fica evidenciado como a historiografia produz formas de memória – como a que condenou severamente o antipapa.
Por fim, concluo esta resenha oferecendo um balanço crítico juntamente com a última parte da obra, que tem como título O sentimento político: linguagem e poder. Apesar de todos os capítulos estarem interligados quanto à proposta do título, formando um contínuo exercício de crítica historiográfica; cada um possibilita um estudo em separado devido à forma como o autor abordou os assuntos retratados. Remetendo ao contexto que envolveu a ascensão de Hildebrando de Soana ao trono papal e às conhecidas mudanças provenientes de seu envolvimento com a realidade eclesiástica, Rust apresenta, neste capítulo, uma análise de semântica histórica: a noção de desejo como meio de formação e constituição de uma consciência dos partidários do papado a respeito das relações de autoridade. Recorrendo à noção de teologia política, o autor demonstra como as relações de obediência e desobediência ganhavam sentido através de uma “retórica sobre o desejo”. No entanto, o exercício de análise proporciona um fechamento à principal ênfase do livro: a crítica a respeito dos sentidos e lugares intelectuais que dão voz às abordagens historiográficas vigentes sobre a Reforma Papal. Ao chamar atenção para esse fato, Rust faz refletir sobre o ofício de historiador e questionar de onde herdamos as formas do fazer histórico.
1 Para a mitologia gregoriana ver: HUDDY, Mary. Matilda, Countess of Tuscany, Londres: Jonh Long, 1906.
Natalia Dias Madureira – Universidade Federal de Mato Grosso. Programa de Pós-graduação em História Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 – Bairro Boa Esperança – Cuiabá – MT – 78060-900 E-mail: nataliamadureira@hotmail.com.
O universo normativo e relações de poder na Idade Média: doutrinas, regras, leis e resoluções de conflitos entre os séculos V e XV / Anos 90 / 2013
O universo normativo e relações de poder na Idade Média: doutrinas, regras, leis e resoluções de conflitos entre os séculos V e XV. No final do ano de 2001, a revista Anos 90 publicou o número intitulado Estudos sobre Idade Média Peninsular. O trabalho de seleção dos textos ali reunidos foi organizado pelo Professor Dr. José Rivair Macedo. Esse número foi a coroação de uma série de ações realizadas na UFRGS sobre história medieval na década de 1990. Sendo assim, foram publicados textos de professores e, então, alunos de pós-graduação e graduação, além de professores de outras instituições. O tema daquele número também refletia a concentração de estudos, na historiografia brasileira sobre Idade Média, que privilegiavam a Península Ibérica nos séculos finais daquele período.
Doze anos depois, podemos afirmar que o presente dossiê sobre normas e relações de poder entre os séculos V e XV é reflexo de uma série de mudanças: desde as relacionadas à avaliação e classificação das revistas acadêmicas, que estimulam a inserção dos Programas de Pós-Graduação em nível nacional e internacional e evitam também a publicação de textos de autores da casa, às abordagens sobre tempos e espaços diversos. Sendo assim, os autores que publicam no presente dossiê, em geral, tem como característica geral, a presença mais constante e sistemática de períodos e projetos de colaboração internacional de pesquisa. Dessa forma, o presente número oferece ao público uma reunião de textos que tem origem em pesquisas realizadas (concluídas ou em andamento) em nove Universidades diferentes e que tratam de tempos e espaços heterogêneos.
Dividimos o dossiê O universo normativo e relações de poder na Idade Média: doutrinas, regras, leis e resoluções de conflitos entre os séculos V e XV em três blocos, não necessariamente fechados em si. O primeiro inclui textos sobre o período inicial da Idade Média que analisam aspectos das relações de poder na região da atual França; o segundo concentra textos sobre a chamada Idade Média Central, mas também abarca os textos sobre Península Ibérica entre os séculos XI e XV; o terceiro reúne textos sobre a Península Itálica, especificamente entre os séculos XIII e XV. O leitor pode perceber, então, que há uma orientação cronológica (da Alta à Baixa Idade Média) e geográfica (França, Portugal, Espanha e Itália), porém, o que fica evidente no conjunto dos textos é a pluralidade de possibilidades: textos que defendem a atuação de um possível Estado e ideias de governo, textos sobre a constituição de normas específicas, como regras de Ordens Religiosas ou processos jurídicos, textos sobre concílios e moralização clerical, além de textos sobre resolução de conflitos.
O primeiro artigo é de autoria de Rossana Pinheiro, da UNIFESP. A autora aborda algumas características do poder episcopal na Gália do século V, com especial destaque para a não separação entre monges e bispos ou, como defende a autora, para a atuação de “monges-bispos” na expansão do cristianismo naquela região. O texto seguinte, de autoria de Marcelo Cândido da Silva (USP), trata de crises de escassez de alimentos e fome entre os séculos VIII e IX, entre os carolíngios. O autor analisa, além de anais, crônicas e inventários, a atuação de combate à fome adotada por governantes, como: Pepino, o Breve († 768), Carlos Magno (†814), Luís, o Piedoso († 840), Carlos, o Calvo (†877) e Carlomano II (†884). Para Cândido da Silva, os indícios encontrados sobre a fome na documentação analisada não necessariamente permitem associar as crises às dificuldades técnicas. Sendo assim, o autor fornece um olhar mais voltado para a história política do que para a história econômica para discutir o assunto.
O segundo bloco de textos inicia-se com a reflexão proposta por Cláudia Regina Bovo, professora de história medieval na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A autora expõe seu problema de pesquisa no título do artigo: O combate à simonia na correspondência de Pedro Damiano: uma retórica reformadora do século XI?. O objetivo é discutir se se pode afirmar a existência de um “programa reformador” no século XI. Em outras palavras, a autora propõe uma revisão sobre a chamada “reforma gregoriana” a partir de uma análise de caso: a simonia. Ao final do texto, ela conclui que não é possível afirmar a existência de uma noção ampla de “reforma”. O texto de Andreia Cristina Lopes Frazão da Silva (UFRJ) sobre o concílio de Coyanza (século XI) apresenta as características que fazem dessa reunião uma das mais importantes ocorridas na Península Ibérica durante o medievo e, principalmente, como se deu a construção historiográfica sobre essa importância. De acordo com a autora, as duas redações diferentes das atas daquele concílio revelam os interesses políticos que estavam em cena nas disputas no reino de Castela-Leão. O terceiro texto que compõe esse eixo é de autoria de Maria Filomena Coelho (UNB). A autora analisa, a partir do tema da clausura feminina, o processo de instituição e consolidação do braço feminino da Ordem Cisterciense na Península Ibérica, bem como relaciona esse processo às tensões políticas em Castela-Leão no século XIII. Para Coelho, como a clausura era um elemento básico e importantíssimo para a legitimação da vida monacal das mulheres, o tema deve ser analisado a partir da cultura política, entendida como “valores em que se assentam e pelos quais se justifica o poder de exigir a observância da clausura, bem como o de permitir as exceções”. Sendo assim, ao final do texto, a autora defende a necessidade de entender a clausura feminina como um elemento de legitimação institucional de um modelo, no qual as disputas concernentes a essa questão devem ser entendidas no contexto social e político de cada região. Finalizando o segundo bloco, o texto de Beatris dos Santos Gonçalves (UCAM-RJ) aborda a importância da concessão do perdão régio no processo penal português para a afirmação de um reino centralizado e fortalecido no século XV. A autora privilegia a análise das Ordenações do Reino e conclui que o “acesso à benevolência da remissão régia” funcionou como elemento de propagação do argumento que “só o rei poderia garantir a justiça”.
O presente dossiê é finalizado por uma sequência de três textos que tratam de ideias de governo, normas, regras e conflitos na Península Itálica. André Luís Pereira Miatello (UFMG) aborda os usos e significados das ideias de bem comum e utilidade comum nas cidades comunais italianas, como Florença, Siena, Bolonha e Pádua. O autor analisa dois escritos retóricos de Brunetto Latini (1220- c.1294): Rettorica (ca. 1260), e Li Livres dou Tresor (ca.1260-1267). Miatello conclui que é possível afirmar a existência de uma “esfera pública” construída nas cidades italianas a partir da noção de bem comum. No texto de Carolina Coelho Fortes (UFF), sobre a formação da Ordem dos Irmãos Pregadores (dominicanos) no início do século XIII, o leitor encontra alguns aspectos da tese de doutorado da autora, defendida em 2011. Seu principal interesse está em discutir o papel dos estudos na constituição de uma identidade institucional dos frades pregadores. A autora analisa documentos como o Liber Consuetudinum e as atas dos capítulos gerais realizados pela Ordem entre 1220-1260. Fortes conclui que, ao identificar na documentação constantes referências à regulamentação sobre a saída dos frades para atuar como mestres, inclusive, em casas de outras ordens, é possível afirmar que os dominicanos, no século XIII, podem ser associados a uma societas studii, ou “sociedade de estudos”. O texto que encerra o dossiê é de autoria de Didier Lett (Paris VII). O autor apresenta uma microanálise sobre qual consciência homens e mulheres poderiam ter dos estatutos nas cidades italianas da região das Marcas de Ancona. Para isso, apresenta e analisa um processo movido pelo pai de uma criança, em 1458, após um jogo de batalha de pedras em São Severino. No processo, a acusação é de um tipo de traumatismo craniano provocado por Benincasa di Beneamato Corradi em Andrea di Nicola. O pai de Andrea recorre à justiça e o pai de Benincasa é convocado a defender o filho. O que estava em causa: a inimputabilidade penal de Benincasa. Em outras palavras, a defesa foi estruturada a partir do argumento de que o acusado teria menos de dez anos quando do ocorrido e, por isso, não deveria ser aplicada pena. Na movimentação dos dois pais a partir do acionamento e recurso à justiça para a resolução do conflito, Didier Lett desvenda um universo que compreende desde as práticas cotidianas de divertimento de crianças e jovens de uma determinada região, a consciência que os habitantes poderiam ter das leis (pois o pai da vítima reclamou na justiça o direito de indenização) e, também, a atuação de diferentes autoridades no processo de formação e a relação entre práticas e representações nas comunas italianas no final da Idade Média.
Os nove textos aqui reunidos, dessa forma, oferecem ao leitor um espectro diversificado sobre o universo político e social, em diferentes regiões, entre os séculos V e XV. Além desses artigos, apresentamos também uma resenha, de Néri de Almeida Sousa (UNICAMP), do recente livro Guerra Santa, de Jean Flori, publicado em português em outubro de 2013. Sendo assim, o leitor tem acesso a um bom número de reflexões recentemente concluídas e / ou de pesquisas em andamento que já produziram resultados consistentes. Resta aos organizadores o convite à leitura e o estímulo ao debate. Agradecemos aos colaboradores da Anos 90: a comissão editorial 2010-2012, que aceitou a proposta do dossiê, aos pareceristas que colaboraram com a qualidade dos textos aqui publicados e aos autores que privilegiaram a proposta ao enviar seus textos para avaliação.
Boa leitura!
Igor Salomão Teixeira
Cybele Crossetti de Almeida
(Organizadores)
TEIXEIRA, Igor Salomão; ALMEIDA, Cybele Crossetti de. Apresentação. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 38, dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
Guerra Santa: Formação da Ideia de Cruzada no Ocidente – FLORI (AN)
FLORI, Jean. Guerra Santa: Formação da Ideia de Cruzada no Ocidente. 1ª ed. Tradução de Ivone Benedetti. Campinas: Ed. Unicamp, 2013. Resenha de: ALMEIDA, Néri de Barros. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 38, p. 449-453, dez. 2013.
As cruzadas foram um acontecimento em seu próprio tempo. Seus testemunhos contam-se entre os mais vastos e diversificados do período. O interesse que despertaram ainda em plena Idade Média, o envolvimento dos grandes personagens de então entre os quais se contam imperadores, papas e príncipes regionais aliados ao reconhecimento pelos historiadores modernos de sua importância na dinâmica histórica lhe garantiram um lugar de destaque na memória coletiva. A esse conjunto provavelmente deve-se o fato de mais de novecentos anos após seu aparecimento, as cruzadas ainda integrarem dimensões da experiência como representação.
As cruzadas inspiraram as artes plásticas, a música e a literatura e atualmente continuam inspirando o cinema, a teledramaturgia, revistas de vulgarização científica, romances gráficos e formas diversas de entretenimento em que se contam simulações lúdicas e jogos virtuais. Ao lado das heresias e da inquisição, elas também constituem um dos pilares em que se apoia a autocrítica ocidental quando observa seu passado medieval. A palavra cruzada tem um lugar importante em nosso vocabulário ora aplicando-se à violência do fanatismo religioso, ora à firme reunião de forças benéficas em torno de uma causa nobre, geralmente ligada a um ideário de salvação.
Podemos assim falar em cruzada pela infância ou cruzada contra a fome. A ambivalência que a ideia de cruzada ainda comporta em suas evocações cotidianas expressa a própria complexidade do fenômeno. Mesmo os historiadores não se sentem capazes de produzir um juízo único e definitivo a respeito do que foram as cruzadas. Discutem se estas se definem por seu caráter de expedição militar ou de peregrinação, se os benefícios espirituais devem ser tomados entre seus dados fundamentais, se as expectativas escatológicas se contam entre suas motivações decisivas, se o componente popular foi significativo e qual a importância de Jerusalém em sua deflagração.
Não há conceito capaz de se impor isoladamente como verdadeiro. Nem mesmo os movimentos que devem ser identificados pelo termo cruzada são reconhecidos de forma unívoca. Estariam as expedições para o oriente no mesmo plano que as lutas contra os muçulmanos na Espanha durante a Reconquista ou aquelas contra os pagãos da Europa Oriental, os hereges albigenses e os imperadores rebeldes ao papado? Afinal, o que constitui o cerne comum das expedições ocorridas entre fins do século XI e fins do século XIII que a partir de meados do século XII vieram a ser conhecidas como cruzadas? Em Guerra Santa. Formação da ideia de cruzada no Ocidente cristão (Campinas: Editora da Unicamp, 2013), temos a oportunidade de acompanhar o percurso de Jean Flori em defesa de um conceito de cruzada. A pergunta da qual parte seu estudo é: como a comunidade cristã, em sua origem pacifista, desenvolveu um pensamento e uma prática em relação à violência bélica que lhe permitiu aderir de forma justificada e legítima a diversas empresas guerreiras a ponto de a Igreja vir a se tornar a deflagradora direta de um conflito com a extensão e repercussão das cruzadas? O propósito da obra consiste em demonstrar que essa mudança não foi repentina.
A tese que guia a obra é aquela de que a cruzada foi o desdobramento de uma ideia cristã antiga, surgida no longínquo século IV – momento em que são dados os passos decisivos para a institucionalização da Igreja – que advogava que certos conflitos militares deveriam ser entendidos como desejados por Deus e, portanto, realizados em seu nome e com sua aprovação. Tratar-se-ia de guerras que, em função de suas motivações e seus fins específicos, seriam sacralizadas, ou santas. Dessa forma, Flori entende a cruzada como uma modalidade de guerra santa. Aqui, é necessário um esclarecimento, uma vez que o autor não identifica a guerra santa ao jihad, esforçando-se por mostrar, ao tratar das relações complexas entre a cristandade e o islã medievais, as diferenças entre os dois tipos de combates sacralizados.
Parte dos estudos dedicados às cruzadas procuraram compreendê-las a partir da observação do evento já em curso ou de seus resultados. Basta lembrarmos das vertentes que viram nelas a resposta à crise de um feudalismo incapaz de reproduzir-se sem a conquista de novos territórios ou um primeiro movimento da mundialização que mais tarde seria completado pelas Grandes Navegações, responsável pela imposição do sistema de valores cristãos fora das fronteiras tradicionais da cristandade. Nesses dois casos, a compreensão do que foram as cruzadas se desloca e o fenômeno que propriamente constituem permanece incompreendido. Jean Flori procura apresentar cada um dos elementos que, de seu ponto de vista, integram a trama que tornou as cruzadas possíveis. Dessa forma, seu livro se estende do século IV a 1096, quando da pregação de Urbano II, feita durante o concílio de Clermont (1095), surge a primeira cruzada. Flori produz sua reconstituição atento tanto a ideias quanto a processos demorados e eventos pontuais. Da trama rica e densa proposta pelo autor, que envolvem considerações a respeito da evolução das relações entre cristãos e muçulmanos, o aparecimento e a consolidação de um forte movimento penitencial e peregrinatório a partir do século XI e a intensificação de expectativas de ordem escatológica no mesmo período, podemos destacar três questões que nos parecem maiores. Em primeiro lugar, a aproximação entre a Igreja e o Império que ainda na Antiguidade Tardia transformou a autoridade pública secular em protetora militar da comunidade de cristãos seja contra inimigos externos seja contra as próprias dissensões internas que ameaçavam sua ordem hierárquica e a paz social. Em segundo lugar, na Idade Média, o prosseguimento dessa política de busca de apoio nas lideranças laicas em ambientes em que a autoridade real ou imperial não se faziam presentes ou não se mostravam particularmente sensíveis a essa ordem de problema, momento em que podemos destacar a situação vulnerável da Sé romana e suas ações para atrair apoio que lhe garantisse proteção armada tanto contra potentados locais quanto contra invasores. Em terceiro lugar, a reforma da Igreja que, entre os séculos XI e XII, alterou de forma significativa o sistema de autoridade eclesiástico perpetrando uma separação mais nítida, inclusive no domínio material, entre o que era ou não consagrado, entre o que estava sob a autoridade eclesiástica e o que estava submetido ao arbítrio laico. Um dos resultados dessa reforma foi a reivindicação papal da liderança direta de Cristo sobre os conflitos de ordem militar de seu interesse. Como lembra o autor, com as cruzadas, o papa, investido da proteção já não apenas do patrimônio de São Pedro mas da própria herança de Cristo “[…] falava como comandante de todos os cristãos, em nome de Cristo”.
Os dez capítulos que constituem a obra conduzem o leitor pelo processo em que se integram ao longo dos séculos medievais até o ano de 1096 os diversos elementos que compõem a cruzada.
Assim, depois de um estudo introdutório a respeito da forma como o tema foi problematizado pela historiografia (Capítulo 1) o autor discute a herança que a tradição imperial de Constantino a Carlos Magno legou das relações entre violência guerreira e sagrado (Capítulo 2). Em seguida, um bloco importante de textos ocupa-se do período capital transcorrido entre os séculos X e XI. O autor trata aí de um problema importante: a Paz de Deus conduziu à cruzada como defendeu a tese lançada por Georges Duby? A resposta negativa dá ensejo a um interessante panorama do que foi a Paz de Deus e da tradição em evidência em sua discussão mobilizada em favor da construção da especificidade da cruzada. Isso se dá sem que seja negado um papel à Paz de Deus, sobretudo por meio da concessão de benefícios espirituais aos defensores de igrejas nela envolvidos (Capítulo 3). Em seguida é analisada a relação entre santidade e violência (Capítulo 4), sobretudo por meio dos santos guerreiros e a sua contribuição no processo de sacralização da violência (Capítulo 5).
Deslocando de forma mais incisiva seu olhar em direção à Santa Sé, Flori mostra a associação de signos militares à autoridade de São Pedro (Capítulo 6) e a forma como a violência militar integrava a ideia que Gregório IX fazia da defesa da liberdade da Igreja (Capítulo 7). O bloco seguinte trata da relação com o “outro”, o elemento externo à cristandade que, embora sempre presente no pensamento bélico cristão, se reveste de profunda materialidade com os destinos orientais (Capítulo 8) e ocidentais (Capítulo 9) da expansão muçulmana. Para encerrar, o autor reafirma seu pressuposto de que as cruzadas têm fundamentos de diferentes ordens (espirituais, teológicos, bélicos, políticos) e temporalidades (do século IV a 1096), mas que o campo fundamental em que a vemos se conformar é aquele do enriquecimento da ideia de guerra santa. É em relação a este conceito diante de suas alterações em 1095 que o autor tece sua definição de cruzada (Capítulo 10).
As opções do autor e seu resultado no campo conceitual, como é de se esperar de todo grande trabalho, certamente resultarão em perplexidade de alguns e em discordância frontal de outros. No entanto, a riqueza de seu percurso, sua coragem num campo antigo e proeminente em que ainda não se atingiu nenhuma unanimidade e, em particular, o fato de chamar nossa atenção para a importância da ideia de guerra santa na tradição política e teológica cristã, resultam em uma aventura pela erudição e pelo pensamento de grande valor para o estudioso de qualquer dos temas e sub temas abordados.
* Este texto faz parte, em sua quase integralidade, da “Apresentação” feita à resenhada.
Néri de Barros Almeida – Livre-docente. Professora junto ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH/ UNICAMP). É coordenadora do núcleo UNICAMP do Laboratório de Estudos Medievais (LEME). E-mail:neridebarros@gmail.com.
Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900 – CROSBY (AN)
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900. Tradução: José Augusto Ribeiro, Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia da Letras, 2011. Resenha de: VENCATTO, Rudy Nick. .Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 37, p. 331-338, jul. 2013.
As questões socioambientais ganharam um grande impulso nas discussões acadêmicas, principalmente no final do século XX e início do século XXI. É neste cenário que a obra de Alfred W. Crosby1, Imperialismo Ecológico: a expansão biológica da Europa 900-1900 ressurge, no ano de 2011. Publicado primeiramente no ano de 1986, nos Estados Unidos, o livro foi lançado no Brasil pela Editora Companhia das Letras no ano de 2011, em uma versão de bolso, fruto de uma tradução da primeira reimpressão, que data de 1991.
Cabe aqui uma primeira reflexão plausível de debates. Por que uma obra lançada no século passado ganha evidência no Brasil somente no ano de 2011? Em um panorama no qual as preocupações ambientais auferiram lugar de destaque, editar uma obra com tal magnitude de discussão significa também, para a editora, um mercado de circulação favorável. Além disso, é inegável que a temática abordada por Alfred Crosby é pertinente, não somente neste século, mas sim, em qualquer temporalidade, pois proporciona diferentes olhares sobre os movimentos expansionistas e coloniais, estimulando, assim, a quebra de alguns paradigmas.
De uma forma geral, a obra de Alfred W. Crosby problematiza o processo de expansão das populações europeias, principalmente por volta dos 0 a 1900, porém sem perder de vista um recorte temporal mais longínquo. O foco de sua discussão concentra-se na invasão biológica lançada pelas levas europeias em outras regiões do planeta, as quais constituíram aquilo que denominou-se de “biota portátil”2. Crosby aufere um lugar protagonista à biota portátil, sendo ela responsável por expulsar ou até mesmo eliminar a flora, fauna e os habitantes nativos de distintas regiões do mundo, dando origem às “Neoeuropas”, ou seja, Austrália, Nova Zelândia e América.
Para tal reflexão, sua obra foi dividida em doze capítulos, ao longo dos quais, Crosby passeia da Pangeia, há aproximadamente 180 milhões de anos, até 1900. Segundo ele, neste período, as Neoeuropas já estão constituídas e, por sua vez, são responsáveis pelo abastecimento mundial de alimentos estando todas situadas em latitudes similares, em zonas temperadas dos hemisférios norte e sul, possuindo a grosso modo, o mesmo clima. Como introdução, Crosby lança explicações para delimitar seu tema, partindo de uma preocupação central: entender as razões que levaram os europeus e seus descendentes a estarem distribuídos por toda a extensão do globo.
Segundo Alfred Crosby, o bom desempenho das campanhas imperialistas e expansionistas europeias está ligado a questões ecológicas e biológicas. Porém, ao fazer estas afirmações, o autor acaba por simplificar estas campanhas, e/ou, até mesmo, naturalizálas, diminuindo, assim, a relevância das questões econômicas, políticas e culturais que também foram agentes neste processo. Trata-se de uma afirmação audaciosa que por vez pode direcionar os leitores a caírem na malha discursiva do autor, tomando os movimentos de conquista e extermínio enquanto ações naturais, ligadas apenas a questões biológicas.
É no segundo capítulo intitulado, Revisitando a Pangeia: o Neo lítico Reconsiderado, que Crosby passa a olhar mais atento para o processo de evolução e desenvolvimento de diferentes espécies, tomando como eixo de análise a divisão da Pangeia3. Para Crosby, este movimento definidor dos continentes proporcionou que muitas formas de vida se desenvolvessem de maneira independente e em muitos casos, com exclusividade, o que, segundo o autor, pode explicar as diferenças extremas de fl ora e fauna entre a Europa e as Neoeuropas.
Chama atenção a definição de cultura que Crosby traz para sua análise. É cabível de compreensão que sua concepção adapta-se aos interesses que procura desvendar neste processo de investigação, apresentando de forma limitada uma categoria de análise tomada por tanta complexidade e debatida em várias áreas das ciências humanas.
Para Crosby (2011, p. 25), cultura pode ser entendida enquanto: […] um sistema de armazenamento e alteração de padrões de comportamento, não nas moléculas do código genético, mas nas células do cérebro. Essa mudança tornou os membros do gênero Homo os maiores especialistas em adaptabilidade de toda natureza.
Para o crítico literário Raymond Williams, os conceitos são elementos historicamente constituídos, fixando sentidos, imagens e margens de significações que, muitas vezes, imobilizam o passado no passado. Os conceitos, antes de empregados como verdades ou paradigmas, devem ser vistos e problematizados em seu movimento, levando em consideração o espaço e o tempo em que foram criados.
Só assim será possível aplicar análises que venham a compreender os sentidos cristalizados, vividos em outras temporalidades (WILLIANS, 2001). Neste sentido, para além da proposta de Crosby, cultura deve ser entendida não apenas enquanto manifestações biológicas, mas sim enquanto um complexo de relações que são constitutivas e constituintes dos sujeitos humanos.
A partir da concepção biológica de cultura, Crosby levanta hipóteses sobre o desaparecimento dos grandes mamíferos em localidades onde o gênero Homo fora se estabelecendo. Para o autor, as doenças e o fogo utilizado para efetivar grandes queimadas podem ter alterado o hábitat dos gigantes tornando impossíveis a vida e a reprodução. Segundo Alfred Crosby, este processo foi uma mutação cultural que deu origem à “Revolução do Neolítico”4.
No terceiro capítulo, intitulado Os Escandinavos e os Cruzados, Crosby dá ênfase às primeiras colônias ultramarinas da Europa, sendo elas: a Islândia e a Groenlândia. Estabelecidas por populações escandinavas, estas, por sua vez, contribuíram para a criação de mecanismos necessários para o bom desempenho das navegações no século XV. Segundo o autor, o sucesso nestas colônias esteve relacionado à competência náutica, à capacidade de lidar com atividades da pecuária e à adaptação a uma alimentação a base de leite.
Por outro lado, o fracasso, mais tarde, também está relacionado às questões fisiológicas e estratégicas. Para ele, a ausência de cereais, madeira e ferro nestas localidades, tornava o contato comercial com esse continente inviável, e o resultado por um maior intervalo de tempo sem contato com o continente europeu era o extermínio por surtos de epidemias. Em suas palavras, “[…] as doenças infecciosas davam a impressão de trabalhar não para os escandinavos, mas contra eles.” (CROSBY, 2011, p. 64).
No discurso de Crosby, os agentes patógenes que muitas vezes passam despercebidos na análise dos processos de colonização são cruciais para compreender os sucessos e fracassos das expansões europeias. Entretanto, não se deve perder de vista que agentes culturais como costumes, língua, religião, entre outros, são de suma importância para uma compreensão mais abrangente sobre estas campanhas. Olhar somente para a biota portátil significa dar muito crédito a um único conjunto de fatores. Faz-se necessário somar outros elementos que tiveram papel ativo neste processo de ocupação e colonização.
Por outro lado, a quebra de paradigmas que Crosby possibilita é plausível de elogios. É ainda no terceiro capítulo que, fazendo uso de uma rica documentação baseada em cartas de navegação e diários de navegadores, o autor torna possível quebrar com os mode los explicativos que cristalizam o contato e a ocupação europeia do continente americano, apenas enquanto fruto das navegações do século XV. Problematizando a chegada dos escandinavos na região do atual Canadá, Crosby contribui para perceber a história enquanto movimento e processo, estabelecendo, assim, uma série de novos elementos para esta refl exão.
O quarto capítulo é As Ilhas Afortunadas; o quinto, Ventos; e o sexto, Fácil de alcançar, difícil de agarrar, figuram o processo de expansão marítima empreendido pela Europa entre os séculos XIV e XV.
São nesses capítulos que o autor chama atenção às funções dos arqui pélagos para os navegadores. Passando de sinais de orientação no oceano a lugares de abastecimento, tornaram-se, mais tarde, elos entre as metrópoles e as colônias. Para Crosby, os arquipélagos funcionaram como experimentos no processo de expansão das atividades agrícolas e pecuárias. Transformar ilhas em lugares de abastecimento significava disseminar espécies de animais, muitas das quais, num período longo de tempo, acabaram causando alterações nos elementos da fl ora e fauna. Segundo Crosby, (2011, p. 86) “É possível que plantas nativas tenham desa parecido e animais nativos tenham morrido por falta de alimento e abrigo”.
O autor levanta uma refl exão que impulsiona os leitores a pensar sobre a instabilidade do ambiente natural. Para Crosby, muitas espécies que se julgam nativas de um lugar foram em algum tempo trazidas pelos europeus, espalhando-se e levando a crer que sempre existiram em um determinado espaço. Perceber que espécies dora vante tomadas enquanto nativas foram em outros tempos, introdu zidas consciente ou inconscientemente por migrações humanas, significa perce ber os sujeitos humanos num processo relacional com a natureza.
Penso neste momento no trabalho de Simon Schama, Paisagem e memória (1996), no qual, segundo o autor, antes mesmo de estarmos lidando com uma natureza, estamos lidando com uma paisagem, ou seja, olhares que foram lançados sobre a natureza e que, de alguma manei ra, instituem significados para esses espaços. Schama instiga a perceber a natureza não apenas por olhares da botânica ou dos bió logos, mas sim a partir dos usos e das representações presentes no imaginário dos seres humanos. Para o autor, é necessário redescobrir o que já possuímos, mas que, de alguma forma, escapa-nos ao reconhecimento e à apreciação. Através desta concepção, é possível estar atento à rique za, à antiguidade e à complexidade da tradição paisagística com relação aos modos de ver a natureza.
O sétimo capítulo é Ervas; o oitavo, Animais; e o nono, Doenças, dão ênfase, e Crosby não poupa em exemplos, na expansão da biota portátil que, para o autor, fora o principal agente delimitador do sucesso na constituição das Neoeuropas. São nestes capítulos que, sutilmente, Crosby diminui o peso das ações de extermínio causadas pelo expansionismo europeu. Para ele, as mudanças também fugiram do controle humano quando algumas espécies de animais como o rato embarcaram nos porões dos navios levando consigo um universo de agentes patológicos. Para Crosby (2011, p. 201-202), “Isso parece indicar que os seres humanos raras vezes foram senho res das mudanças biológicas que provocaram nas Neoeuropas.”.
É no nono capítulo que essa abordagem é realizada com maior cautela. Crosby dá grande ênfase às ações modificadoras causadas pelos agentes patógenes, excluindo, assim, de maneira sutil, a responsabilidade europeia pela ação e devastação nas colônias ultramarinas.
Em suas palavras, “Foram os seus germes os principais responsáveis pela devastação dos indígenas e pela abertura das Neoeuropas à dominação demográfica”. (2011, p. 205). De certa forma, cabe pensar que quando a ação das enfermidades fora percebida pelos europeus, a mesma passou a ser utilizada enquanto arma no processo de expansão.
Neste caso, excluir a intenção e dar ênfase somente à biota, significa realizar uma anistia no processo de extermínio e isentar os conquistadores das chacinas realizadas.
No décimo capítulo, Nova Zelândia, o autor preocupa-se em destacar o caráter distinto da formação dessa Neoeuropa. Baseando-se em trabalhos de botânica e analisando o processo de colonização da Nova Zelândia, Crosby aprofunda-se na compreensão das mudanças proporcionadas pela biota portátil. Este capítulo emerge enquanto exemplo mais específico, para dar legitimação à análise proposta pelo autor em ressaltar as interferências europeias nos outros continentes.
É nos capítulos décimo primeiro, Explicações e décimo segun do, Conclusão, que Alfred Crosby procura fechar sua análise, mas sem esgotar as possibilidades de refl exão. Cabe destacar que, ainda no capítulo Explicações, o autor retoma a explicação daquilo que seria a biota portátil tornando, de certa forma, algo maçante em seu texto.
Por outro lado, este balanço final vem enquanto auxílio aos leitores que não se debruçam pelos caminhos de toda a obra. Mais uma vez, Crosby vai insistir no discurso que naturaliza o processo de invasão e extermínio causado pela expansão europeia. Um de seus argumentos concentra-se ao fato de que, por volta do século XV, as modificações e devastações de espécies vivas já faziam parte do processo de evolução destes continentes. Em suas palavras: “Em 1500, o ecossistema dos pampas estava arrasado, desgastado, incompleto – como um brinquedo nas mãos de um colosso pouco cuidadoso.” (CROSBY, 2011, p. 290).
Alfred Crosby estimula a olhar para os movimentos migra tórios, sejam eles no Neolítico ou no século XV, enquanto duas levas de invasores da mesma espécie. Para ele, os primeiros atuaram como tropa de choque abrindo caminho para a segunda leva, a qual, numericamente maior, estava equipada com economias mais complexas.
(CROSBY, 2011, p. 291).
De certa forma, O imperialismo ecológico, de Alfred Crosby, possibilita lançar olhares para outros elementos que também são significativos na compreensão dos processos de expansão e colonização difundidos pelo globo. Porém, faz-se necessário, ao longo do texto, estar atento para não naturalizar estas ações humanas, as quais, no discurso do autor, ganham uma imparcialidade perante os agentes naturais. Olhar para as modificações impulsionadas pelas navegações significa não perder de vista os agentes políticos, econômicos e sociais presentes neste processo.
É significativo pensar no caráter da biota portátil e sua capacidade de modificação dos espaços. Caminhar pelas linhas do Imperialismo Ecológico, de Crosby, permite estar atento a esses agentes.
Entretanto, é de suma importância não cair nas amarras e deixar de lado a bagagem cultural que se desloca com esses movimentos migra tórios, levando consigo, transformações e adaptações. Olhar para ambos os aspectos torna a compreensão das ações humanas mais esclarecedoras e possibilita não perder de vista as ações e decisões humanas, imbricadas em diferentes conjunturas e temporalidades.
Notas
1 Nascido em Boston, em 1931, o autor estadunidense atuou em diversas universidades americanas e se estabeleceu na Universidade do Texas, em Austin, onde aposentou-se, no ano de 1999. Suas pesquisas ao longo de sua carreira contemplaram principalmente questões voltadas para a história biológica, assumindo como maior preocupação as ações e interferências causadas pelos processos evolutivos de diferentes espécies de seres vivos.
2 Conjunto de animais, plantas e doenças que navegaram com os europeus efetivando projetos de colonização e dominação de novas terras.
3 Massa única de terra a qual, após sua divisão, deu origem aos continentes. Este movimento iniciou-se por volta de 200 milhões de anos atrás.
4 Para Crosby, essa revolução ocorreu quando os humanos passaram a triturar e polir. Mais tarde vem o surgimento da agricultura e a domesticação dos animais, a qual vai iniciar primeiramente no Velho Mundo (Europa) e mais tarde nas Neoeuropas. (2011, p. 29).
Referências
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900.
Tradução de José Augusto Ribeiro, Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia da Letras, 2011.
SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
WILLIAMS, Raymond. Cultura y sociedad. 1780-1950. De Colerige a Orwell, Buenos Aires: Nueva Visión, 2001.
Rudy Nick Vencatto – Docente do Curso de História da Universidade Paranaense – UNIPAR e doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. E-mail: rudy_nick@hotmail.com.
História da ética – SIDGWICK (C)
SIDGWICK, Henry. História da ética. São Paulo: Ícone, 2010. Resenha de: SCARIOT, Juliane . Conjectura, Caxias do Sul, v. 17, n. 3, p. 170-174, set/dez, 2012.
A ética pode ser inserida entre os temas filosóficos que mais despertam o interesse de pensadores de diferentes épocas. Estabelecer o que propriamente ela é, o que é a virtude, qual é a conduta correta, o que é o bem e qual é a relação da ética com a psicologia, a política, a teologia e o direito são algumas das questões tradicionais desse âmbito. Considerando a relevância do tema, Sidgwick (2010) apresenta a História da ética, obra que fornece uma visão geral da ética desde, aproximadamente, 550 a.C. até o século XIX, época na qual Sidgwick escreveu a obra. Obviamente, no tocante aos estudos éticos de seu tempo, o autor enfatiza a ética inglesa, na qual ele próprio se inseria.
Sidgwick nasceu em 1838 e faleceu em 1900, desenvolvendo suas pesquisas na Universidade de Cambridge, instituição na qual trabalhou como professor. A principal obra de Sidgwick é The methods of ethics, de 1874, em que ele compara criticamente o método do egoísmo ético, da moralidade do senso comum e da benevolência universal. Esse livro foi revisado e editado sete vezes, ou seja, há sete diferentes edições da obra e, apesar de sua importância para os estudos éticos, nenhuma das edições foi traduzida para o português. Além das contribuições à filosofia moral, Sidgwick estudou matemática, filosofia política e jurídica, epistemologia, metafísica, parapsicologia, pedagogia, etc. Leia Mais
Investigando Piero – GINZBURG (RBHE)
GINZBURG, Carlo. Investigando Piero. Trad. Denise Bottman. São Paulo: Cosac Naify, 2010. Resenha de: AGUIAR, Thiago Borges de. Revista Brasileira de História da Educação, Campinas, v. 12, n. 2 (29), p. 267-280, maio/ago. 2012
Recomendar a leitura de uma obra escrita pelo autor de O queijo e os vermes para o público brasileiro pode ser facilmente justificável pela qualidade já consagrada de sua produção histórica. No entanto, fazê-lo para os historiadores da educação no Brasil justifica-se por dois motivos. O primeiro consiste em fugir do lugar-comum pelo qual Ginzburg é visto por aqui: um autor da micro-história que propõe uma leitura das fontes a partir de um paradigma indiciário e/ ou da circularidade cultural. O segundo é o caráter de “aula-passeio pela arte de se fazer história” que essa obra possui.
A tradução da obra Investigando Piero, lançada em 2010 pela Cosac Naify, foi baseada na edição italiana de 1994. Ela é diferente da tradução publicada pela editora Paz e Terra, que até então circulava no Brasil, visto que esta última foi traduzida de outra edição italiana, a do ano de 1982. A nova tradução para o português, em oposição à edição que circulava anteriormente no Brasil, traz diversas imagens em cores, maior quantidade de figuras, inclusão de quatro apêndices, além da revisão do próprio texto.
Ginzburg propõe com esse livro uma discussão do comissionamento das obras de Piero della Francesca e da iconogafia nelas presente, evitando a discussão de aspectos propriamente formais, questões que deixa o autor para serem respondidas pela história da arte. Três obras de Piero foram escolhidas para esse trabalho: o Batismo de Cristo, a Flagelação e o conjunto de afrescos da igreja de San Francesco, em Arezzo.
Por que investigar Piero della Francesca? Pode um estudo histórico sobre esse pintor renascentista italiano trazer resultados relevantes? É o que se questiona o autor no início de seu prefácio à edição de 1981. Ele entende que, apesar de suas limitações no campo da arte, as condições para a pesquisa sobre Piero (escassas referências biográficas e pouquíssimas obras datadas) são um rico campo de pesquisa histórica. Entendemos que, para Ginzburg (p. 15), está justamente na dificuldade de se trabalhar com esse artista a possibilidade de convertê-lo num “caso de grande importância metodológica, até independente de sua excelência artística”.
O livro de Ginzburg também estabelece um diálogo com a obra de Roberto Longhi, seu conterrâneo, cujo título é Piero dela Francesca (Florença: Sansoni, 1963/São Paulo: Cosac Naify,2007). Comenta o autor que, apesar de ser um trabalho de peso, digno de nota pela qualidade do exame realizado diante de tão parca documentação existente, é inevitável que a obra de Longhi apresente algumas falhas depois de tanto tempo de sua primeira formulação (1927).
Em uma aula que Ginzburg ministrou durante um seminário de estudos da Fundação Longhi, cujo ensaio foi publicado como “Apêndice IV” da edição aqui resenhada, o autor afirma que seu livro consiste em uma homenagem à obra de Longhi, da única maneira que é possível fazê-la: discutindo-a e criticando-a. De certa maneira, investigar Piero é investigar Longhi, e fazer dele um “modelo e um desafio constante”, mesmo quando as conclusões d ambos seguem caminhos diferentes.
A discussão que é praticamente o pano de fundo de todo o livro de Ginzburg é a datação das obras de Piero. Em diálogo com Longhi, Ginzburg (p. 11) afirma que para este “a datação era um momento decisivo na análise de uma obra”. É esse procedimento, porém, que recebe as críticas mais contundentes do historiador italiano. Uma datação estilística permite afirmar apenas que uma obra é anterior ou posterior à outra. “Só é possível converter esse ‘antes’ e esse ‘depois’ em indicações cronológicas absolutas – talvez até ad annum – se a análise estilística se enganchar com elementos de datação externa” (p. 13-14).
São os “ganchos” em documentações concernentes e relacionáveis ao comissionamento e à iconografia das obras que permitiram ao autor (p. 24) “entrar num terreno, o da cronologia das obras, que os conhecedores [da história da arte] sempre reivindicaram como área sua”. E a resposta de Ginzburg (p. 25) aos críticos de seu livro é categórica nesse sentido:
Sem dúvida, o estilo é um fenômeno histórico e, enquanto tal, está ligado a um contexto temporal, em princípio verificável. Mas a datação dos fatos estilísticos pode se prender a uma cronologia absoluta, de calendário, apenas por meio de fatos extraestilísticos, como a data inscrita no afresco de Piero em Rimini, por exemplo.
Não me cansarei de repetir que, sem essa data, o afresco não poderia constituir um “gancho”, um ponto de referência indiscutível (pelo menos até prova em contrário) para a cronologia absoluta das obras de Piero. Isso não significa que a história da arte seja uma disciplina à deriva ou que o juízo dos conhecedores seja mais frágil que o dos historiadores. Porém, o caráter relativo das datações puramente estilísticas coloca claros limites à sua capacidade demonstrativa.
Por que, então, um historiador trabalhar com Piero dela Francesca? A resposta de Ginzburg passa por uma retomada de Lucien Febvre. Se este sugeria examinar plantas, campos de lavoura, eclipses da lua, por que não examinar pinturas? Além disso, para Ginzburg (p. 20), já está na hora de reunir historiadores e historiadores da arte num trabalho interdisciplinar, “cada qual com seus instrumentos e competências próprias, a fim de chegar a uma compreensão mais aprofundada dos testemunhos figurativos”.
Essa interdisciplinaridade, já proposta por Ginzburg em obras como História noturna ou Mitos, emblemas e sinais (história e morfologia), bem como em Nenhuma ilha é uma ilha (história e literatura), tende, tradicionalmente, a se traduzir numa apregoada justaposição de resultados de áreas diversas. No entanto, o historiador italiano propõe fugir dessa prática pouco produtiva, visto que as divergências em relação a problemas concretos, como a questão da datação das obras de Piero, são mais frutíferas do que as convergências entre as áreas. É por meio das divergências que se pode “recolocar em discussão os instrumentos, as áreas e as linguagens de cada disciplina. A começar, sem dúvida, pela pesquisa histórica” (p. 21).
O livro de Ginzburg (p. 24) serviu-lhe também como alimento para “uma reflexão sobre um tema mais geral – o da prova” –, com o qual ele afirma ter-se ocupado “várias vezes na última década, e de diversos pontos de vista”. Investigando Piero, nesse sentido, fornece subsídios para o diálogo com outras obras de Ginzburg, como Relações de força e O fio e os rastros, ou ainda, mais especificamente, com o ensaio “De A. Warburg a E. H. Gombrich: notas sobre um problema de método”, publicado no Mitos, emblemas e sinais.
Vemos aqui como o Ginzburg investigador de Piero dela Francesa é muito mais do que o historiador que estudou a vida de um moleiro perseguido pela inquisição ou que reuniu Morelli, Freud e Sherlock Holmes num único texto, como ele aparece nos estudos de história da educação. É alguém que nos mostra que a construção histórica passa por uma discussão sobre o lugar da prova, diante de uma documentação escassa e da necessária interdisciplinaridade para a realização desse debate.
Mais do que isso, trabalhando com um assunto não tão próximo às temáticas mais recorrentes de sua obra, como os sistemas de crença e bruxaria, Ginzburg oferece, para quem está familiarizado com sua obra, uma oportunidade para ser enxergado por outro prisma. Visto trabalhar numa área na qual ele não circula com facilidade, Ginzburg, em seu livro, constrói sua argumentação com mais “cuidado”, deixando claramente à mostra as etapas do processo de elaboração de uma narrativa histórica valendo-se da análise de sinais que não saltam à vista num primeiro momento.
Investigando Piero está, portanto, recheado da metodologia indiciária e narrativa da escrita histórica de Ginzburg. Ao longo dos capítulos do livro, detalhes como o aperto de mãos de personagens nas obras de Piero são discutidos com historiadores da arte e documentos de época e analisados pela ótica de categorias como “convincente” e “implausível” (p. 38) à luz de critérios de análise como “exaustividade, coerência e economia” (p. 39). As conclusões que o autor (p. 140) constrói ao longo de quatro capítulos dividem-se entre comprovações e conjecturas, como comenta no final da análise do ponto mais controverso de sua obra, a identidade de um dos personagens de Flagelação:
a coerência interpretativa sem correspondências de fato sempre deixa uma margem de dúvida. Os documentos sobre a encomenda e a localização original, que no caso do Batismo permitiram que controlássemos a exatidão da interpretação iconográfica de Tanner, ainda não vieram à luz no caso da Flagelação; esperamos que algum dia apareçam. No aguardo de novas descobertas documentais, é preciso reconhecer que a interpretação acima apresentada é, em boa parte, conjectural. Tratando-se de um quadro anômalo em termos iconográficos, cujo destinatário e localização originais são ignorados, talvez seja difícil proceder de outra maneira.
Não apenas pela qualidade do exercício metodológico de Ginzburg e da ilustração de seu método indiciário de trabalho histórico vale a leitura de Investigando Piero. O exercício de autocrítica que o autor faz ao questionar seus próprios resultados com base em críticas externas é um rico exemplo de honestidade científica. No apêndice II de seu livro, Ginzburg (p. 245), ao discutir os limites da prova no campo dos estudos sobre a iconografia, apresenta “conclusões bastante autodestrutivas”, justificando que “a reflexão sobre um fracasso pode ser tão (ou talvez mais) instrutiva quanto a reflexão sobre um sucesso”. Embora termine afirmando que “preferiria de longe ter discorrido sobre um sucesso”, entendeu o autor (p. 259) que “conjecturas e refutações, ambas fazem parte da pesquisa”.
Seu fracasso constituiu num detalhe que descobriu mais tarde: a faixa vermelha que o autor (p. 258) demonstrou ser a “irrefutável e correta” interpretação de que Giovanni Bacci fora o comitente do quadro Flagelação e estava nele retratado não consistia numa faixa cardinalícia e sim num simples xale, ou um becchetto, “uma longa tira cujas pontas pendiam como uma espécie de turbante, amplamente usada na Itália quatrocentista”. O que Ginzburg pensava ser uma anomalia era, na verdade, uma série de elementos repetidos em outras obras da época. Embora essa descoberta tenha destruído boa parte de sua argumentação sobre a datação tardia do quadro, ela serviu ao autor como instrumento para novas descobertas a respeito de Piero e suas obras. Seu exercício de assunção de um erro apenas reforçou sua posição de que “a propensão a hipóteses arriscadas e o rigor na pesquisa das provas podem e devem coexistir” (p. 250).
Nesse sentido, Investigando Piero, obra que se poderia supor uma anomalia dentro do conjunto de escritos de Ginzburg, talvez um livro de deleite ou uma fuga para outra área, é um exemplo consistente do lugar da prova na pesquisa histórica e das amplas possibilidades de atuação do historiador que quer se arriscar a sair dos lugares-comuns.
Thiago Borges de Aguiar – Pedagogo e doutor em educação pela Universidade de São Paulo (USP). Pós-doutorando bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) na Faculdade de Educação da USP. E-mail: tbaguiar@uol.com.br
Inventar a heresia? discursos polêmicos e poderes antes da Inquisição – NOGUEIRA; ZERNER (RBH)
NOGUEIRA, Carlos Roberto Figueiredo; ZERNER, Monique (Org.). Inventar a heresia? discursos polêmicos e poderes antes da Inquisição. Campinas (SP): Ed. Unicamp, 2009. 304p. Resenha de: NOGUEIRA, Carlos Roberto Figueiredo. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.62, dez. 2011.
Após mais de 30 anos de estudos sobre o aparecimento de seitas de ‘adoradores do Diabo’, que constituíram o tormento e a preocupação da Igreja ao longo do período medieval e que foram metodicamente mapeadas e perseguidas com rigor cada vez maior até culminarem na caça às bruxas da Europa moderna, uma questão foi se tornando cada vez mais clara: na construção dessas seitas existia uma combinação trágica, porém eficaz do ponto de vista repressivo, o amálgama da alteridade com uma enorme carga de erudição.
Daí, então, tornava-se cada vez mais óbvio para nós que, igualmente, não haveria um estranhamento, uma ‘estrangeirice’ nas seitas heréticas. Não eram crenças que migraram e se instalaram no seio da boa coletividade cristã, tampouco ‘sobrevivências de um paganismo’ há muito perdido e do qual restavam símbolos fragmentados e desenraizados ou vestígios de uma gestualidade claramente cristianizada. Tratava-se, sim, do produto dos intentos de uma ortodoxia de impor a outros a existência de outras interpretações do que era viver (espiritual e materialmente) a religião cristã.
O cristianismo nasce como uma religião que se propõe universal em um mundo de particularismos, em especial, particularismos religiosos. Para levar a Boa Nova a todos os homens, o cristianismo precisava se impor a partir do Outro.
Assim é construída a ecclesia, antes de tudo se apartando do judaísmo, o primeiro e mais incômodo ‘outro’, pela proximidade e pela responsabilidade de haver gestado a nova religiosidade.
Eliminados os ‘assassinos de Cristo’, os discordantes e opositores – em suma, os heterodoxos – são calados ou perseguidos, objetos de uma retomada erudita que mergulha na Antiguidade Clássica para buscar identidades, estabelecer ligações para garantir a credibilidade e legitimar a repressão.
Dessa maneira a ‘reação folclórica’, a sobrevivência pagã, criadora da heresia, muda de significado. O paganismo ganha o direito de existir por intermédio da ação de uma ortodoxia em busca de uma tradição que lhe permita estabelecer paralelismos e impor rótulos aos seus opositores.
Assim, é com grata surpresa que vemos aparecer no mercado editorial brasileiro o livro Inventar a heresia?, organizado por Monique Zerner.
Obra plural, mas com uma coesão interna bastante singular: a análise de tratados que constroem a heresia e ‘identificam’ o herege. Produto de investigações produzidas e discutidas em seminários, retoma, a nosso ver com grande acerto, os textos escritos antes da constituição dos Tribunais da Inquisição. Postura acertada, pois se o objetivo era confrontar os documentos com a ‘realidade’ das heresias, o período de ação inquisitorial traz enormes problemas, uma vez que a perseguição acaba consagrando a heresia ipso facto, tornando-a uma realidade irreversível, cuja punição traz aos olhos da comunidade a sua materialização objetiva e inquestionável. Realidade viciada que levou muitos historiadores a acreditarem na realidade das heresias, ou mesmo imaginá-la como outra religião, como no caso do Catarismo.
Inventar a heresia? percorre uma larga trajetória temporal, começando por santo Agostinho e o seu procedimento na polêmica contra o maniqueísmo que o havia desencantado, e se estende até um caso de não-heresia na Gasconha dos inícios do século XII.
E por que um intervalo de tempo tão alargado? A resposta está na perspectiva dos autores. Sabemos que no princípio do cristianismo a tônica é a persuasão. No entanto, no Contra Faustum Agostinho já prefigura a atitude que virá depois: se não persuadidos, os adversários serão por fim condenados.
De maniqueístas e exegetas gregos da Bíblia, a obra saltará para o século XI, o período de emergência das heresias, momento que Jacques Le Goff leu equivocadamente como um ressurgimento folclórico, o que justificava o aparecimento dos movimentos heréticos.
A obra que examinamos inverte a questão, buscando a ‘confecção’ dos hereges no interior dos embates de uma Igreja que tenta impor a sua hegemonia reformista. A heresia é esgrimida por Gerardo, no sínodo de Arras, como resposta à sua tentativa de manter sob controle um domínio que escapa por entre as suas mãos, pois remete a um sistema carolíngio antiquado, que não dá conta da nova ordem social.
Contudo, ainda com Pedro, o Venerável, e seu Contra Petrobrusianos, persiste a argumentação. No entanto é singular que esse abade de Cluny invista contra os hereges, contra os judeus e contra os sarracenos. O século XI, e fundamentalmente Cluny, preparam as armas para defender a Igreja. A argumentação ‘defensiva’ de nosso abade não resiste a uma política de hegemonia da religiosidade. Ao final do século XI, está aberto o caminho para a ausência de diálogo com a heresia, substituído pelo procedimento judiciário de fazer aqueles que a Igreja condena, confessarem a verdade.
E a ofensiva se intensifica. O front cada vez mais ampliado, o inimigo cada vez mais irredutível. A heresia com a incorporação do Direito Romano ao Direito canônico, tornada crime de lesa-majestade no século XIII, acaba necessariamente no apelo às armas contras os hereges, cujo exemplo emblemático foi a Cruzada Albigense.
“Mas quem são os hereges?”, pergunta-se Michel Lauwers, buscando os hereges nas tensões sociais (as contestações aos privilégios e às determinações eclesiásticas) e analisa como exemplo o tema “Os sufrágios dos vivos beneficiam os mortos?”, demonstrando como os polemistas passaram da recusa das práticas impostas pela instituição à doutrina, fazendo dela um instrumento de julgamento da recusa: a heresia.
“Albigenses: observações sobre uma denominação”, cujo título despretensioso oculta o seu verdadeiro teor, é de longe o ponto alto da coletânea. Nele Jean-Louis Biget identifica a origem e analisa a história do nome ‘albigenses’, protagonistas de uma história que começa em 1209, mas que bruscamente foram ‘esquecidos’ após 1960, sendo substituídos pelos ‘cátaros’. Para isso retoma o papel da ordem de Cister como construtora da heresia. Empenhada em consolidar a reforma da Igreja, traduz os conflitos internos e regionais que comprometem a tão almejada unidade, como as expressões de divergências doutrinárias. Ou seja: a invenção de um nome para batizar os desvios da verdadeira unidade até designar todos os dissidentes religiosos do Midi.
Como lembra Dominique Iogna-Prat, a escassez de análises de discursos anti-heréticos é marcante até nossos dias. Os trabalhos sobre heresia analisam os documentos como fontes que expressam a realidade herética e não como um discurso construído com base na ótica constitucional.
Assim, este livro nos ensina um princípio fundamental. Frente aos documentos que tratam da heresia deve-se, em primeiro lugar, duvidar da realidade dos fatos descritos pelos textos produzidos pelo meio eclesiástico ou por autores a ele vinculados. R. I. Moore em seu posfácio vai além: “nem mesmo de um movimento não enquadrado e relativamente inocente de entusiasmo pela vita apostolica entre rustici“. A acusação de heresia tornou-se a principal ferramenta de construção da unidade, revestindo de uma ‘aura sagrada’ a tarefa bem menos momentosa aos olhos da comunidade cristã de eliminar desvios e manter o rebanho cristão dentro da ortodoxia proclamada como religiosa, mas cuja real ameaça não está no plano do sagrado, mas nas divergências políticas e sociais que ameaçam a instituição eclesiástica.
Apenas um senão que não compromete fundamentalmente a qualidade da obra. A tradução dos capítulos, ainda que feita de maneira correta, ressente-se do fato de ter sido executada por diversos colaboradores, o que leva o texto a variar seu estilo, ora mais fluido ora mais ‘trancado’. Mas repetimos: isso afeta a estética, não o conteúdo dos capítulos.
Não poderíamos terminar sem tratar de um pequeno, mas não menos importante capítulo (altamente esclarecedor do caráter rigoroso dessa coletânea) que estabelece ao final da obra um precioso contraponto: “Um caso de não-heresia na Gasconha do ano de 1208”. Frente a uma ‘revolução’ dos leigos dependentes de Saint Sever, na Gasconha, o legado papal reinverte os papéis, ignora práticas e faz dos episódios uma leitura não-herética – extremamente necessária em razão da crise que se estabeleceu entre Inocêncio III e João I da Inglaterra, o qual detinha os domínios das terras insurgentes. Estamos diante de uma boa demonstração da exceção que confirma e elucida a regra!
Enfim, o livro reúne artigos instigantes, que abrem as portas à dúvida e ao questionamento da construção da heresia. O que nos leva a terminar esta resenha assumindo como nossas as palavras do autor Benoît Cursente, que resume a perspectiva de todos os demais: “E nessa circunstância, para que a heresia não existisse, era necessário e suficiente não nomeá-la”.
Carlos Roberto Figueiredo Nogueira – Professor Titular, Universidade de São Paulo. Av. Lineu Prestes, 338 – Cidade Universitária. 05508-000 São Paulo – SP – Brasil, E-mail: crfnogue@usp.br.
[IF]Estado e políticas educacionais na educação brasileira – SAVIANI (RBHE)
SAVIANI, Dermeval. Estado e políticas educacionais na educação brasileira. Vitória: EDUFES, 2011. Resenha de: CASTANHO, Sérgio. Revista Brasileira de História da Educação, v. 11, n. 3 (27), p. 153-182, set./dez. 2011
Uma fecunda parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo, por sua editora, e a Sociedade Brasileira de História da Educação, para comemorar os dez anos de existência desta última, completados em 28 de setembro de 2009, resultou numa iniciativa editorial das mais importantes: uma dezena de volumes sobre dezeixos temáticos em torno da história da educação. O volume de número 6 é este de que aqui nos ocupamos. Organizado pelo renomado educador Dermeval Saviani, cuja contribuição à história da educação brasileira tem sido das mais relevantes, este livro acrescenta muito à reflexão histórica sobre o papel do Estado nas políticas educacionais no Brasil. Sem mais delongas, passemos ao conteúdo do volume.
Abrindo a coletânea, deparamo-nos com o capítulo de seu organizador, Dermeval Saviani, intitulado “O Estado e a promiscuidade entre o público e o privado na história da educação brasileira”. O autor revela essa “promiscuidade” (termo que ele próprio questiona, mas defendendo sua utilização) entre as esferas pública e privada na educação brasileira. Isso é feito rastreando a simbiose público-privada desde o período da “Educação pública religiosa (1549-1759)” até o atual, objeto da indagação “Educação pública: dever de todos, direito do Estado? (1961-2007)”, passando pelos momentos da “Educação pública estatal confessional” (1759-1827)”, da “Instrução pública e ensino livre (1827-1890)”, da “Instrução pública para os filhos das oligarquias (1890-1931)” e da “Educação pública e industrialismo: o protagonismo das três trindades (1931-1961). Ao chegar à atualidade, Saviani mostra o paroxismo dessa promiscuidade “assumindo novas e variadas formas que estão em curso”. O autor é incisivo na sua crítica: “Tudo se passa como se a educação tivesse deixado de ser assunto de responsabilidade pública a cargo do Estado, transformando-se em questão da alçada da filantropia”. Na conclusão, o caminho aventado por Saviani é o de radicalizar o caráter da educação como coisa pública (res publica): “Republicanizando a educação, estaremos radicalizando uma das promessas da burguesia liberal e, com isso, explorando seu caráter contraditório tendo em vista a superação dessa forma social”.
O segundo artigo, “Estado e cristandade nos primórdios da colonização do Brasil: implicações para a política educacional”, é assinado por José Maria de Paiva, autor clássico no estudo desse período de nossa história da educação. O capítulo traz a marca registrada de Paiva, que imprime a seus trabalhos invulgar profundidade de reflexão e análise, a par de um extremo cuidado no trato com as fontes. A gênese do Estado, na passagem do medievo para a modernidade, é estudada a partir de textos de Tomás de Aquino e John Locke. Referência central no pensamento histórico do autor é a necessidade de partir da cultura social para o entendimento do Estado. É por esse caminho que Paiva chega ao Estado português no período da colonização americana, ininteligível fora do âmbito da cristandade – que é o “modo de ser social” conformador da esfera pública. Como era a relação entre o Estado e a educação? Talvez uma passagem do texto em foco possa contribuir para responder a indagação: “Pela tradição, a escola refletia o religioso, como toda a vida social, mas tinha como objeto o cultivo do que então se entendia por ciência. Pelo papel que lhe cabia – de assegurar a manutenção da cultura – era ofício real; em termos atuais, ofício do Estado”. Realeza, Igreja, Educação – tudo fazia parte de um mesmo bloco, eu quase diria um “bloco histórico”, marcado ademais pela prática mercantil, que na modernidade passou a reclamar o tipo de conhecimento que a escola podia fornecer, basicamente a leitura e a escrita. Do geral o autor passa para o específico, o colégio jesuítico no Brasil. Os jesuítas, no entender de Paiva, foram a única ordem religiosa a estabelecer colégios no Brasil, o que se deve a que a eles, e a mais ninguém, o rei delegou a tarefa de evangelizar os índios e preparar os futuros evangelizadores. Trabalhando com a categoria histórica de “experiência”, o autor mostra que os colégios foram organizados tendo por base a experiência das universidades que os antecederam cronologicamente. Conjugados, os conceitos de cultura social e de experiência dão conta, no trabalho de Paiva, de explicar a política educacional na América colonial portuguesa a cargo dos agentes inacianos.
Ainda trabalhando com esse tema, com fundamentos e propósitos que ora se aproximam ora se afastam do precedente, o artigo terceiro tem o timbre de Ana Palmira Bittencourt Santos Casimiro, intelectual atuante na docência e pesquisa da UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O título do capítulo é “O Estado e a política educativa dos jesuítas na história da educação brasileira”. Iniciando por evidenciar as raízes da ordem jesuítica no cenário mundial marcado pelo concílio tridentino, Ana Palmira detém-se no estabelecimento e expansão da Companhia em Portugal e seu posicionamento no contexto da Igreja e da Realeza nessa parte da Ibéria. Só então estuda os jesuítas no Brasil, suas províncias, suas casas de profissão, seus colégios e seus seminários. Taxativa, para ela a “história da companhia de Jesus confunde-se com a própria história da educação brasileira colonial”. Alargando a mirada, Ana Palmira afirma que “os jesuítas palmilharam todos os espaços d território colonial: o campo econômico, pacificando e adestrando a mão de obra indígena e negra; a seara política, exercendo forte influência na Coroa Portuguesa e participando das mais importantes decisões de caráter político e religiosa da época; as diversas instâncias da vida cultural, veiculando ideologias literárias, imagéticas e religiosas; e, finalmente, o terreno prático, mediante o exercício do apostolado missionário da educação formal, ministrada nos colégios, e do sermonário religioso, pregado no púlpito das igrejas”. Não resisto à tentação, para usar uma expressão que cabe à talha ao tema em foco, de uma citação final, em que Ana Palmira sintetiza o sentido da educação jesuítica no Brasil: “Nesse sentido, especialmente o ensino religioso, compreendido no seu sentido lato (a catequese, as normas religiosas impostas e obrigatórias, a doutrinação, os castigos, as representações imagéticas, os rituais, os cultos e, principalmente, a pregação), foi a forma mais eficiente de educação daquele tempo, pois doutrinava, simultaneamente, os senhores e os escravos, os possuidores e os despossuídos, os poderosos e os subjugados. Os jesuítas educaram para o êxito da empresa colonial, para a manutenção do status quo de um pequeno grupo e para a instauração de formas de mentalidades peculiares, que ultrapassaram as barreiras daquele período e que perduram, até hoje, como traços característicos da sociedade brasileira”.
O quarto artigo é da uspiana e pesquisadora do CNPq Carlota dos Reis Boto, tendo por título “Pombalismo e escola de estado na história da educação brasileira”. Para a autora, é preciso deixar de lado a ideia de que o ensino público no Brasil foi obra dos republicanos, pois remonta à ação do Marquês de Pombal, bem antes da eclosão da República no país. Boto não se restringe a mapear os feitos pombalinos. Ad astra per aspera: ela procura o caminho mais penoso, pesquisando o iluminismo português, de que Pombal foi adepto e coautor. Vendo uma das características desse iluminismo, a secularização, como “um modo de ser mundo”, ela esclarece por que a educação pombalina, no contexto iluminista, não poderia deixar de ser secularizada, ainda que não laicizada. Em seguida, ela destrincha a vida e obra de três pilares do iluminismo português que estiveram intimamente vinculados à política educacional desencadeada por Pombal: D. Luís da Cunha, Ribeiro Sanches e suas Cartas sobre a educação da mocidade e Verney com seu Verdadeiro método de estudar. Passando das bases teóricas às diretrizes práticas, Boto mostra o que foi e como foi a escola pública traçada por Pombal. Nas conclusões, revisita o legado pombalino, considerando-o como “um modo de ser escola do Estado-Nação”. E considera, fechando o artigo, que a escola pública é “o lugar mais progressista em matéria de educação”.
O capítulo seguinte é de Maria Cristina Gomes Machado e versa sobre “Estado e políticas educacionais no Império brasileiro”. A autora é especialista em educação no Império e já nos havia brindado com seu indispensável Rui Barbosa: pensamento e ação. O problema que Machado coloca e procura resolver no artigo é o de como a educação atuou no período imperial para constituir o Estado-nação no Brasil. Para isso vasculha a política educacional imperial, desde as primeiras iniciativas sob D. Pedro I até o desfecho republicano. Grande destaque é dado às reformas Couto Ferraz (1854) e Leôncio de Carvalho (1879), esta última com mais amplidão por ter ensejado os pareceres de Rui Barbosa. No ocaso do Império – mostra Machado – dá-se a emergência das questões da liberdade de ensino e do caráter religioso ou laico do ensino conduzido pelo Estado.
Segue-se o capítulo de Luís Antônio Cunha sobre essa última questão: “Confessionalismo versus laicidade no ensino público”. Cunha – ou LAC como ele se autorrefere utilizando suas iniciais – principia com uma bem centrada conceituação de “laico” em confronto com “leigo”. Depois disso volta-se para os primórdios da educação na América portuguesa: a educação religiosa no Estado confessional. Nas três décadas finais do século XIX LAC vislumbra o surgimento da laicidade como superação da incomodatícia “simbiose Igreja-Estado”. Essa laicidade (“de elite”, acentua LAC) acaba por marcar a institucionalização do Estado republicano. A despeito da laicidade, o ensino religioso acaba por retornar à política educacional, como forma de “controle político-ideológico”. Entre outras pontuações históricas interessantes, LAC mostra que o manifesto dos “pioneiros” de 32 não teve consequências práticas no tocante à laicidade do ensino público, pois a Igreja Católica saiu-se amplamente vitoriosa na Constituição de 1934. Passando em revista a questão após a era Vargas, atravessando o debate ocasionado pelas vicissitudes da nossa primeira LDB (1961) e a problemática da “religião, moral e civismo na ditadura militar”, Cunha chega aos dias atuais percebendo algo de novo, a “emergência do movimento laico”, que se distingue do laicismo republicano.
Chegamos assim ao sétimo artigo, a cargo da dupla Geraldo Inácio Filho e Maria Aparecida da Silva. Seu título: “Reformas educacionais durante a Primeira República no Brasil (1889-1930)”. A primeira constatação dos autores é que as reformas imperiais deixaram intocado o panorama educacional que vinha do período pombalino: “Dessa forma, a nascente República herdou as escolas isoladas e o descaso com a instrução pública”. A partir desse ponto de partida, não é difícil à dupla mostrar os avanços na política educacional da Primeira República, que implanta os grupos escolares, garante a laicidade do ensino público, promove reformas estaduais significativas e dá ênfase ao ensino primário, vale dizer, ao que na ocasião se poderia entender por “educação popular”. Tópicos especiais do artigo são dedicados à educação de adultos, ao ensino secundário e à educação superior. Nas conclusões, não deixa de causar impacto a constatação dos autores de que as políticas educacionais da Primeira República “não eram formuladas como um projeto de Estado, mas como iniciativas de governo, sem continuidade, após as eleições substitutivas dos governantes”.
O oitavo capítulo, de autoria de Marcus Vinicius da Cunha, tem por título “Estado e escola nova na história da educação brasileira”. O artigo é inovador por não se contentar com as análises correntes da escola nova, que por vezes datam-na do manifesto de 1932, mas aprofunda-se na questão, buscando as origens e bases teóricas do escolanovismo. No Brasil Cunha localiza, na esteira de Antunha, em Oscar Thompson o primeiro ato da cena escolanovista, apesar de seu caráter elitista, que não chega a impressionar o professorado. O interessante é que o autor vê no escolanovismo uma expressão educacional do ideário liberal. E é com esse fundamento que analisa as contribuições de Sampaio Dória, de Lourenço Filho, de Anísio Teixeira, de Francisco Campos e de Fernando Azevedo. Maior destaque vai para Anísio Teixeira, apesar da ressalva de que seus argumentos e conceitos eram “extraídos diretamente da filosofia de Dewey, filha do mesmo ambiente que deu à luz Jefferson”. O último parágrafo é imprescindível: “As iniciativas e as ideias de Anísio Teixeira redefiniram as relações da Escola Nova com o Estado: a realização do Estado Educador exigia, antes de tudo, manter contato íntimo com a sociedade (…). Restava saber se, até que ponto ou até quando o Estado seria sensível essa proposta. A resposta veio em 1964”.
“A política educacional do Estado Novo” é o trabalho com que José Silvério Baia Horta comparece a esta coletânea. Trabalho de historiador, o artigo de Baia Horta garimpa os discursos oficiais do varguismo. E encontra, na política educacional que tais documentos revelam, uma constante: “colocar o sistema educacional a serviço da implantação da política autoritária”. É com essa ótica que o autor repassa a política educacional do Estado Novo (1937- 1945), examinando a reforma do Ministério da Educação e Saúde empreendida pela dupla Getúlio Vargas-Gustavo Capanema e em seguida a legislação de ensino do período, detendo-se nos seus níveis primário, médio e superior. Deixando de lado a identificação fácil e nem sempre convincente entre o varguismo e o fascismo mussolinista, Baia Horta conclui: “(…) a não concretização das diferentes propostas oficiais mostra que o regime nunca chegou a impor à escola um papel político idêntico àquele instituído na Itália fascista. Assim, a escola no Brasil pôde conservar, durante todo o período, uma relativa autonomia”.
José Luís Sanfelice, que já havia percorrido algumas salas e muitos porões da ditadura militar com seu trabalho sobre o movimento estudantil no período, volta ao tema de sua predileção com o décimo capítulo deste volume, intitulado “O Estado e a política educacional do regime militar”. Revolução? Golpe? Sanfelice não se furta a responder a tais perguntas, mas inova mesmo ao caracterizar o Estado pós-64 como “Estado de Segurança Nacional e Desenvolvimento”. Qual foi a política educacional a cargo desse Estado? De imediato, responde Sanfelice, falou mais alto a Segurança Nacional. Nesse sentido, a política do início da ditadura foi de repressão, tanto ao movimento estudantil quanto às universidades e aos profissionais que atuavam no seu âmbito. Paulatinamente, porém, passou a falar alto a outra face, a do Desenvolvimento, e foi assim que medidas de financiamento do ensino primário via salário educação foram implantadas, juntamente com outras como a da Reforma Universitária (1968), a do MOBRAL (1967) e a da reforma do ensino de 1º e 2º graus (1971, Lei 5.692). Sanfelice, em parágrafo abrangente, sintetiza: “A política educacional dos governos militares pode então ser definida como a política da modernização conservadora e que expressou: o autoritarismo dos mandatários (os docentes, as resistências das universidades, o movimento estudantil foram calados); a subordinação a um modelo econômico excludente e, portanto, elitista, de privilegiamento do grande capital; o tecnicismo burocrático (as medidas em geral não contaram com a participação dos educadores); a mentalidade empresarial no campo da educação, assaltada por princípios de eficiência, produtividade, racionalidade e economia de recursos”.
O volume se encerra com um instigante artigo de Carlos Roberto Jamil Cury sobre “Reformas educacionais no Brasil”. Antes de entrar no mérito, Cury investiga o significado de “reforma” em geral e de “reforma educacional” em particular. Ao conceituar a reforma da educação, o autor considera-a como uma decisão de autoridade para mudar, com base em lei, a política educacional, tornando “a situação considerada mais congruente com a realidade”. Como é preciso, segundo essa conceituação, uma base legal, Cury passa em revista as principais leis sobre matéria educacional no país, dadas sob as diferentes Constituições que aqui tivemos. Como a primeira Constituição foi a imperial de 1824, o estudo abarca as leis a partir desse marco. São revistas as reformas no Império, na Primeira República, na Era Vargas, no Regime Militar e enfim no atual Estado Democrático de Direito. Encerrando o artigo, Cury aposta: novas reformas virão. E deixa no ar uma pergunta: “Será que elas serão de molde a serem inovadoras de modo a conduzir a uma verdadeira mudança social?”.
Em conclusão, trata-se de uma visão panorâmica, porém profunda, sobre o Estado e as políticas de educação na história educacional brasileira. Cobrindo todos os períodos em que essa relação entre Estado e educação se dá no Brasil, o livro traz inestimável contribuição para todos aqueles que se dedicam a seu estudo, apresentando, ademais, preciosa colaboração ao contemporâneo debate sobre os rumos da educação brasileira.
Sérgio Castanho
Cabeza de Vaca – MARKUN (HU)
MARKUN, P. Cabeza de Vaca. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 283 p. Resenha de: KALIL, Luis Guilherme Assis. Comentários sobre Cabeza de Vaca. História Unisinos 15(3):468-471, Setembro/Dezembro 2011.
Cabeza de Vaca não descobriu novas terras, não colonizou territórios, não encontrou as riquezas da Serra de Prata, não manteve o controle sobre seus subordinados e não conseguiu ser absolvido nos tribunais espanhóis. Apesar da sequência de negativas acima, seu biógrafo afirma que este personagem foi um dos grandes “heróis” do século XVI.
A decisão de escrever sobre um personagem pouco estudado pela historiografia brasileira coube a Paulo Markun, escritor e jornalista que já havia publicado outras biografias, como a dedicada a Anita Garibaldi. Fruto de uma extensa pesquisa (cujo resultado pode ser consultado no site criado pelo biógrafo, onde foram disponibilizadas centenas de documentos relativos ao personagem), a obra acompanha a vida deste navegador que, ao longo do século XVI, realizou duas viagens ao Novo Mundo.
Descendente de nobres espanhóis nascido no final do século XV, Álvar Núñez Cabeza de Vaca (cujo sobrenome remete à guerra contra os mouros, quando um de seus ancestrais indicou a melhor rota para os cristãos através do crânio de uma vaca) viajou pela primeira vez à América, em 1527, como tesoureiro real da esquadra comandada por Pánfilo de Narváez à região da Flórida. As tempestades e furacões, aliados a uma série de decisões equivocadas, resultaram em uma sequência de naufrágios que, acompanhados pelo desconhecimento sobre a região e os embates contra grupos indígenas, dizimaram os espanhóis.
Da fracassada expedição restaram apenas quatro tripulantes. A fome extrema e a insegurança acabaram levando esses homens a atuarem como curandeiros dos indígenas, realizando rituais descritos pelo viajante em um de seus relatos:
Vimo-nos, pois, numa situação de tanta necessidade, que tivemos que fazer algo, na certeza de que não seríamos punidos por isso […] A forma como procedíamos em nossas curas era fazendo o sinal da cruz, soprando sobre os doentes, rezando um pai-nosso, uma ave-maria e rogando a Deus nosso senhor que lhes desse saúde e fizesse com que nos tratassem bem. Quis Deus Nosso Senhor, em sua divina misericórdia, que todos por quem pedimos e que abençoamos dissessem aos outros que estavam curados. Por causa disso nos tratavam bem e deixavam de comer para nos alimentar; nos davam peles e outras coisas (Markun, 2009, p. 56-57).
Com o “sucesso” das curas, os denominados “filhos do sol” passaram a ser acompanhados por milhares de indígenas, que lhes forneciam abrigo, alimento e proteção. Cerca de oito anos depois de desembarcarem na América, os quatro sobreviventes alcançaram a Nova Espanha, sendo Cabeza de Vaca o único que decidiu retornar à Europa. De volta à Espanha, publicou os Naufrágios, obra que, como o próprio título aponta, descreve os infortúnios enfrentados em sua viagem. O fracasso, contudo, não o impediu de continuar a investir suas posses na busca pelas riquezas que acreditava estarem ocultas no interior do Novo Mundo. Diante da negativa da Coroa para que chefiasse uma nova expedição à Flórida, o navegador aceitou o cargo de governador e adelantado da região do rio da Prata.
Neste trecho da biografia, Markun deixa de lado, por alguns momentos, a trajetória de Cabeza de Vaca para analisar as disputas entre Portugal e Espanha pelo controle da região onde estaria localizada a mítica Serra de Prata, com suas riquezas incalculáveis2. Como apontado por Sérgio Buarque de Holanda (1969), em seu clássico Visão do Paraíso, os contatos iniciais com esta parte da América ocorreram após a chegada à Europa dos primeiros carregamentos de metais preciosos do Peru e da Nova Espanha, o que reforçava a crença na existência desses minerais.
Quando as primeiras expedições chegaram à região, muito do “esperado” pelos europeus foi “confirmado” pelas próprias características das novas terras3 e também através das informações dadas pelos grupos indígenas – que, segundo os relatos, faziam recorrentes indicações sobre a existência de metais preciosos nas terras do interior –, o que fez com que o início da presença europeia na região fosse marcado por inúmeras expedições em direção às riquezas existentes em locais como a Serra de Prata, o reino do Rey Blanco, a cidade dos Césares, o reino dourado das Amazonas, entre outros.
O autor passa, então, a centrar suas atenções na segunda viagem de Cabeza de Vaca ao Novo Mundo, marcada pelas frustradas expedições em busca de metais preciosos e pelas constantes disputas de poder com Domingos Martinez de Irala, organizador de um motim que conseguiu aprisionar o governador e enviá-lo de volta à Espanha. Seus últimos anos de vida são descritos como um período marcado por longas disputas judiciais, onde o navegador tentou, sem sucesso, comprovar sua inocência. Ao mesmo tempo, Cabeza de Vaca publicou, em conjunto com seu escrivão, Pero Hernández, sua segunda obra: Comentários.
Imprescindíveis para um estudo sobre a trajetória do navegador, os dois textos publicados por Cabeza de Vaca são amplamente utilizados por Paulo Markun como fontes de informações. Ao longo do livro, entretanto, o biógrafo acaba tomando para si a tarefa de determinar em quais trechos das obras o viajante se aproximava ou se afastava da narrativa “real” dos fatos. Dessa forma, enquanto Markun elogia alguns trechos dos Naufrágios, por permitirem ao leitor observar como eram os hábitos dos indígenas da região do atual Texas, através de descrições “dignas de um antropólogo aplicado” (Markun, 2009, p. 59), o conteúdo dos Comentários é criticado, por se tratar de “um oba-oba sobre o tumultuado governo de Cabeza de Vaca, em que, no mais das vezes, Pero Hernández aproveitava cada lance para ressaltar a coragem, o altruísmo, o espírito cristão e o bom senso de seu chefe” (Markun, 2009, p. 256).
Acreditamos, entretanto, que a análise dos relatos coloniais ganha em relevância quando são abandonadas as pretensões em buscar o que haveria de “verdadeiro” em seu conteúdo para analisar o processo de construção das representações sobre o Novo Mundo. Dessa forma, seguimos as premissas apontadas pelo historiador francês Roger Chartier: “O real assume assim um novo sentido: o que é real, de fato, não é somente a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira como ele a visa, na historicidade de sua produção e na estratégia de sua escritura” (Chartier, 2002, p. 56).
Essa postura é adotada por Paulo Markun em alguns momentos de sua obra. Como exemplo, podemos citar a análise das passagens dos Naufrágios em que o viajante descreve sua atuação como curandeiro, chegando a indicar a ressurreição de um indígena4. Segundo o biógrafo, havia uma preocupação do conquistador em exaltar sua atuação entre os nativos sem, contudo, sugerir poderes que pudessem ser interpretados como heresia pelo Santo Ofício. O mesmo ocorre quando o biógrafo identifica aproximações entre o conteúdo das narrativas de Cabeza de Vaca com o de passagens bíblicas, como o trecho onde o navegador afirma que teria morrido se não tivesse encontrado uma árvore em chamas (semelhante à sarça ardente vista por Moisés). Para Markun, essas aproximações fariam parte de um processo de “autoglorificação” de seu personagem, que se descreve como um líder diferente dos outros espanhóis por ter conseguido manter um contato pacífico com os indígenas, o que explicaria as revoltas contra seu governo e sua expulsão do Novo Mundo.
É interessante observarmos que esta imagem construída por Cabeza de Vaca em suas obras acabou sendo reiterada por vários autores ao longo dos séculos. Um deles é Henry Miller. O célebre escritor norte-americano descreve o navegador espanhol como um dos poucos seres humanos que “viram a luz”:
Qualquer análise mais profunda deste livro [Naufrágios] eleva seu drama a um plano que pode ser comparado a outros eventos espirituais na cadeia dos esforços incessantes do homem em busca da autolibertação. Para mim, a importância deste registro histórico não está no fato de que de Vaca e seus homens foram os primeiros europeus a atravessar o continente americano […] mas sim porque, em meio a suas provações, depois de anos de infrutíferas e amargas peregrinações, um homem que já havia sido um guerreiro e um conquistador, fosse capaz de dizer: “Ensinarei o mundo a conquistar pela bondade, não pela matança”. […] a experiência deste espanhol solitário e deserdado no sertão da América anula toda a experiência democrática dos tempos modernos. Creio que, se vivesse hoje e lhe mostrassem as maravilhas e horrores de nosso tempo, ele voltaria instantaneamente ao modo de vida simples e eficaz de quatro séculos atrás. Acredito que São Francisco faria o mesmo, assim como Jesus, Buda e todos aqueles que viram a luz (Núñez Cabeza de Vaca, 1987, p. 10-13).
Ponto de vista semelhante é adotado na introdução da única tradução – parcial – para o português dos Naufrágios e Comentários5, onde o viajante é descrito como alguém que, com sua “utopia plausível”, poderia ter alterado os rumos da conquista do Novo Mundo: “Mesmo que tenha permanecido apenas alguns meses em terras hoje brasileiras, sua experiência poderia ter significado uma radical mudança de curso no trágico relacionamento entre brancos e índios neste país – e em todo o continente.
Caso suas estratégias de ação tivessem encontrado eco entre os demais conquistadores, o genocídio dos povos indígenas, as dificuldades pelas quais passaram os próprios colonizadores e talvez até a destruição dos ambientes selvagens – tudo poderia ter sido evitado” (Núñez Cabeza de Vaca, 1987, p. 18)6.
Postura diferente é adotada por Paulo Markun em sua biografia: “O mítico conquistador fracassado e sonhador – cujos planos para outro modelo de conquista, mais humano, teriam sido destruídos pela ganância dos subordinados – revelou-se um homem de seu tempo, repleto de contradições. A vivência entre os índios norteamericanos afetou sua visão de mundo, mas foi incapaz de produzir uma alternativa eficiente e humana para a conquista – pelo simples fato de que tal hipótese não se sustenta, sejam quais forem os protagonistas desse tipo de intervenção” (Markun, 2009, p. 261).
Ao concluir sua obra problematizando a imagem de Cabeza de Vaca como um injustiçado defensor do contato pacífico e harmônico com os indígenas, Markun tenta escapar da postura adotada por muitos escritores, que tentam “absolvê-lo” ou “condená-lo”, para enfatizar a força da narrativa deste “soldado, alcoviteiro, conquistador, náufrago, escravo, comerciante, curandeiro, governador, prisioneiro e escritor”.
Por fim, julgamos ser necessário deixar claro que a premiada7 obra de Paulo Markun não tem o propósito de ser uma análise aprofundada da trajetória de Cabeza de Vaca e/ou de suas narrativas sobre o período em que esteve no Novo Mundo. Destinada ao público leitor não especializado, este livro segue uma estrutura diferente da presente nos trabalhos acadêmicos, o que exige uma análise diferenciada. Como apontado pelo professor da Universidade de São Paulo Elias Th omé Saliba, esse tipo de produção do conhecimento histórico é tão válido quanto os outros, mas responde a lógicas próprias8. Dessa forma, acreditamos que, apesar de, em certos momentos, apresentarem uma visão reducionista do processo histórico (como a tentativa de equiparar a atuação de Cabeza de Vaca com as de Hernán Cortés e Francisco Pizarro), obras como a analisada nesta resenha têm o mérito de aproximar algumas questões históricas a um grupo não especializado de leitores que vêm crescendo nos últimos anos.
Referências
AGUIAR, R. [s.d.]. Cronistas europeus e a etno-história carijó na ilha de Santa Catarina”. In: A. ESPINA BARRIO (ed.), Antropología en Castilla y León e Iberoamérica – IV Cronistas de Indias. Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, p. 324-335.
CHARTIER, R. 2002. À beira da falésia: a história entre certezas e inquietude.
Porto Alegre, Editora Universidade/UFRGS, 277 p.
HOLANDA, S. 1969. Visão do Paraíso – motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo, Edusp, 380 p.
NUNES CABEÇA DE VACA, A. 1893. Comentários. Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, s.n., tomo LVI (pt. 1), p. 193-344.
NÚÑEZ CABEZA DE VACA, A. 2000. Naufragios y comentarios.
Madrid, Editora Dastín, 356 p.
NÚÑEZ CABEZA DE VACA, A. 1987. Naufrágios e comentários. Porto Alegre/São Paulo, L&PM Editores, 180 p.
SALIBA, E.T. 2011. Conhecimento não é monopólio acadêmico. História Viva, 8(90):16-18.
Notas
2 A crença na existência de um monte composto de prata foi impulsionada pela New zeutung ausz presillandt (conhecida em português com o título de “Nova Gazeta da Terra do Brasil”). Inspirado nos escritos de Américo Vespúcio, esse folheto anônimo foi editado em 1515, na cidade de Augsburg, e obteve uma ampla repercussão, sendo republicado diversas vezes nos anos seguintes. Seu conteúdo descreve uma expedição realizada à região sul da América, local este que, além de cruzes e marcas dos passos de São Tomé, possuiria grandes reservas de metais preciosos.
3 Cabeza de Vaca afirmou que, durante uma de suas expedições, avistou uma região cuja “falta de árvores e ervas” indicaria a presença de metais preciosos. Entretanto, tais metais não teriam sido extraídos devido à grande quantidade de doentes e à falta de aparelhos de fundição (Núñez Cabeza de Vaca, 2000, p. 252).
4 “O que estava morto e fora tratado diante deles havia se levantado, redivivo, andado, comido e falado com eles; e todos os outros que haviam sido tratados estavam sãos e muito alegres” (Markun, 2009, p. 80).
5 Alguns trechos dos Comentários também foram publicados na Revista trimensal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1893. Contudo, Tristão de Alencar Araripe, tradutor desta versão, afirma ter se dedicado apenas às partes que “interessavam a nossa história pátria” (Nunes Cabeça de Vaca, 1893, p. 193-344).
6 Em artigo sobre os índios Carijós, Rodrigo L.S. de Aguiar também chega a uma conclusão similar. O autor apontou que, certamente, foi Cabeza de Vaca quem estabeleceu o contato mais pacífico com os indígenas, fruto do período que passou entre os nativos da América do Norte durante sua primeira viagem ao Novo Mundo, que “mudou seu conceito de mundo” e sua compreensão de que “aqueles povos da América eram humanos livres, com costumes próprios, e não bárbaros, servos por natureza. Tal visão, ao contrário à da maioria dos conquistadores, veio a lhe custar o exílio, anos mais tarde” (Aguiar, s.d., p. 334-335).
7 Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) de melhor biografia de 2009.
8 “As obras de difusão mais popular da história operam segundo uma lógica reducionista: um princípio organizador simples é usado para explicar acontecimentos que a história acadêmica considera infl uenciados por princípios múltiplos. Isso produz uma nitidez argumentativa e narrativa que falta aos trabalhos universitários e parece responder plenamente às perguntas sobre o passado. Ao contrário da boa história acadêmica, essas obras não partem de um problema específico, não oferecem um sistema de hipóteses, mas certezas, ainda que circunstanciais. Esse é o seu principal defeito. Por outro lado, como se trata de uma história fundamentalmente narrativa, ela pode produzir conhecimento novo ao redescobrir significados inéditos. Contar a história de outra maneira também pode mudar o foco e estimular novas pesquisas. Essa é a grande virtude desses livros. Obras desse tipo cumprem também o papel de trabalhar com estudos monográficos e dar a visão geral para o público. Isso deveria ser papel do historiador. Se ele não faz isso, ele fracassou. Mas esses livros desempenham uma função de divulgação que eu acho extremamente importante” (Saliba, 2011, p. 17).
Luis Guilherme Assis Kalil – Universidade Estadual de Campinas Rua Cora Coralina, s/n 13083-896, Campinas, SP, Brasil . E-mail: lgkalil@yahoo.com.br.
La saga de Fridthjóf el valiente y otras sagas islandesas – ANÔNIMO (S-RH)
ANÔNIMO. La saga de Fridthjóf el valiente y otras sagas islandesas. Tradução de Santiago Ibáñez Lluch. Madrid: Miraguano, 2009, 365 p. Resenha de: LANGER, Johnni. História e memória dos vikings. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [23] jul./ dez. 2010.
Desde o momento em que foram amplamente divulgadas durante o século XIX, as sagas islandesas2 constituem um material imprescindível para o estudo da história dos povos escandinavos durante a Era Viking. Mas, por isso mesmo, são motivos de intenso debate pelos especialistas: até que ponto esse material literário, composto entre os séculos XIII e XIV, pode ser utilizado para a pesquisa de sociedades que viveram entre os séculos IX e XI? Tradicionalmente, as sagas islandesas eram vistas como o registro por escrito de tradições advindas de uma memória social, conservada fidedignamente pela tradição oral – mas para os historiadores, o subgrupo das sagas de família tinha maior interesse, devido às suas características de possuírem um estilo mais “realista”, em contraposição as chamadas sagas lendárias, de conotações mais fantásticas.
A polêmica intensificou-se, e hoje não se contrapõe mais o oral com o escrito (ambas existiram paralelamente e com mútua dependência) e qualquer tipo de saga possui reflexos sociais e interesse histórico, independente de seu estilo literário. Um dos tipos de sagas islandesas que vem sofrendo maior reavaliação por parte dos acadêmicos são as fornaldarsögur (sagas lendárias). Estas narrativas descrevem aventuras fantásticas ocorridas na época dos vikings (século IX ao XI), tendo como base material nativo e folclórico, mas também com muitas influências externas (romances de cavalaria, material céltico, árabe, persa, bizantino)3, com o objetivo básico de entreter a aristocracia islandesa do século XIII4. Mesmo não tendo um valor histórico como as sagas de famílias, as narrativas lendárias estão sendo utilizadas como fontes para o estudo da literatura, da ideologia, monarquia, valores éticos e morais, gênero, entre outros, tanto do período em que foram compostas quanto da época que retratam. Leia Mais
Fragilidad humana y ley natural: cuestiones disputadas en el Siglo de Oro – CRUZ (FU)
CRUZ, J.C. Fragilidad humana y ley natural: cuestiones disputadas en el Siglo de Oro. Pamplona: Ediciones de la Universidad de Navarra, 2009. (Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista). Resenha de: CULLETON, Alfredo. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.11, n.1, p.108-110, jan./abr., 2010.
Este é o volume 111 da coleção Pensamiento medieval y renascentista que as Ediciones de la Universidad de Navarra, S.A., nos oferecem desde 1999, sob a direção do próprio Juan Cruz Cruz. Em um formato econômico, mas de excelente qualidade editorial, é-nos oferecido o resgate de uma importante parte da história da filosofia ocidental dos clássicos do pensamento medieval e renascentista, sobretudo da Escolástica Ibérica. Dificilmente encontraremos na história da filosofia um período de tamanha sinergia entre história, teologia, filosofia e direito. Foi um tempo em que as melhores respostas políticas exigiram referências a sofisticados conceitos filosóficos, que, por definição, aspiram à eternidade, no sentido de transcender tempo e circunstâncias.
No chamado Século de Ouro (XVII), destacados teólogos e juristas de diversas nacionalidades teriam o desafio de escrever comentários sobre os aspectos teológicos, metafísicos, lógicos, jurídicos, legais e políticos da obra do Aquinate e de outros importantes pensadores antigos, medievais e renascentistas. Nesse empreendimento não somente atualizaram as idéias do seu mestre Tomás, como introduziram uma nova filosofia política e do direito, que influenciou significativamente a história da América.
Para alguns investigadores, esse movimento representa um episódio isolado na história intelectual europeia; para outros, o debate acerca da sua filosofia política e jurídica é fundamental por razões históricas e sistemáticas. De um lado, estão aqueles que sustentam que essa segunda Escolástica representa um retorno à mais genuína teoria aristotélico-tomista, dependentes de suas noções de lei natural e direito, considerados como objetos da justiça e afirmando um direito objetivo. De outro lado, estão aqueles que asseguram que, embora esses teólogos-juristas aparentemente se mostrem fiéis seguidores de Aristóteles e Tomás, efetivamente consideram o direito como uma faculdade ou liberdade individual, isto é, como um direito subjetivo. Assim, podemos entender esses escolásticos como fortemente influenciados pela tradição franciscana, eventualmente precursora de um contratualismo político.
A maneira como esse vivo diálogo teológico-político-jurídico se desenvolveu entre Suarez, Vitória, Las Casas, Soto, Bañez, Luis de León, Bartolomé de Medina, a maneira como teve continuidade no continente americano, a maneira como os conflitos políticos e sociais das Américas encontraram um eco teórico na Espanha, bem como a significativa influência desses pensadores – e dos conceitos desenvolvidos por eles – sobre os movimentos revolucionários que levaram à independência dos diferentes países são novos tópicos não apenas de interesse histórico, mas de extrema importância filosófica.
Os conceitos de fragilidade humana e de lei natural são conceitos-chave nessa discussão; em cada um desses conceitos os autores trarão as suas maneiras peculiares de interpretar Aristóteles, Tomás e as suas respectivas antropologias, que redundarão em formulações políticas e morais da maior relevância.
Juan Cruz Cruz, catedrático da universidade de Navarra, é erudito na matéria que se permite, com toda a naturalidade, fazer uma retrospectiva introdutória aos mais elementares conceitos como os de razão, natureza e lei, que irá facilitar àqueles que estão pouco familiarizados com a temática o trânsito com fluidez pelos capítulos seguintes, mais densos e detalhados nas disputas conceituais entre os autores.
Os autores do Século de Ouro se valem de um rico instrumental lógico, antropológico e ético para encontrar na lei natural o sentido da atuação moral. A razão prática que objetiva tal lei natural é afetada, segundo a tradição medieval, por três tipos de contingências: a da finitude (fragilidade entitativa), a da liberdade e a da sensualidade (fragilidade operativa). Os capítulos desse livro estão configurados à luz dessa tríplice contingência.
A obra conta com duas partes compostas de cinco capítulos cada uma. Na primeira delas, o autor analisa os conceitos básicos da lei natural assim como são tratadas pelos autores, suas peculiaridades, o seu fundamento formal, o resgate da ideia aristotélica de epiqueia, sua relação com o discernimento, a lei e a justiça; as exceções à lei natural, em que casos e desde que perspectiva; valendo-se de Domingo Soto, Cruz apresenta brilhantemente o paradoxo da mentira, segundo o qual a verdade se constitui em um direito do ouvinte ao qual estão submetidos igualmente os governantes.
Ainda na primeira parte, o quinto capítulo é dedicado à tensão dialética entre vontade e liberdade, entre o voluntário necessário e o voluntário livre, em que o conhecimento e a teleologia vão exercer um papel preponderante, e no qual a necessidade natural não é incompatível com a dignidade da vontade, mas a esta só se opõe a necessidade de coação.
A segunda parte trata das projeções da lei natural, especialmente o direito das gentes. O autor vai usar as próprias palavras de Vitória para distinguir este conceito daquele de direito natural. Dirá ele que a clássica definição de direito natural como aquilo que é adequado a outro pela própria natureza pode ser entendido de duas maneiras. A primeira, quando de por si (de se) corresponde a certa equidade ou justiça, como no caso de devolver o que foi emprestado ou de não querer para o outro aquilo que não se quer para si; a segunda, quando é considerado adequado a outro não em si, mas de acordo com outra coisa (ad aliud), como no caso da divisão da propriedade que não é uma exigência de justiça em si, mas se ordena a outros valores que podem ser a paz ou a concórdia, que não podem existir ou ser preservadas se as pessoas não possuem certos bens básicos, e é por isso que a distribuição de renda corresponde ao direito das gentes. O que é adequado e absolutamente justo no primeiro modo é de direito natural, dirá Cruz (p. 143-144), e o que é adequado e justo do segundo modo, enquanto ordenado a outra coisa, será chamado de direito das gentes. Esse direito das gentes desenvolvido pelo direito romano é retomado e amplamente estudado por Suarez, Vitória e Soto e será de grande importância na política e na relação com os povos não cristãos, especialmente nas Américas.
Cabe destacar um excelente comentário exegético e hermenêutico de Cruz a uma carta de 1534, escrita por Francisco de Vitória e endereçada ao padre Arcos – tratando sobre negócios das Índias, referindo-se especialmente ao tratamento que certos conquistadores do México e do Peru davam aos indígenas –, valendo-se de conceitos como os de direitos humanos e de dignidade, dificilmente atribuídos aos autores desse período.
Outra riqueza dessa obra que deve ser registrada é a minuciosa referência aos textos clássicos de Aristóteles e Tomás de Aquino, bem como de cada um dos autores estudados, sendo sempre mencionadas as edições mais atualizadas.
Alfredo Culleton – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: culleton@unisinos.br
[DR]
Cultura escrita: séculos XV a XVIII – CURTO (RBH)
CURTO, Diogo Ramada. Cultura escrita: séculos XV a XVIII. Lisboa: ICS, 2007. 438p. Resenha de: DURAN, Maria Renata da Cruz. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.60, 2010.
O livro Cultura escrita: séculos XV a XVIII, de Diogo Ramada Curto, é categórico em sua proposta: “orientado analiticamente … desafia toda e qualquer forma de modelação dos sistemas de comunicação, visando trazer para o centro da análise a instabilidade criativa que se encontra presente na intervenção de cada agente (autores, impressores, mecenas, censores, leitores, etc.)” (p.12).
Seu autor, professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na Escola dos Altos Estudos, nas universidades de Brown e Yale, no King’s College e no Instituto Universitário Europeu, funda a proposta ora apresentada na prerrogativa de que “tais estruturas podem ser vistas como definindo lugares onde se enraízam regimes de práticas” (p.14). Tal constructo nos é apresentado por meio de 12 capítulos, dispostos segundo uma lógica em que as fontes de pesquisa, a noção de história, os agentes do processo, seu modo de produzir e seu tipo de produção são concatenados em textos já conhecidos do público europeu, seja por meio de palestras ou de artigos. Separados, em sua escrita, por cerca de dez anos, os ensaios serão abordados pontualmente.
No primeiro capítulo, intitulado “Gravura e conhecimento do mundo em finais do século XV”, Curto procura abstrair do estudo do modo de produção dos livros que circularam na Alemanha, na Itália e na Península Ibérica a longevidade da combinação entre textos e imagens impressas, e as interferências entre a forma de transmissão de uma mensagem e o sentido dos conteúdos transmitidos.
No segundo capítulo, “A língua e a literatura no longo século XVI”, o foco são as “questões que supõem a possibilidade de determinar a vitalidade do uso social de uma língua” (p.58), por meio de um estudo sobre o estabelecimento de hierarquias em luta pela imposição de discursos legítimos.
No terceiro capítulo, “Historiografia e memória no século XVI”, o autor se volta para a corte de d. João II, propondo uma sondagem acerca da genealogia das obras no âmbito cotidiano e ordinário de sua existência.
No quarto capítulo, “Orientalistas e cronistas de Quinhentos”, Curto pretende demonstrar o vínculo entre feitos e obras a partir de um sentido comum, por ele afixado nas lógicas de família e de parentesco.
No quinto capítulo, “Uma tradução de Erasmo: Os louvores da parvoíce“, Curto reproduz palestra proferida no colóquio “Erasmo na Cultura Portuguesa”, realizado pela Academia de Ciências de Lisboa em maio de 1987.
No sexto capítulo, “Uma autobiografia de Seiscentos: a Fortuna de Faria e Sousa”, o autor repassa a figura do bricoleur, apontando registros autobiográficos, discursos confessionais, relatos picarescos e memoriais de serviços como interessantes fontes de pesquisa para o estudo dos homens de letras. Para mais, recorre à noção de tomada de consciência para traçar o percurso e distinguir a consciência de si de homens como Faria e Sousa.
No sétimo capítulo, “Grupos de rapazes, violência e modelos educativos”, o descentramento em relação aos processos de organização social, a valorização da esfera privada e o fim de “uma determinada concepção de espaço público” compõem o texto.
No oitavo capítulo, “Mercado e gentes do livro no século XVIII”, Ramada Curto é diligente, procurando nos arquivos notariais, comerciais e religiosos as referências pessoais das “gentes do livro” residentes em Portugal. O que o autor, outrora editor da coleção Memória e Sociedade da Difel portuguesa, acompanha são as mudanças na forma de trabalhar do escritor ocidental, o que encontra é o estabelecimento de uma relação com um público alargado e com novos tipos de mecenas.
No capítulo nono, a presença da corte portuguesa nos domínios da cultura escrita lhe permite traçar sua noção de iluminismo. Com “D. Rodrigo e a Casa Literária do Arco do Cego”, apresentam-se “numa lógica de relações claramente cortesãs” as tensões de uma época em que coabitavam figuras como d. Rodrigo e Pina Manique, protagonistas do excerto.
No décimo capítulo, “Literaturas populares e de grande circulação”, o historiador português prossegue na companhia dos documentos notariais, mas, agora, sai das casas e vai para as ruas, procurando valorizar o espaço urbano “a partir dos significados atribuídos a cada espaço particular, bem como às suas respectivas relações” (p.299).
Em “Notas para uma história do livro em Portugal” e em “Da tradição bibliográfica à história do livro” o autor problematiza as pesquisas lusófonas sobre o livro. Primeiro apontando a subalternização da produção e da divulgação de novos conhecimentos em função da cristalização de algumas explicações; depois, afirmando que suas observações têm “a ambição exclusiva de poder funcionar como guia crítico de futuras investigações” (p.414).
Nessa construção de uma “história dos sistemas de conhecimento imperiais” tendo em vista o modo como nela se desencadearam “novas perspectivas em relação ao estudo da cultura escrita” (p.17), Curto procura orientar seu pensamento a partir de dois modelos historiográficos: o de Lucien Febvre, com seu Rabelais “vivendo numa época cujas estruturas mentais não lhe permitiam pensar sequer no problema da descrença”, e o de Carlo Ginzburg, com seu Menocchio “que, uma vez interrogado pelos inquisidores, demonstrava a sua originalidade em fabricar uma visão própria do mundo” (p.14). Não se trata, todavia, de optar por um desses rumos, mas, sim, de “reforçar um ponto de vista capaz de explorar as diferentes dinâmicas sociais presentes mesmo quando se trata de sociedades altamente hierarquizadas e caracterizadas – como sugeriu Vitorino Magalhães Godinho – por diversos bloqueios” (p.15).
Do mais, que Ramada Curto traga novas questões e novas fontes para enriquecer o estudo dos domínios da cultura escrita é tão certo quanto sua proposta de movimentar a historiografia lusófona. Acerca dessas provocações e do lançamento de Cultura imperial e projetos coloniais (séculos XV a XVIII), editado pela Unicamp em 2009, deu-se um encontro ocorrido no dia 23 de outubro de 2009, no IFCH da Unicamp, aqui descrito para melhor esclarecer o lugar do autor na historiografia contemporânea.
No encontro, Silvia Hunold Lara apresentou e Alcir Pécora debateu um texto de Ramada Curto pautado pela discussão do barroco, da cultura letrada e do período compreendido entre o final do século XVI e o início do XVII. Em sua fala, o historiador português ponderou que a assistência teria contato com uma visão estrangeira de sua terra e, então, anunciou a pretensão de analisar um “conjunto de atitudes” capaz de desenhar uma autorrepresentação da época à luz dos seus “diversos contextos pertinentes”.
A arguição de Alcir Pécora distinguiu o ardil de Curto: cria-se no seu tipo de historiografia um inventário calculado que dissolve lugares comuns, mas que, ao mesmo tempo, esquiva-se de polêmicas. Ramada Curto respondeu mencionando a necessidade do historiador de buscar novas fontes e de tirar das mais comuns o estatuto absoluto por elas alcançado, não para desautorizá-las, mas para avançar com a pesquisa – no que evoca Irving Leonard, afirmando a prerrogativa de se fugir às totalizações para não perder as distinções.
A réplica de Pécora foi enfática – “Mas seu texto não responde o que pergunta!” –, no que Curto se explicou descrevendo a própria formação: lecionou uma Sociologia da Literatura Brasileira em universidades norte-americanas; aprendeu, na juventude, a ideia de mosaico; participou da efervescência francesa sobre o estudo do fragmento (o que considera um privilégio). Em Portugal, tomou lições sobre o neolusotropicalismo e aprendeu a manter o discurso sobre as colônias “a panos quentes”. Em seguida, Ramada Curto afirmou que sua intenção não é tanto fazer uma proto-história, quanto ressaltar os contrastes de cada época para dar a ideia de sua dinâmica, tendo em vista que “uma cultura deve ser vista a partir de seus fragmentos e em relação a um conjunto de práticas que envolva pessoas concretas”. Alcir Pécora não expressou convencimento ou concordância. Os espectadores, inquietos, passaram a perguntar.
Laura de Mello e Sousa foi a primeira, indagando sobre sua proximidade com Nathalie Zamon Davies na obra “A ficção no arquivo” e sobre sua opinião acerca de uma construção literária que permite o tipo de história que ela detectava nos livros do historiador português.
Para responder, Curto citou Naipaul, se disse longe de Davies e afirmou sua posição como a de alguém que busca na realidade, e não na ficção, os seus recursos. Concluiu essa resposta recomendando a leitura de Pierre Chaunu para os espectadores mais jovens.
Silvia Hunold Lara, brincando com a expressão de Pécora sobre o texto de Curto – “uma muralha” –, refere-se a ele como um mar, cujos vagalhões vêm na forma de notas de rodapé e onde as correntes têm maior importância que a desembocadura. Para ela, Sérgio Buarque de Holanda é correnteza subterrânea nesse mar, no que um aceno de Ramada Curto nos faz crer que estava certa.
Iris Kantor assinalou que não apenas os historiadores portugueses não conhecem a bibliografia brasileira, como os brasileiros não conhecem a historiografia portuguesa; que talvez esse seja um problema geracional, mas que ele só tem aumentado. Menciona a ideia de uma geografia política de intelectuais e pede que Ramada Curto se localize ali.
Ramada Curto enunciou Pierre Vilar a propósito do que colocou como uma de suas principais perguntas: “Como pensar a nação?”. Depois, descreveu suas preocupações acerca do desconhecimento da historiografia e, sobretudo, das fontes históricas assinalando, relutante, que as bibliotecas e arquivos possuem muito mais manuscritos guardados que catalogados, e que, destes, “basta que a ficha seja roubada, para se perder a memória do mesmo”.
Faço uma pergunta: de onde vem e para onde vai a ideia de uma tomada de consciência em sua obra? Ele responde: vem de uma tradição marxista e da necessidade, no momento em que vivemos, de suscitar ideias como essa. Daí por diante, entre fragmentos dispersos, tais como algo sobre a impossibilidade de classificar o passado, mas buscando conferir se seus agentes o fazem, recordo que Ramada Curto, respondendo a uma reivindicação de Pécora sobre sua metodologia, assinalou: “Não digo isso no próprio texto porque não posso estar sempre a dizer das regras do jogo que estou a jogar”.
Maria Renata da Cruz Duran – Doutora pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Quadra 02, Bloco L, 7º andar Brasília – DF. E-mail: mrcduran@bol.com.br.
[IF]Qaraqara-Charka. Mallku, Inka y Rey en la Provincia de Charcas (Siglos XV-XVII) – PLATT et al (C-RAC)
PLATT, Tristan; BOUYSSE-CASSAGNE, Thérèse; HARIS, Olivia. Qaraqara-Charka. Mallku, Inka y Rey en la Provincia de Charcas (Siglos XV-XVII). Historia Antropológica de una Confederación Aymara. La Paz: Instituto Francés de Estudios Andinos, Plural Editores, University of St. Andrews, University of London, ínter American Foundation, Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, 2006. 1088p. Resenha de: ORÍAS, Paola Revilla. Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.41, n.2, p.309-311, dic. 2009.
En abril del año 2006 apareció: Qaraqara-Charka. Mallku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII). Historia antropológica de una confederación aymara [en adelante QQCH]. Se trata de la cristalización de un proyecto de investigación emprendido por Tristan Platt, Thérése Bouysse-Casagne y Olivia Harris [en adelante TTO], antropólogos e historiadores comprometidos en la indagación del pasado andino, quienes durante años recopilaron, estudiaron e interpretaron el material que presentan en este volumen.
El sólido análisis crítico propuesto se centra en las manifestaciones políticas, económicas, sociales y culturales del territorio Qaraqara-Charka -confederación de etnias regionales y señoríos prehispánicos de América del Sur que se fue constituyendo en conjunto político después del eclipse de Tiwanaku (Platt et al. 2006:25)-, durante las épocas prehispánica y colonial, atendiendo particularmente al papel y desenvolvimiento de los señores naturales en los diferentes contextos en que ejercieron su autoridad. La idea parece haber sido gestada en Sucre (Bolivia) en los años ochenta, con el aliento de intelectuales como John Murra, Thierry Saig-nes y Gunnar Mendoza.
En el propósito colaboraron estudiosos como Thomas Abercrombie, Mercedes del Río, Roger Ras-nake, Carlos S. Assadourian, Teresa Gisbert, Rossana Barragán, Jorge Hidalgo, Martti Parssinen, Ana María Presta y Nathan Wachtel entre otros, lo que junto a la amplia covertura institucional internacional de que fue objeto la publicación, nos señala la envergadura del proyecto acometido. Hasta aquí, ningún investigador o grupo de investigadores se había enfrentado a un reto historiográfico de tal magnitud sobre las raíces profundas de Charcas.
Tres son los momentos y escenarios cuyos pormenores analiza este libro: el mundo prehispánico, la incorporación de la Confederación Qaraqara-Charka al Estado Inca y posteriormente al Imperio español sobre la base de una alianza de intercambio recíproco.
Al inicio encontramos un rico, puntual y breve ensayo de interpretación antropológica de conjunto, pero no estamos aquí ante una historia monográfica concluyente sobre Charcas, sino ante una mirada indagatoria y reflexiva en torno a las manifestaciones socio-culturales, similitudes, diferencias, trato e interacción que se estableció entre los señoríos Qaraqara y Charka, de éstos con las demás federaciones de Charcas y con otras regiones.
La obra está dividida en cinco capítulos principales: Culto, Encomienda, Tasa, Tierra y Mallku, cada uno con un conciso ensayo de interpretación que introduce el contexto específico de la documentación transcrita en extenso al final del libro. Muchos de los documentos presentados, hasta aquí inéditos, nos llegan por primera vez reunidos y con un sólido aparato crítico.
Atendiendo a la subjetividad inmanente a cada texto y los criterios de verdad de la época, el análisis crítico documental le da especial relieve a la indagación en las condiciones de producción, en lo que dicen y parecen callar las voces interactuantes, sumergiendo la atención del lector en diferentes procesos de construcción de la memoria. No olvidemos que hay historiadores y antropólogos envueltos en una empresa que combina técnica y método de archivo con trabajo de campo, además de algunos acercamientos arqueológicos e incluso climatológicos. La práctica interdisciplinaria ciertamente enriquece el trabajo y suscita interrogantes desde diferentes ángulos. Estamos ante una moderna exégesis de fuentes que deja entrever formas alternativas de integración y análisis de datos, y que permite la (deReconstrucción de la vida prehispánica y colonial en Charcas. Diferentes lecturas parecen posibles. No podía ser de otra manera al tratarse de la historia de una sociedad en esencia polifónica y multicultural, donde las voces de los sujetos históricos parecen yuxtaponerse.
El capítulo “Culto” presenta dos probanzas de méritos, una de un cura vasco de la diócesis de Charcas y otra de un párroco de Chayanta. El valor de estos textos está en relación con la poca documentación que hay al respecto para Charcas. En el capítulo “Encomienda”, encontramos tres cédulas bastante tempranas que permiten entender la organización de Qaraqara y de Charka, así como la constitución de los centros de poder de la zona. “Tasa” por su parte remite a documentos sobre pleitos entre indios y encomenderos, así como a cálculos oficiales que, elaborados en diferentes momentos, proporcionan valiosos datos sobre contabilidad y monetización colonial, aclarando el panorama tributario. En “Tierra”, los autores seleccionan y abordan el estudio de algunos casos individuales documentados, los mismos que, ampliando el lente analítico, permiten comprender la realidad política local y regional de las fronteras entre ayllus.
Dada la variedad de los problemas planteados y la dinámica de su estructura, los capítulos suelen entrecruzarse y complementarse en su contenido, lo que a su vez indica que diferentes recorridos son posibles dependiendo del interés del lector.
El marco temporal abarca a grandes rasgos los siglos XV-XVII, aunque hay documentos que sobrepasan estos límites. Por otro lado, algunos textos podrían pasar como piezas de microhistoria, ya que, si bien toman en cuenta la coyuntura individual, con un cambio de lente permiten identificar un contexto más amplio. En otros casos, en un mismo texto se entrecruzan varias temporalidades relacionadas por cierto lugar común, el mismo que permite reconocer elementos de larga duración dentro de una visión braudeliana. Y es que, antes que buscar huellas prehispánicas en el tiempo diacrónico, el afán de contextualización de TTO busca entender cómo prácticas culturales concretas lograron ir cobrando nuevos sentidos por medio de la interacción de los actores.
El territorio de la Confederación Qaraqara-Charka se presenta como un espacio diferenciado -política y culturalmente hablando- del Collao, cuya tendencia hegemónica en la zona antes de la llegada de los Inca se debió a su privilegiada posición económica, política y geográfica estratégica dentro del Qullasuyu (Platt et al. 2006:28). No obstante, fuera de todo presentismo concluyente, los mapas presentados se anuncian sólo referenciales, dando prioridad al estudio de las personas en relación al de los territorios. Así, los autores nos dejan sospechar el dinámico contacto que hubo entre grupos de puna y de valle, sobre la base de obligaciones de reciprocidad política, religiosa y militar entre comunidades, trayéndonos a la mente aquel modelo de autosuficiencia estudiado por Murra y Condarco Morales para la zona andina (Condarco Morales y Murra 1987). La postura es más cautelosa a la hora de reflexionar sobre la posible tradición dual de gobierno, pero llega a proponer que se trató de una confederación formada por Charka vila y Charka hanco: “Así se justificaría que, más tarde, los Qaraqara siguiesen clasificándosejunto con los Charka” (Platt et al. 2006:47).
Una de las reflexiones más interesantes que nos ofrece QQCH gira en torno al estudio de la autoridad indígena en Charcas. Esta es presentada como una fuerza dinámica y transformadora de sí y de su entorno en el contacto y la convivencia diaria en el escenario colonial. Precisamente, el último capítulo “Mallku”, presenta probanzas de méritos y servicios de señores naturales, relatos personales sobre el linaje de algunas familias que, en la larga duración, permiten descubrir ciertos objetivos de encumbramiento y de poder escondidos entre líneas dentro de un escenario más amplio que el individual. En este sentido una pieza clave es el “Memorial de Charcas”, pronunciamiento de los mallku de la zona en que instan al Rey a proveer los remedios necesarios en diferentes aspectos concernientes a la situación del indígena después de las reformas toledanas; pero, particularmente, buscando el restablecimiento de sus derechos y estatus de altas autoridades prehispánicas, enumerando los servicios hechos a los Inca y al Rey y pidiendo ser tratados como nobles españoles. Resalta aquí el acusioso análisis del papel y estrategias de los mallku de Charcas para acomodarse en contexto colonial. Este documento reúne los puntos esenciales abordados en los diferentes capítulos, y cuya preocupación de transcripción y reedición parece haber sido una de las motivaciones principales de la gestación de QQCH.
En pos de comprender mejor la posición, relación e influencia de los señores naturales de Qaraqara y Charka, así como la transformación diacrónica de las sociedades andinas, TTO proponen una aproximación rigurosa a dos momentos ineludibles: La llegada del Inca Wayna Qhapaq, y el posterior reordenamiento del Estado Inca por Gonzalo y Hernando Pizarro en 1538.
Por los datos expuestos evidenciamos que lejos de rebelarse, los aymarás habrían optado por una política de alianzas con Pachakuti y Wayna Qhapaq, la misma que les ayudó a garantizar ciertos privilegios y una notable autonomía dentro de su territorio. Teniendo en cuenta que los Inca dependían bastante de Charcas en su empresa de conquista, el sometimiento habría sido más bien una especié de pacto de intercambios recíprocos (Murra 1975:IV). Bouysse-Casagne sostiene incluso que los Inca no sólo dejaron su impronta en Charcas, sino que éstos tomaron muchos elementos sociales y culturales de esta región del Sur para el gobierno del Estado multiétnico.
A pesar de la innegable dificultad que implica reconocer la superposición de derechos y obligaciones en este escenario de reciprocidad y rivalidades entre mallku, la perspectiva antropológica de este estudio nos muestra la importancia que conservaron los señoríos de Charcas en la vida política del Tawantinsuyu o Estado multiétnico andino, a partir de la relación de sus autoridades con el Inca.
En lo que a la imposición del dominio hispano se refiere, éste no habría sido el resultado del enfrentamiento entre dos bandos opuestos, pero de un combate desde varios frentes rivales (dos Inca, dos sacerdotes, varios mallku, los españoles). Para TTO, la capacidad de negociación del príncipe Pawllu con los señores naturales locales lo convierten sin duda en: “el que conquistó el Qullasuyu para el Rey de España” (Platt et al. 2007:111).
Sea como fuere, QQCH muestra mediante estas reflexiones cómo desde los primeros años de convivencia entre españoles e indígenas, pero particularmente después de 1569, se puso en marcha todo un proceso de desestructuración que sufrieron las sociedades andinas, en el que el Virrey Toledo dejó una fuerte impronta. La documentación expuesta y la lectura propuesta traza el desarrollo de las interacciones entre los actores, las mismas que llevaron a la organización paulatina de una nueva sociedad en Charcas. TTO sugieren incluso que en este período se habría ido organizando poco a poco en Potosí un “archipiélago colonial”, con una lógica radial en torno al mercado naciente integrado por la minería, la agricultura, el trabajo artesanal y una serie de nuevas tareas dentro de una red comercial inédita en la zona1. La coyuntura política posterior a la llegada del Virrey, así como el accionar de los señores naturales, habrían sido desde esta perspectiva fundamentales para consolidar los cambios. Toledo habría motivado por ejemplo que el mallku tradicional se convirtiera intermediario entre el indígena y la Corona, intentando dar fin a la antigua organización dual, y distanciándose sustancialmente de la autoridad tradicional.
No obstante, y considerando que la historia está llena de matices, como bien muestran TTO es necesario destacar que muchos de los documentos presentados en esta obra dejan ver que ciertas reglas internas de sociabilidad andina tradicional perduraron -aunque no intactas- en diferentes aspectos dentro de celebraciones o en muestras de generosidad (Platt et al. 2006:659). El interés de este libro radica precisamente en ver cómo, en qué medida y bajo qué circunstancias fueron cambiando estas prácticas y sus referentes dentro del imaginario cultural de Charcas, para articularse dentro de la nueva sociedad colonial.
La contribución de este volumen a la historiografía andina es sin duda sumamente rica y sólida. Su lectura es absolutamente recomendable y necesaria para los estudiosos del pasado andino.
Agradecimientos: Comprometo especialmente mi gratitud el Doctor Jorge Hidalgo L. cuyas acertadas recomendaciones fueron de gran ayuda. Asimismo, agradezco los valiosos comentarios de los evaluadores que ayudaron a mejorar la calidad de este trabajo.
Notas
1 Aunque hubo algunos lugares como Macha, donde Platt argumenta que la organización vertical logró subsistir marcando una continuidad en la larga duración (cf. Platt et al. 2006:538).
Referencias
Condarco Morales, R. y J. Murra 1987 La Teoría de la Complementariedad Vertical Eco-Simbiótica. HISBOL, La Paz. [ Links ]
Murra, J. 1975 Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino. IEP, Lima. [ Links ]
Platt, T., T. Bouysse-Cassagne y O. Harris 2006 Qaraqara-Charka Mallku, Inka y Rey en la Provincia de Charcas (siglos XV-XVII) Historia Antropológica de una Confederación Aymara. IFEA, Plural, University of St. Andrews, University of London, ínter AmericanFoundation, Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, La Paz. [ Links ]
Paola Revilla Orías – Magíster Historia. Mención América, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, Santiago. E-mail: paorevi@gmail.com
[IF]
The surgeon in medieval English literature – CITROME (RBH)
CITROME, Jeremy J. The surgeon in medieval English literature. New York: Palgrave MacMillan, 2006. (The New Middle Ages Series). 191 p. Resenha de: SANTOS, Dulce O. Amarante dos. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.29, n.57, jun. 2009.
O diálogo profícuo com a produção acadêmica francesa constitui-se em uma das principais características dos estudos medievais no Brasil, sobretudo no campo da história. A leitura crítica da obra em epígrafe contribui para a ampliação desse diálogo, desta vez com a produção inglesa, já que se trata da publicação, pela editora norte-americana Palgrave MacMillan, de uma tese de doutorado realizada na University of Leeds. Seu Institute for Medieval Studies, centro de referência na área dos estudos medievais, realiza anualmente o maior congresso internacional europeu da área. O autor, Jeremy Citrome, é atualmente professor assistente de literatura inglesa na University of Newfoundland and Labrador, no Canadá.
Na introdução, Citrome afirma que não se propôs a realizar uma obra de história da medicina nem de crítica literária, mas uma análise do poder social da metáfora do cirurgião nos textos poéticos religiosos e nos textos médicos em prosa, em língua vernácula, o inglês medieval (Middle English), no final da Idade Média. O rigor da investigação repousa na erudição do medievalista, que exibe domínio das fontes manuscritas e impressas além da extensa e valiosa bibliografia compulsada.
O exame da inter-relação entre os conceitos medievais de pecado e doença não é algo novo, muito menos a associação entre o físico (médico) e o padre confessor. O médico antigo cuidava da paixão (sofrimento) do corpo, o filósofo (e depois o padre confessor) aplicava-se a curar as doenças da alma, ou seja, os pecados. É bem conhecida também a imagem de Cristo como o Supremo Médico, aquele que traz o conforto físico e espiritual, perpetuada por Agostinho de Hipona. Essa imagem justifica-se, dentre outros fatores, porque grande parte de seus milagres foi cura de doentes (paralíticos, leprosos, cegos e surdos, entre outros) e igualmente porque trouxe a salvação à humanidade enferma pelo pecado. Nessa linha, nenhum físico poderia competir com as intervenções miraculosas de Deus.1 Outra questão abordada é a não distinção muito clara entre os físicos e os cirurgiões no período anterior ao século XIII, o grande divisor na história da medicina. Ambos podiam exercer as três estratégias da arte de curar os corpos enfermos: primeiro, a composição de regimes e dietas para a preservação da saúde corporal; segundo, a prescrição de remédios apropriados para cada caso e, por fim, o último recurso adotado quando os outros falhassem, a cirurgia, ou seja, a interferência direta no corpo. Este era pensado como criação divina, algo fechado (enclosure), sem lesões, inviolável, daí a proibição da dissecação dos cadáveres até o final do século XIV e o pouco desenvolvimento da anatomia. Além disso, para os gregos antigos a enfermidade era um processo de desestruturação interna do corpo humano. Para explicá-la Hipócrates de Cós (século V a.C.) criou a teoria humoral, retomada por Galeno (século II d.C.) e utilizada em toda a medicina medieval. Nessa teoria o corpo era formado por quatro humores ou compostos líquidos, a saber, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A corrupção deles constituía-se na causa primeira de todas as doenças humanas.
Paralelamente ocorreu o debate em torno desta questão: a medicina era uma arte (techné ou ars) ou uma ciência (epistemé ou scientia)? Discussão interminável, que fazia da teoria uma ciência e da prática uma arte. Segundo Aristóteles, uma das grandes autoridades do período, a medicina estava mais para a techné grega (ou ars), porque mesmo sendo uma ciência fundada em princípios universais, tem como objetivo o incerto, o particular, o que lhe confere o estatuto de arte, no saber fazer. Porém, a medicina podia ser entendida como uma ciência, já que implicava racionalidade, explicação causal, observação, indução e dedução, previsões e hipóteses. Assim, nessa afirmação da medicina como um campo do conhecimento teórico no diálogo com a filosofia natural, os físicos escolásticos, atuantes nos Studia Generalia de Paris, Montpellier ou Bolonha, tornaram-se figuras proeminentes na hierarquia dos especialistas na cura das doenças: os cirurgiões, os barbeiros, as parteiras etc. É importante ressaltar que muitos físicos eram clérigos.
O grande mérito da obra de Jeremy Citrome consiste em sua contribuição para essas questões com sua nova leitura dos cânones do IV Concílio de Latrão (1215), destacando as repercussões nos meios médicos e eclesiásticos na época posterior. Nesse concílio, o papa Inocêncio III (1198-1216) implantou uma série de reformas, dentre as quais destacam-se a obrigatoriedade da confissão auricular anual para o perdão dos pecados e a proibição do exercício da cirurgia pelos clérigos, pois qualquer contato com sangue era incompatível com o exercício da atividade clerical. Consequentemente, a cirurgia passou a ser majoritariamente exercida por leigos e socialmente desprestigiada. No entanto, no final do século XIV e inícios do XV, a cirurgia começa a integrar o currículo dos cursos de medicina. Simultaneamente ocorre a proliferação de manuais de confissão2 e de cirurgia, tais como o de Guy de Chauliac e o de Lanfranco, em línguas vernáculas na Inglaterra e em outros reinos europeus. Assim, segundo Citrome, essas duas reformas foram responsáveis pelo aparecimento da metáfora da cirurgia como tratamento para ferimentos, entendidos muitas vezes como as marcas corporais do pecado. Praticamente todo manual de confissão no século XIV incorpora essa imagem dos ferimentos corporais ligados ao pecado, pois para esses clérigos a relação entre a aflição física e a espiritual não era meramente figurativa. Associavam aflições corporais com intemperança moral. Portanto, as feridas eram sinais das punições futuras dos pecadores no post mortem. O autor demonstra essa tese numa análise instigante das fontes literárias e médicas dos séculos XIV e XV.
A título de exemplo, Citrome explora o poema-sermão Cleanness, cuja narrativa linear de história sagrada bíblica inicia-se com episódios do Velho Testamento, o Dilúvio e a destruição da cidade de Sodoma, e chega até a Encarnação de Cristo no Novo Testamento. Ao dialogar com outros estudiosos do poema, demonstra, de forma interessante, a interface da medicina com a teologia, quando o autor anônimo (Pearl Poet) comparou as diferentes ações divinas, no Velho e no Novo Testamento, com tratamentos médicos opostos. O poeta reflete a divisão discursiva já referida entre as atuações dos físicos e dos cirurgiões, apresentando o Deus do Velho Testamento como cirurgião e Jesus Cristo, num segundo momento, como o físico que cura sem ferir. Assim, a primeira imagem é a de Deus como o cirurgião que queima e destrói o tecido corrompido do corpo social, justificando, portanto, a destruição punitiva para os sodomitas em função dos desregramentos sexuais, considerados pelo poeta como lesões ou fístulas que poderiam infectar toda a sociedade. Nessa estrutura discursiva e mental que trabalha com antíteses, Cristo torna-se, para o poeta, o físico que trouxe tratamentos médicos suaves, pois cura sem ferir os pecados humanos.
Em outro capítulo da obra, Citrome volta-se para a leitura crítica da obra Concilium consciencie, uma antologia de poemas sobre diversos temas religiosos do século XIV, de autoria do clérigo John Audelay. O exame desses poemas é duplamente valioso porque aponta para a ubiquidade da metáfora das lesões do pecado e também porque se trata de um relato autobiográfico de aflições vividas, dos sofrimentos crônicos, que defende a confissão como o único remédio verdadeiramente eficaz contra esses males. Assinala ainda os vários significados da doença na cultura penitencial do final da Idade Média, na Inglaterra, e a importância contínua da metáfora do cirurgião para os discursos de salvação.
A fim de contrapor fontes médicas às literárias de cunho religioso, o autor debruçou-se também na versão em Middle English da obra latina do século XIV, Practica, do cirurgião inglês John de Arderne. Num dos tratados desse texto, Fistula-in-Ano, Citrome desvenda a imagem ambivalente do cirurgião e de sua atividade porque corta, mas depois une, remove, porém logo restaura, fere e, por fim cura, assim como o próprio Deus. Dessa maneira, justifica a cirurgia como atividade salvadora e, ao mesmo tempo, defende a proposta de valorização social do seu ofício de cirurgião.
Por fim, convém ressaltar a abordagem interdisciplinar, hoje tão incentivada nas pesquisas científicas, mas nem sempre bem-sucedida, operada por Citrome tanto na composição do corpus documental quanto no diálogo com a historiografia social da medicina e com a produção da crítica literária sobre a época medieval. Este livro integra, assim, os títulos da série The New Middle Ages, organizada por Bonnie Wheeler, especialista em literatura medieval da Southern Methodist University (SMU), nos Estados Unidos, cuja marca distintiva é a publicação de estudos acadêmicos interdisciplinares sobre as culturas medievais.
Notas
1 AGRIMI, Jole; CRISCIANI, Chiara. Charité et assistance dans la civilisation chrétienne médiévale. In: GRMEK, Mirko (Dir.). Histoire da la pensée médicale en Occident. Paris: Seuil, 1995. p.151-174. [ Links ]
2 Em Portugal traduziu-se o Libro de las confesiones de Martim Perez (Universidade de Salamanca, 1316).
Dulce O. Amarante dos Santos – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Goiás (UFG). Pesquisadora do CNPq – Campus II Samambaia. 74001-970 Goiânia – GO – Brasil. E-mail: dulce@fchf.ufg.br.
[IF]La insubordinación fundante: breve historia de la construcción del poder de las naciones / Marcelo Gullo
La insubordinación fundante, de Marcelo Gullo, é obra que se propõe original em pelo menos dois aspectos: a perspectiva analítica e a criação de conceitos. Para tanto, percorre a trajetória dos casos de sucesso no processo de desenvolvimento econômico e construção do poder nacional, desde o século XIV – Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, Japão e China –, em uma perspectiva periférica; e propõe novos conceitos para serem aplicados aos atuais países emergentes, principalmente o de umbral de poder. Nos últimos capítulos, o autor analisa a presença de novos atores no jogo político internacional e os desafios que se lhes apresentam na busca pelo desenvolvimento socioeconômico, e desenvolve análise prospectiva, incluindo a atual posição dos Estados Unidos no cenário internacional. Dessa forma, Gullo se lança em um estudo de caráter multidisciplinar, situado na interface da História Moderna e Contemporânea com a Economia Política e a Teoria do Desenvolvimento.
No prefácio do livro, Hélio Jaguaribe destaca que o conceito de periferia utilizado pelo autor apresenta duas dimensões, a de uma perspectiva e a de um conteúdo, ou seja, de um autor sul-americano que analisa as condições de possibilidade de um país periférico deixar de sê-lo. Ao longo do texto, a tese central – que todos os processos de crescimento comercial e/ou industrial exitosos resultaram da conjugação de uma atitude de insubordinação ideológica em relação ao pensamento dominante com um impulso estatal eficaz – é construída em perspectiva comparada. Aproxima-se, assim, de forma explícita, da interpretação cara ao neoestruturalismo econômico latino-americano referente às estruturas hegemônicas de poder e à necessidade de superá-las.
Na realização do duplo intento do autor, os dois primeiros capítulos, de natureza essencialmente teórica, discutem a teoria da subordinação e o conceito de umbral de poder. A teoria da subordinação considera que a igualdade jurídica entre os Estados é uma ficção e que as regras criadas no jogo do sistema internacional expressam os interesses das grandes potências, disfarçados na forma de princípios éticos e jurídicos universais. Para enfrentar as estruturas hegemônicas e as regras do jogo internacional, os países periféricos precisariam acumular recursos de poder e alcançar o umbral que se redefine a cada conjuntura histórica distinta. Por exemplo, Portugal e Espanha alcançaram o papel de pioneiros na expansão europeia dos séculos XV e XVI por intermédio da capacitação tecnológica, da vantagem estratégica (a opção por buscar outra rota para as Índias que não o Mediterrâneo) e do impulso estatal, com base na organização administrativa do Estado moderno e da racionalidade que o sustentava. Em linhas gerais, foi o mesmo processo seguido pelo Japão com a Revolução Meiji e com a China das últimas décadas do século XX e início do XXI.
Quanto ao conceito de umbral de poder, Gullo o conceitua como o quantum mínimo de poder necessário para se alcançar o desenvolvimento socioeconômico e a construção da potência, abaixo do qual cessa a capacidade de autonomia de uma unidade política. Em outras palavras, é o poder mínimo que necessita um Estado para não cair na subordinação, em um momento determinado da história. Os Estados que, historicamente, se transformaram em potência obtiveram em determinado momento o quantum mínimo de poder para atuar de maneira autônoma no cenário internacional e projetar o seu poder. Na verdade, do estudo aprofundado da história da política internacional se revela que, na origem do poder nacional dos principais Estados que conformam o sistema internacional, se encontra sempre presente o impulso estatal. Por impulso estatal entende o autor todas as políticas realizadas por um Estado para criar ou incrementar quaisquer dos elementos que conformam o poder desse Estado. Com efeito, o conceito de impulso estatal envolve todas as ações levadas a cabo por uma unidade política para estimular o desenvolvimento ou o fortalecimento dos elementos de poder nacional. O exemplo utilizado como paradigmático pelo autor foi a Lei de Navegação inglesa, de 1651, segundo a qual era permitido importar somente mercadorias transportadas em navios ingleses que estivessem sob comando inglês e cuja tripulação fosse de maioria inglesa. Assim, ao tratar da noção de impulso estatal, Gullo se aproxima nitidamente da corrente realista das relações internacionais, em diálogo indireto com o historiador Edward Carr e seus ensinamentos na obra Vinte anos de crise, publicada originalmente na conjuntura do início da Segunda Guerra Mundial.
Nos capítulos 3 a 9, são percorridas as experiências dos países bem sucedidos em seu processo de desenvolvimento, com a preocupação voltada para o momento no qual tais Estados decidiram pela insubordinação diante da ideologia predominante em determinada época e, por meio de forte ação estatal, envidaram esforços no sentido da construção do poder nacional. O mais importante exemplo contemporâneo de processo de construção do poder nacional é o da China que, a partir de Deng Xiaoping, iniciou uma mudança metodológica e, na visão do autor, não uma ruptura com o passado, na busca da construção – ou reconstrução – do poder da nação chinesa.
No caso da China, a ênfase da análise recai sobre a figura política de Sun Yat-Sen que, nascido em 1866, se converteu progressivamente, após a revolta nacionalista dos Boxers (1900-1901), na figura chave dos revolucionários chineses que lutavam contra a monarquia Manchú e na defesa da democracia e do fim da dependência chinesa em relação às potências estrangeiras.
A revolução contra a monarquia eclodiu em outubro de 1911 e, no início do ano seguinte, uma assembleia constituinte elegeu Sun Yat-Sen como presidente da nascente República da China. No entanto, o general pró-monarquia Yuan She-Kai, com um golpe de mão, provocou a renúncia de Sun Yat- Sen e assumiu o cargo de presidente.
Foi após esses episódios que Sun Yat-Sen desenvolveu um conjunto de concepções que afirmavam que uma revolução, para ser vitoriosa na China, precisaria da aproximação com operários, camponeses e com a burguesia nacional. Tais ideias orientaram, sob sua liderança, a fundação do Kuomintang – partido nacional e popular – que aspirava organizar uma frente única para a libertação da China, mas que enfrentou uma conjuntura interna politicamente caótica. Sun Yat-Sen faleceu em 1925 e deixou o Kuomintang firmemente organizado como um partido policlassista, dotado de um exército eficaz e reforçado pelos comunistas. Sua doutrina política, porém, encontrou terreno fértil para se desenvolver, tendo por base a ideia dos três princípios, utilizada pela primeira vez por Sun Yat-Sen em 1905 e significando a integração, em um mesmo projeto político e revolucionário, de suas teses sobre o naci que tais princípios devem ser adaptados a cada conjuntura histórica.
É nesse sentido que Marcello Gullo sustenta que a influência de Sun Yat-Sen chega a Mao Zedong e seus sucessores, sob o princípio da adaptação da teoria à realidade e não a realidade à teoria. A trajetória do modelo chinês de desenvolvimento, desde sua abertura no final da década de 1970, confirma a presença dos três princípios e revela extraordinária capacidade de adaptação a cada conjuntura histórica, além de um modelo planejado e gradual de desenvolvimento. Se até os anos noventa o governo chinês orientou a maior quantidade de capitais estrangeiros para a produção em setores intensivos em mão de obra, a partir de então, tratou de orientá-lo para os setores intensivos em capital e tecnologia. A nova estratégia ficou conhecida como desenvolvimento em paralelo, que consiste em desenvolver simultaneamente a indústria “tradicional” e a intensiva em conhecimento.
São esses exemplos de desenvolvimento econômico que, analisados em perspectiva histórica, podem auxiliar países emergentes, como os latinoamericanos, a encontrar seus próprios caminhos. Para tanto, Gullo sugere que líderes políticos, jornalistas especializados e estudiosos das relações internacionais na América Latina devem procurar ultrapassar a agenda, o debate e o vocabulário produzidos nos grandes centros de excelência acadêmica dos Estados Unidos. Significa pensar as relações internacionais desde a periferia latino-americana, para gerar ideias, conceitos, hipóteses e, certamente, um vocabulário próprio, capaz de dar conta da nossa própria realidade e dos nossos problemas específicos no sistema internacional. Na visão do autor, o pensar desde a periferia não deve levar à repetição das lamentações do passado, mas à ação no sentido da superação da condição periférica. Nosso debate teórico principal deveria ser cómo alcanzar el nuevo umbral de poder.
É justamente em sua análise prospectiva que Gullo deixa de contemplar o que tem sido o debate regional mais recente, voltado para a discussão em torno da existência ou não de consensos nacionais em relação ao tema do desenvolvimento e, no caso de resposta afirmativa, a discussão sobre os limites políticos enfrentados pela maioria dos países latino-americanos em seus esforços de desenvolvimento econômico e social. Gullo não aborda a questão das alternativas de desenvolvimento apresentadas por países como Bolívia e Equador, tomando o desenvolvimento econômico como um valor em si, principalmente quando o toma apenas como caso de crescimento e não de desenvolvimento em seu sentido amplo.
Outro aspecto a ser destacado é o fato de o autor não fazer referências a uma obra muitíssimo próxima da sua, o livro Chutando a escada, de Ha-Joon Chang (CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: Editora UNESP, 2004). Chang analisou a trajetória histórica de potências como a Grã-Bretanha e retirou dessas experiências algumas lições, principalmente a necessidade de se rever algumas das ideias fartamente divulgadas na década de 1990, como a de que os países em desenvolvimento têm que seguir as sugestões dos desenvolvidos, a de que devem fazê-lo porque é o desejo dos investidores internacionais e a de que há um “padrão mundial” de desenvolvimento institucional das nações.
O diálogo com Chang daria condições a Gullo de aprofundar a dimensão institucional do desenvolvimento, tanto nos aspectos que freiam o desenvolvimento dos países periféricos quanto na busca de alternativas.
Não obstante as observações acima, La insubordinación fundante – livro premiado em Buenos Aires como melhor livro de 2008 – é obra original que consegue cumprir os objetivos de sustentar uma visão sul-americana dos casos históricos de êxito no processo de desenvolvimento e de propor novos conceitos nos estudos sobre o desenvolvimento. Os conceitos de umbral de poder e de insubordinação fundante trazem, indubitavelmente, novo vigor ao tema do desenvolvimento latino-americano.
Carlos Eduardo Vidigal – Professor Adjunto do Departamento de História da Universidade de Brasília.
GULLO, Marcelo. La insubordinación fundante: breve historia de la construcción del poder de las naciones. Buenos Aires: Biblos, 2008. Resenha de: VIDIGAL, Carlos Eduardo. Textos de História, Brasília, v.16, n.2, p.307-311, 2008. Acessar publicação original. [IF]
Idade Média: Nascimento do Ocidente | Hilário Franco Júnior
O objetivo do livro “A Idade Média e o Nascimento do Ocidente” é analisar o período medieval levando em conta suas estruturas sociais, políticas, econômicas, eclesiásticas e mentais. O texto foi organizado de forma que cada capítulo do livro descreva uma dessas estruturas dentro da ordem cronológica dos fatos.
Nossa reflexão sobre o texto começa destacando a transformação social que ocorreu entre os séculos IV e XI de nossa era. Segundo Franco os séculos III a VIII da era cristã houve um desmantelamento da sociedade romana ocidental e de construção daquilo que mais tarde ficaria conhecida como Europa cristã-medieval.
O período tardo antigo foi o período de quebra dos paradigmas sociais, mentais, culturais e econômicos políticos e religiosos da sociedade romana antiga. Para tentar recuperar a estabilidade de outrora a elite romana reorganizou e petrificou a estrutura social do Império. O objetivo dessa ordem era garantir a estabilidade do Império. Essa calcificação apenas dificultou a vida dentro da sociedade romana. Graças a essas medidas a desigualdade social atingiu níveis abissais. Essa política contribui para o achatamento e desaparecimento das camadas médias da sociedade. Por fim esse sistema limitou a participação do indivíduo como agente social aumentou consideravelmente o papel do Estado na sociedade (p.65).
Três pontos contribuíram para a fusão de duas culturas tão diferentes. O sistema de hospitalidade e posteriormente a alianças entre romanos e germânicos feuderates que defendiam as fronteiras do Império de outros povos “bárbaros”. A utilização do latim como idioma administrativo Por fim a conversão gradual dos germânicos ao cristianismo católico.
A infiltração e mais tarde a fusão da sociedade germânica não mudou esse quadro. A fusão das sociedades germânicas e romanas se deu em um nível horizontal. Essa realidade só contribuiu para que as várias diferenças entre a elite e o povo apenas aumentasse. Dessa forma na sociedade latino-germânica existem apenas duas camadas sociais: a elite formada pela Igreja e os ricos proprietários de terra leigos, do outro lado os pobres (camponeses empobrecidos, homens livres sem terras e escravos).
Diante do empobrecimento o pequeno produtor rural se vê obrigado a entregar sua pequena propriedade aos grandes agricultores em troca do direito de trabalhar em suas terras. Nesse mesmo período muitos senhores de escravos cedem a esses o direito de trabalharem em suas terras se apropriarem de parte da colheita. Da conjunção dessas duas realidades, empobrecimento do campesinato e melhoria do trabalho escravo, surge um novo personagem social: o colono. Dessa forma sociedade baixo medieval é composta a penas por duas camadas no topo estavam as elites eclesiásticas e laicas. No outro lado da sociedade estão os colonos.
As riquezas da Igreja provinham de conjunto de propriedades recebidas do Estado durante período que Igreja esteve sob proteção do Império. Além disso a Igreja também recebeu muitas propriedades da aristocracia laica. Essas terras eram concedidas em regime de benefício (autorização para trabalhar na terra de outrem) e também em herança de ricos aristocratas diante da morte. A riqueza da aristocracia laica provinha de duas fontes. Em primeiro lugar sua riqueza provinha das terras que se mantinham na família a várias gerações. Muitas vezes, também esses nobres recebiam terras em regime de benefício como pagamento por serviços prestados a coroa.
O benefício, ato de o rei permitir que alguém explorasse suas terras, foi um instrumento muito usado na sociedade medieval. Durante o governo de Carlos Martel esse instrumento foi fundido com o sistema de vassalagem para pagar o exército franco. Esse soberano confiscou terras da Igreja e as cedeu como benefício a seus oficiais.
A atitude de Carlos Martel deu uma nova caracterização ao sistema de vassalagem. No século VI a vassalagem estabelecia uma relação serviçal de um menor para outro maior. No século essa era acordo entre homens livres inferiores. No século VIII a vassalagem se torna uma relação entre elementos da aristocracia. A partir desse período
“apenas um vassalo (servidor fiel) poderia receber um benefício ( termo substituído por feudo entre os séculos I X e XI ) como remuneração pelos seus serviços. Por tanto as relações entre os membros da aristocracia davam se por práticas econômicas (terra entregue e terra recebida), políticas (poderes sobre essa terra) e religiosas (juramento e fidelidade)”. (p.69)
Essas novas características sociais deram origem a uma nova estrutura que duraria muito tempo, o feudalismo. Hilário Franco Junior dá a seguinte definição para feudalismo. Segundo Franco feudalismo “é o conjunto da formação social no ocidente durante a Idade Média Central com suas facetas políticas, econômicas, ideológicas, institucional, social, religiosa, e cultural” (p.71). Durante esse período a Igreja que era a maior detentora de terras da Europa ser tornou também a produtora da ideologia oficial. De acordo com o pensamento eclesiástico sociedade cristã era o reflexo da sociedade celeste. Essa sociedade, como a celeste é una em questão de governo e fé, as devido à necessidade de organização funcional ela, a exemplo da organização celestial ela se torna múltipla.
Para agradar a Deus e cumprir sua vontade a Cidade de Deus é dividida em três ordens: o clero, a nobreza e camponês. Dentro dessa sociedade cada ordem tem uma função diferente. O clero intercede diante de Deus pelos demais. Por essa razão a Igreja está à cima das outras ordens sociais. A segunda ordem é a nobreza. Os nobres devem defender a Cidade de Deus. Quanto aos camponeses foram criados por Deus para sustentar os demais.
Franco cita Aldeberon bispo da cidade de Laon para ilustrar a forma que a Igreja entendia a sociedade naqueles dias.
“ele chegou a seguinte formulação: o domínio da fé é una, mas há um triplo estatuto na Ordem. A lei humana impõe duas condições, o nobre e o servo não estão socialmente no mesmo regime. Os guerreiros são protetores da Igreja. Eles defendem os poderosos e os fracos, protegem o mundo, inclusive a si mesmos. Os servos por sua vez têm outra condição. Essa raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos roupas e mantimentos, eis a sua função sempre. A casa de Deus que parece una é tripla. Uns rezam, outros combatem, e outros trabalham. Todos os três formam um conjunto que não se separa, a obra de uns, permite o trabalho dos outros dois e cada um por sua vez presta apoio aos outros dois.” ( p.71).
Aldaberon deixa claro como a sociedade de seus dias se enxergava. Ele apresenta uma justificativa para a existência de tal sociedade. Segundo ele, o clero está acima das de mais ordens. Isso ocorre graças a seu papel de intercessor em favor dos homens diante das divindades. Logo a seguir vem os nobres pois esse nasceram com uma vantagem genética em relação à plebe. Graças a essa vantagem Deus escolhe dentro dessa classe os membros que garantirão a perpetuação do clero. Quanto ao servo Aldaberon entende, assim como seus contemporâneos, a natureza lhes reservou o trabalho para compensar condição pecaminosa.
A maneira de pensar medieval cumpre duas funções. Ela busca unir toda a sociedade. Para isso mostra a interdependência dos diferentes grupos sociais. Por outro lado ela é altamente excludente pois isola cada um dos três atores que compõe a sociedade.
Dentro desse contexto social existem três tipos de relação. Existe um relacionamento horizontal entre as elites. Depois há uma relação vertical entre as elites e os colonos. Por fim há uma relação horizontal entre os diferentes grupos da camada inferior da sociedade. Com o início da dinastia carolíngia surgiu um novo elemento. O cavaleiro. Esse grupo não deu origem a uma nova ordem mas fundiu-se com a nobreza.
Nos séculos XI e XII a Igreja quase viu seu sonho de implantar uma comunidade divina na terra se tornar realidade. Mas uma série e fatores destruíram o projeto cristão. Segundo Hilário Franco Junior o conflito entre camponeses e senhores pelo excedente da produção, os conflitos entre as aristocracias eclesiásticas e laica pelo controle das riquezas produzidas e o fracasso no empreendimento das cruzadas contribuíram para a ruína da Cidade de Deus.
Depois apresentar as características da estrutura social do período medieval Franco passa a dissertar o processo de fortalecimento do bispo e da Igreja romanos. Segundo ele a partir do século IV com a oficialização da Igreja cristã esta se viu obrigada a se organizar para cumprir novas funções designadas pelo Império. Supervisionar os serviços religiosos, prover orientação doutrinária aos novos conversos, executar os serviços sociais do Império e combater o paganismo. Foram tarefas que obrigaram a Igreja a hierarquizar-se e separar-se do ambiente secular.
Os demais elementos da comunidade cristã entenderam que essa nova estruturação da Igreja era indispensável mesmo porque o poder da Igreja foi outorgado por Deus. Nesse processo de hierarquização da Igreja houve uma elitização do clero. O surgimento de heresias contribuiu também para conduzir a Igreja a um sistema monárquico. A tendência de monarquização e sobreposição do bispo de Roma sobre os demais bispos se deve em parte ao surgimento das heresias. Além disso a oficialização do cristianismo também ocupou espaço fundamental.
Durante os três primeiros séculos do cristianismo não havia a idéia de supremacia do bispo romano. A situação mudou coma oficialização da Igreja. A idéia, criada pelos bárbaros e aceita sociedade latina da relação da geografia eclesiástica e geografia de poder civil teve como conseqüência à valorização do bispo romano. O apoio do Imperador à Igreja de Roma e dos demais bispos serviu para firmar a autoridade do papa romano. Esses fatos contribuíram para que em 378 a Igreja e o Império reconhecessem através de decreto a supremacia do bispo romano. Esse reconhecimento foi confirmado em 445.
A supremacia do bispo romano foi um dos fatores que contribuiu para o fortalecimento da Igreja em sua escalada para o controle da sociedade medieval. O monasticismo comunal e aliança da Igreja com o reino franco foram os dois outros fatores que contribuíram para tal projeto.
A aliança entre o bispo romano e o reino Franco pode ser dividida em três fases. No primeiro estágio a Igreja pode ser considerada sócia menor dos Francos. Essa primeira fase começou quando Clóvis, rei dos francos se converteu ao cristianismo no ano 508. Alguns anos depois Pepino o Breve, socorreu a Cidade de Roma bem como o bispo dessa Igreja contra a invasão lombarda. Graças a esse ato o bispo romano lhe conferiu o título de rei de Roma.
O papado porém entrou numa condição de sócio dos francos durante o reinado de Carlos Magno. Magno deu a Igreja um lugar no conselho real. Através desse ato os bispos se tornaram autoridades civis sobre os locais onde exerciam seu episcopados. Além isso graças ao avanço dos exércitos carolíngias sobre outras tribos não cristãs a Igreja viu se poder aumentar.
A decadência da dinastia carolíngia fez com que a Igreja se tornasse única senhora da porção ocidental do antigo Império romano. Nesse período graças às idéias e ações reformistas de papas como Gregório VII, e reis como Luís (o Piedoso) a Igreja se fortaleceu ainda mais. Nesse período foi implantado na Europa o Agostinianismo político que nada mais era do que soberania da Igreja sobre todas as demais Instituições sociais. A implantação desse projeto político levou a Igreja a realizar um sonho a muito desejado. Nos séculos XI e XII a Igreja fez com a Europa se tornasse a sociedade divina na Terra.
Essa sociedade utópica, porém não durou muito pois as transformações econômicas da Europa, a disputa entre as aristocracias clerical e laica, as divisões do clero pelo controle da sociedade civil e o fracasso no empreendimento das cruzadas geraram um grande desgaste da sociedade feudo clerical. Esse desgaste deu o início a um novo contexto social que daria origem a sociedade moderna. Quando estudamos a sociedade medieval precisamos levar em conta a forma de pensar daquela comunidade. Segundo Franco a sociedade medieval tem uma visão sobrenatural do universo. Essa visão se sustenta em três colunas: O simbolismo, o belicismo e o contratuísmo.
Para o homem medievo, forças sobrenaturais controlam o universo essas forças se revelam ao homem através da linguagem simbólica. Nosso grande desafio portanto como seres humanos é entender esses símbolos.
As ferramentas necessárias para entender esse simbolismo são encontradas na Igreja. A Igreja é pois o lugar onde Deus se revela ao ser humano. Nesse processo de decodificação dessa simbologia a eucaristia, a palavra do sacerdote, os sacramentos, as relíquias dos santos, são ferramentas indispensáveis. O segundo elemento da visão sobrenatural do universo é o belicismo. Para a sociedade medieval o universo é o grande palco de conflito entre o bem e o mal. Esse conflito cósmico se reproduz também na mente humana. O controle da mente e vida humana é alvo de disputas entre esses dois rivais. A vontade humana é pois fundamental nesse conflito. O último pilar que sustenta a mentalidade medieval é a relação contratual entre o homem e as forças que se opõe. Toda relação entre o ser humano e as forças sobrenaturais se faz através de contratos. Essa visão contratual é fruto da vida cotidiana do homem medieval. Afinal de contas o dia a dia dessa sociedade era feita através de acordos contratuísticos tanto entre iguais como de elementos de níveis sociais distintos.
Nos próximos parágrafos avaliaremos como discurso produzido pelo clero manteve a ordem social por um longo período de tempo. A Idade Média é o palco onde a Igreja Cristã Católica Romana nasceu se desenvolveu atingiu seu ápice como Instituição dominante e depois perdeu. Durante esse período três estruturas travaram uma disputa pela imposição de seu discurso ideológico. No início discurso da religião estatal-pagão greco-romana disputou com o cristianismo o controle ideológico sobre a sociedade ocidental. Com o final do processo de expansão e o começo da desintegração do Império Romano, discurso cristão ganhou força e se tornou o discurso dominante.
Esse discurso gerou e manteve uma sociedade baseada em Ordens ( Ordo ou Ordines). O pensamento de uma comunidade ordenada por “Deus” era na verdade uma forma de controlar a sociedade. De acordo com esse discurso a separação dos três grupos era uma necessidade para o bem estar de todos. Como Franco reconhece essa ordem estabelecida tinha duas funções. Por um lado a sociedade organizada em Ordens unia o os diferentes grupos em um único corpo social baseado no argumento que todos são necessários e que um depende do outro. Por outro lado esse discurso era totalmente excludente uma vez que não abria espaço para que membros da ordem dos laboratores não tivessem acesso a ordem dos milites e dos oratores.
Percebemos também que na disputa pelo direito de exercer a violência legítima, Igreja, monarquia e nobreza criam discursos alternativos. Esse discurso resultou numa prática social onde o único interesse era manipular a população a serviço dos interesses de um ou de outro grupo.
Esse jogo de exploração simbólica em busca da imposição de sua ideologia contribuiu para o desgaste da sociedade feudo-clerical. Nesse contexto o nacionalismo, juntamente com o surgimento do pensamento herege, levaram a uma nova conjuntura. A valorização da mulher e da criança, a visão antropocêntrica do universo, o processo de urbanização da Europa, o desenvolvimento da burguesia foram sinais de que a estrutura medieval feudo-clerical ruira e que o Estado nacional burguês tomara seu lugar.
Daniel Rocha Junior – Graduação em História FAFIUV
FRANCO JUNIOR, Hilário. Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2000. Resenha de: ROCHA JUNIOR, Daniel. Idade Média e o nascimento do Ocidente-estruturas sociais e mentais. Sobre Ontens. Apucarana, p.31-41, 2008.
Nassau, o Governador do Brasil Holandês – MARIZ (RIHGB)
MELO, Evaldo Cabral de. Nassau, o Governador do Brasil Holandês. São Paulo: Companhia das Letras. Coleção Perfis Brasileiros, 2006. 288p. Resenha de: MARIZ, Vasco. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v,167, n.431, p.285-288, abr./jun., 2006.
Vasco Mariz – Sócio emérito do IHGB.
[IF]Relatos do descobrimento do Brasil — as primeiras reportagens – GUIRADA (RBH)
GUIRADA, Maria Cecília. Relatos do descobrimento do Brasil — as primeiras reportagens. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, 305p. Resenha de: NOELLI, Francisco Silva. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.25, n.50, july/dec. 2005.
O diário de Pero Lopes de Sousa, escrito entre 1530 e 1532, é uma fonte de grande importância para a história da fase inicial de exploração do Brasil meridional e da foz do rio da Prata, sendo o segundo documento oficial português conhecido a ser escrito em terras brasileiras. Foi descoberto na Biblioteca Real do Paço da Ajuda, em 1839, depois de estar “escondido” por cerca de trezentos anos. O diário teve dez edições em língua portuguesa, entre 1839 e 1989, mas apenas três foram realizadas a partir da transcrição direta do manuscrito encontrado na Ajuda, a saber: 1) 1839, por Francisco Adolfo de Varnhagen; 2) 1956, por Jaime Cortesão; 3) 1968, por Jorge Morais-Barbosa. Todavia, o códice não é o diário original, mas uma “cópia incompleta e pouco cuidada do que teriam sido as anotações de Pero Lopes”, escrita com letra do século XVI.
A 11ª edição do diário, publicada em Portugal no ano de 2001, por Maria Cecília Guirado, é a melhor de todas, por tratar-se da primeira edição crítica do manuscrito da Ajuda e por apresentar ao leitor, especialista ou leigo, uma série de informações relevantes sobre o contexto da viagem e da redação do diário de Pero Lopes. Esta avaliação resultou de uma cuidadosa e erudita abordagem interdisciplinar, muito contemporânea, entre jornalismo, filologia, semiótica e história, mais o suporte da paleografia, com objetivo de “dar um tratamento jornalístico-semiótico … sem esquecer-se de retirar destes textos quadros significativos sobre a evolução das relações de alteridade, do enfrentamento civilizacional entre indígenas e portugueses”. Além do diário, Guiarado apresenta duas análises curtas, mas importantes abordagens jornalísticas da carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, e da História da Província de Santa Cruz, publicada em Lisboa por Pero de Magalhães Gandavo, em 1576.
O enfoque central da obra é a questão da comunicação no período do descobrimento, sobre os objetivos dos cronistas ao elaborar suas narrativas e relatórios de viagem. Da competente análise de Guirado, vimos surgir um contexto em que os navegadores e os encarregados de tomar posse das novas terras estavam muito preparados em relação aos conhecimentos da época. Vemos exemplos de matemáticos portugueses, como Pedro Nunes, que em 1537 estava preocupado em aliar teoria e prática, escapando do empirismo utilitário: “manifesto é que estes descobrimentos de costas, ilhas e terras firmes não se fizeram indo a acertar, mas partiam os nossos mareantes muito ensinados e providos de instrumentos e regras de astrologia e geometria, que são as cousas de que os cosmógrafos hão-de andar apercebidos”.
A edição crítica do diário de Pero Lopes é, sem dúvida, a grande contribuição de Guirado às pesquisas e aos pesquisadores dos descobrimentos portugueses. Antecedendo a transcrição paleográfica, vemos uma descrição detalhada do códice da Ajuda, a história completa das dez edições anteriores e a explicitação pormenorizada dos critérios usados na transcrição paleográfica, uma verdadeira aula para orientar iniciantes e profissionais em tarefas dessa natureza. A transcrição é acompanhada de várias notas de rodapé, com esclarecimentos pertinentes, e dos símbolos utilizados nos códigos de transcrição da topografia do manuscrito. Da mesma maneira procede na explicação detalhada dos fundamentos teóricos e dos procedimentos práticos utilizados para elaborar os critérios da edição crítica, incluindo regras para “regularização da epiderme gráfica” e aspectos para fixação da ortografia, em outra aula construída com erudição e fluidez literária.
O texto crítico do códice vem acompanhado de notas de rodapé com explicações sobre detalhes da redação e, com muita propriedade, do cotejo in loco com as variantes de texto encontradas nas edições anteriores. A autora explica que, ao fazer tal procedimento, as anotações “poderão ajudar o leitor a compreender o processo desta edição crítica”.
O texto crítico é seguido por um glossário de “termos de marinharia”, do “léxico comum caído em desuso e outros termos”, dos personagens citados e dos topônimos, baseado em atestações buscadas no mais completo conjunto de obras sobre os referidos assuntos. A inclusão desse aparato é de grande valia, pois é um complemento fundamental para a compreensão exata e completa do diário.
Se a edição crítica realizada por Maria Cecília Guirado passará a figurar como a melhor publicação do diário, é preciso lembrar que a segunda edição de Eugênio de Castro (1940) é a mais completa análise e interpretação, talvez definitiva, sobre o itinerário descrito no diário de Pero Lopes de Sousa. Ambas as obras, em razão do alto nível alcançado pelos seus autores, devem ser consideradas como consulta obrigatória para aqueles que pesquisam sobre as primeiras décadas da presença portuguesa na América do Sul.
Francisco Silva Noelli – Laboratório de Arqueologia, Etno-História e Etnologia, Universidade Estadual de Maringá – UEM.
[IF]A África e os africanos na formação do mundo atlântico / John Thornton
Uma das principais lições da exposição sobre a arte africana realizada no ano passado, que apresentou ao público brasileiro uma parte do acervo do Museu Etnológico de Berlim, foi a de mostrar que a África subsaariana, região de profundas ligações com o Brasil e de onde vieram muitos de nossos ancestrais, era formada por sociedades com um alto nível tecnológico e artístico. Isso foi revelado quando se deparava, com certa dose de emoção, com as esculturas em bronze, latão e mesmo terracota, produzidas nos reinos dos lundas, em Ifé, no Benin e nos Camarões, entre os séculos X I I I e XIX, ou quando se observava os registros históricos feitos na perspectiva dos africanos sobre os primeiros tempos de contato, deixados nas placas que revestiam o palácio do Benin e nas quais estavam reproduzidas as imagens dos portugueses recém-chegados.
O mérito da obra de John K. Thornton, A África e os africanos na formação do mundo atlântico (1400-1800) —cuja tradução há muito aguardada f o i , sem dúvida, bem vinda— é o de tratar de maneira eqüitativa os mundos que se encontram a partir da expansão marítima ibérica, nos inícios da modernidade. Referência obrigatória para os estudos sobre as relações entre a América, a Europa e a África pré-colonial, as teses de Thornton contribuem para que seja ampliado o entendimento do papel das sociedades africanas na formação do complexo intercontinental atlântico.
E tema que nos interessa de maneira particular. Não só a América Portuguesa foi constituída como parte do mesmo processo, como a escravidão africana f o i o eixo em torno do qual a sociedade brasileira se desenvolveu durante pelo menos três séculos de história. Por este motivo, as conexões entre a África e o Brasil tem sido a tônica de importantes estudos sobre a sociedade do Brasil colonial e imperial —de Pierre Verger a José Honório Rodrigues e Maurício Goulart e, mais recentemente, João José Reis, Luis Felipe de Alencastro, Manolo Florentino, Alberto da Costa e Silva, Selma Pantoja e Roquinaldo Ferreira, só para mencionar alguns. Alargando os horizontes da pesquisa sobre um período crucial das histórias dos dois lados do oceano, a preocupação que Thornton compartilha com estes autores é a de tratar as sociedades africanas como parte integrante e ativa da constituição do Atlântico Sul; o ponto de partida é o rompimento com os vieses eurocêntricos, de fundo colonialista e racial, que deixaram marcas profundas nos estudos históricos e que precisam ser constantemente revistos.
A obra f o i publicada em 1992, por este historiador responsável por um conjunto expressivo de trabalhos sobre diversos aspectos da história da África subsaariana. Especialista nas sociedades centro-ocidentais, analisou desde estruturas políticas e conflitos do mundo pré-colonial às figuras femininas de projeção histórica como a rainha Njinga (ou Nzinga), do reino de Ndongo-Matamba, em luta pelo reconhecimento de seu poder político, e a profeta D . Beatriz Kimpa Vita, líder dos antonianos que sonhava, nos finais do século X V I I , com a restauração do reino do Kongo. Perseguiu, além disso, em artigos publicados nas principais revistas internacionais, imbricações entre dinâmicas africanas e movimentos ocorridos na América, perscrutando a presença de ideologias políticas e estratégias militares africanas em movimentos de escravos, como na Revolução de São Domingos de 1791, e na Revolta de Stono, nos Estados Unidos, em 1739. Temas audaciosos que abrem novas perspectivas não só para o entendimento dos nexos entre os dois continentes como para o significado amplo da diáspora africana.
O trabalho em questão encontra-se dividido em duas partes. A primeira examina aspectos das sociedades africanas substanciais para se entender a relação com os europeus e o envolvimento progressivo destas no comércio de escravos. Após pontuar características da navegação e da expansão atlânticas do século X V , acompanha a natureza dos laços estabelecidos entre parceiros comerciais (africanos e europeus), analisando o rol de mercadorias trazidas à costa, em grande parte artigos supérfluos ao gosto dos dignitários africanos e de suas cortes. N um movimento analítico similar, mas com implicações contrapostas à idéia da vitimização do continente, considera que a inserção das sociedades da África no tráfico atendeu a dinâmicas internas, mobilizou uma rede de intermediários locais e fortaleceu o poder de elites e de senhores da guerra. Estabelecendo as correlações entre armamentos-guerras- escravos, Thornton deixa no ar, no entanto, uma questão substancial: considerando o século X V I I I , indaga-se até que ponto as sociedades africanas, antes soberanas, tornam-se prisioneiras de um circuito do qual dificilmente conseguem sair. A não ser quando, a partir dos inícios do X I X , os europeus mudam de perspectiva e passam a questionar a própria continuidade do tráfico. Mas, política que preconizava, de fato, um outro e mais formidável ataque.
A segunda parte trata dos africanos em diáspora e aprofunda temas relativos às mudanças que introduziram nos territórios coloniais para os quais foram levados. A começar pela fisionomia de muitas das cidades americanas que mais se assemelhavam a Guinés transplantadas do que a mundos de colonização branca. Embora não ofereça, nesta parte, a mesma densidade de informações que na anterior, a interpretação de Thornton é sugestiva, pois se orienta a importantes direções. Uma delas pontua os movimentos da escravidão na perspectiva do conjunto das colônias na América, nas ilhas atlânticas e no Caribe. Sem perder de vista as singularidades de cada uma das sociedades, acompanha as condições de vida e de trabalho dos escravos nos engenhos de açúcar do nordeste brasileiro, nas plantations antilhanas e no sul dos Estados Unidos, bem como nas haáendas da América Espanhola e oferece ao leitor um quadro das diferenças e recorrências existentes entre os mundos da escravidão americana.
Numa outra direção analítica, o autor destaca a diversidade africana que se transfere para a América não só por meio de culturas transformadas pela diáspora, como por meio de agrupamentos étnicos criados pela escravidão.
Assinala que escravos e forros de uma mesma nação —tal como estes agrupamentos foram chamados nas fontes portuguesas, bem como de terre nos documentos franceses e de country, nos de língua inglesa — trabalhavam juntos ou próximos, encontravam-se com freqüência em cerimônias das irmandades religiosas e nas reuniões de sociedades secretas, e consolidavam uniões matrimoniais, relações de compadrio e parentelas amplas. Entre estas nações, Thornton sublinha grupos como os minas, os nagôs, os lucumis, os congo-angolas e os bambaras que, de fato, não existiam como tais no continente africano, mas que se tornaram referência para a organização dos africanos e dos afrodescendentes no Novo Mundo. Nesse aspecto particular, suas interpretações decorrem da premissa — inovadora para a época em que o livro f o i escrito — de que o tráfico não f o i exclusivamente um elemento de dispersão e ruptura. A o contrário, na ótica de conceitos interpretativos amplos como o de grupos de procedência e de zonas culturais, concentrou determinados grupos em regiões e épocas históricas específicas.
Na área de conhecimento histórico num campo relativamente recente, Thornton não se exime de estabelecer polêmicas ao longo das argumentações. Discute com Walter Rodney os efeitos das ações européias sobre o desenvolvimento africano pré-colonial e o sentido de ruptura social atribuído ao tráfico; com Paul Lovejoy, a natureza da instituição da escravidão na África; com Sidney Mintz e Richard Price, a fisionomia das culturas escravas.
Além disso, suas colocações oferecem aos leitores a oportunidade de refletir sobre a produção historiográfica brasileira que amplia o debate sobre relações étnicas, identidades afro-brasileiras e nações diaspóricas —entre outros, os trabalhos de João José Reis, Mary Karash, Robert Slenes, Mariza Soares, Maria Inês Cortês de Oliveira, Luis Nicolau Pares, Lorand Matory etc. Produção que sublinha, acima de tudo, a propriedade de serem historicizadas as trajetórias de africanos e afrodescendentes na diáspora.
Sem minimizar a importância da publicação, é necessário considerar dois percalços. O primeiro diz respeito à extensão cronológica dada ao estudo em sua segunda edição (de 1998 e base para a tradução brasileira), que levou até 1800 os marcos da edição de 1992, limitados ao período de 1400 a 1680. Dada a complexidade do tema, acredito que a ampliação para o longo século XVIII mereceria explanações mais profundas não plenamente contempladas no capítulo adicional — o 11, “Os africanos no mundo atlântico do século XVIII”. O segundo refere-se a imprecisões da tradução que poderia ter sido feita com mais cuidado. Só para exemplificar, chamo a atenção para a tradução literal de New-Christians por “novos-cristãos” (pp. 435,242); a denominação da Escola dos Annales como “Escola dos Anais” (p. 44); ou a expressão the English-speaking world (p. 321 da 2a . ed. norte-americana) como “no mundo do inglês falado” (p. 415).
Num mercado editorial carente, a disponibilidade para o público brasileiro da tradução de África e os africanos naformação do mundo atlântico deve ser dimensionada, por f i m , à luz de uma proposta programática ampla, acompanhando o estudo de parte dos temas exigidos pela Lei 10.639/03. O livro de John Thornton oferece, sem dúvida, um ótimo começo para se problematizar os novos conteúdos.
Maria Cristina Cortez Wissenbach – Professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo.
THORNTON, John K. A África e os africanos na formação do mundo atlântico (1400-1800). Tradução Marisa Rocha Morta; Coordenação editorial Mary dei Priore; Revisão técnica, Márcio Scalercio. Rio de Janeiro, Editora Campus / Elsevier, 2004, 436 páginas. XVIII. Resenha de: WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Textos de História, Brasília, v.12, n.1/2, p.223-227, 2004. Acessar publicação original. [IF]
Born to Die: Diease and New World Conquest / Noble D. Cook
COOK, Noble David. Born to Die: Diease and New World Conquest, 1492-1650. Cambridge: Cambridge University Presss, 1998. 248p. Resenha de: NOELLI, Francisco Silva. Revista de História da Arte e Arqueologia, Campinas, n.3, p.140-141, fev., 2000.
Francisco Silva Noelli – Universidade Estadual de Marigá.
Acesso somente pelo link original
[IF]
História Social da Criança Abandonada – MARCÍLIO (RBH)
MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998. Resenha de: VENÂNCIO, Renato Pinto. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.19 n.37, sept. 1999.
Nos meios acadêmicos brasileiros, a Demografia Histórica é freqüentemente identificada aos excessos dos métodos quantitativos e à ausência de problemáticas definidas. Ao longo de sua prolífica vida acadêmica como professora, pesquisadora e, principalmente, como autora dos primeiros e principais trabalhos de Demografia Histórica do Brasil, Maria Luiza Marcílio só fez desmentir tais estereótipos. Nos anos 60, ao ingressar no doutorado na França, foi orientanda de Fernand Braudel e, posteriormente, de Louis Henry, o que lhe possibilitou transitar com facilidade entre a História Social e a Demografia Histórica. Da mesma forma que em trabalhos anteriores, como A Cidade de São Paulo ou Os caiçaras, seu livro História Social da Criança Abandonada é um exemplo de como a sensibilidade e até mesmo o envolvimento afetivo com um tema podem andar irmanados com seriedade e rigor metodológico. Marcílio sensibiliza-se com o destino trágico de milhares de crianças que desde a Antigüidade foram abandonadas por seus familiares; emociona-se, contudo, sem resvalar para uma história militante, tão propícia a anacronismos e perspectivas vitimizadoras.
O livro História Social da Criança Abandonada dividi-se em três partes, obedecendo assim a uma arquitetura cara à autora: o desenvolvimento da narrativa histórica do geral para o particular. Segundo Maria Luiza Marcílio, é possível detectar a permanência, durante vários séculos, de uma preocupação com a proteção da criança “sem-família”. No que diz respeito a tal proteção, é importante sublinhar que, na Antigüidade, a confluência do estoicismo com o cristianismo diferenciou Roma das demais sociedades. Durante a Alta Idade Média, a preocupação com o destino dos enjeitados foi institucionalizada: os mosteiros, procurando erradicar o infanticídio, aceitaram os oblatas, ou seja, enjeitados que deviam seguir a carreira sacerdotal. No século XII, a emergência da crença no Purgatório e de sua versão mirim, o Limbo, expandiu para o restante da comunidade cristão dever de proteger os meninos e as meninas desvalidos. Não por acaso, esse período também foi caracterizado pelo ressurgimento da vida urbana no Ocidente, fenômeno que por diversas razões foi acompanhado pelo aumento do nível de pobreza na sociedade. A preocupação em garantir o sacramento do batismo para todos os recém-nascidos – protegendo-os dessa forma do Limbo – somada ao temor frente ao risco do reaparecimento do infanticídio nas cidades, levaram à fundação de uma forma de assistência infantil que conheceu, entre os séculos XIII e XIX, um enorme sucesso: a Roda dos Expostos.
Tais Rodas, explica a autora, eram
de forma cilíndrica e com uma divisória no meio, esse dispositivo era fixado no muro ou na janela da instituição. No tabuleiro inferior da parte externa, o expositor colocava a criança que enjeitava, girava a Roda e puxava um cordão com uma sineta para avisar à vigilante – ou Rodeira – que um bebê acabara de ser abandonado, retirando-se furtivamente do local, sem ser reconhecido”.
Uma vez recolhida, a criança era entregue a uma ama-de-leite e depois a uma ama-seca que cuidava do menino ou menina até completarem sete anos de idade, quando então deveriam ser encaminhados para atividades produtivas.
No século XVIII, aponta Maria Luíza Marcílio, começou a ocorrer uma outra mutação que atingiu seu apogeu no século XIX e XX: a emergência da infância abandonada como uma questão social, alvo de políticas do Estado; mutação que em grande parte explica o progressivo declínio e fechamento das Rodas.
Na segunda parte do livro, a autora apresenta, para o caso específico do Brasil, os processos de formação e de adaptação do sistema de proteção europeu a uma sociedade colonial. Da mesma forma que em vários aspectos da realidade brasileira, a assistência nos trópicos caracterizou-se pela ausência de recursos financeiros regulares e pela longevidade de instituições consideradas arcaicas no mundo europeu. A precariedade da assistência colonial – apenas quatro Rodas foram fundadas até fins do século XVIII – levou os Senados das Câmaras a assumirem a dispendiosa tarefa de manter os enjeitados. Este apoio só declinou em meados do século XIX, época em que o sistema de Rodas conheceu notável expansão. Mesmo um século depois das Rodas portuguesas terem sido desativadas, os receptáculos brasileiros continuavam em pleno vapor, a maioria deles só encerrando suas atividades nos anos 1930-1950 (diga-se, de passagem, não devido ao desaparecimento do abandono de crianças recém-nascidas, mas sim em função das deliberações do Código de Menores de 1927, que determinou o fechamento das Rodas).
A terceira parte do livro apresenta os resultados dos últimos vinte anos de pesquisas de Demografia Histórica a respeito do abandono infantil. Em razão do enjeitamento de recém-nascidos ter sido registrado sistematicamente nas atas paroquiais de batismo, assim como nos livros das Câmaras e dos Hospitais, foi possível conhecer o perfil da criança abandonada e – nos casos daquelas acompanhadas de bilhetes – os motivos que levaram os pais a recorrerem à assistência hospitalar e camarária. O capítulo dedicado às “causas do abandono” é fascinante. Marcílio não se deixa levar, como acontece com muitos historiadores atuais, pelos estereótipos do passado, ou seja, pela caracterização dos pais e mães que enjeitavam os filhos como irresponsáveis e promíscuos; ao contrário disso, a autora sublinha o quanto a miséria era um fator importante na desagregação das unidades familiares.
Da mesma forma que nas seções anteriores, a última parte estende a análise até o presente, superando assim as prisões da “curta duração”, traço bastante comum aos estudos do tema em questão, elaborados por sociólogos, antropólogos e assistentes sociais. Ao integrar sua análise na “longa duração”, Marcílio, a meu ver, contribui até para que seja repensada a atual política assistencial frente à criança e ao adolescente carentes.
Dito em termos mais explícitos: após mil e quinhentos anos de assistência infantil, é possível observar duas realidades distintas; a primeira diz respeito aos países europeus, nos quais o abandono de crianças foi praticamente erradicado; a segunda à realidade da América Latina, onde o abandono conheceu um processo de expansão do período colonial à atualidade. Pelo que se pode perceber por meio da leitura do História Social da Criança Abandonada, erram os que pensam que a primeira situação é um reflexo automático do processo de desenvolvimento econômico. Na realidade, a melhoria da condição infantil foi resultado de muitas lutas populares e de uma compreensão das formas específicas da organização familiar das camadas populares.
Em uma passagem magistral (pp. 80-81), Marcílio aprofunda essa questão mostrando que o número de crianças abandonadas na Europa do século XIX atingiu proporções ainda mais assustadoras do que as brasileiras. Frente a tal situação, vários países europeus reavaliaram o sistema assistencial herdado do Antigo Regime e progressivamente, a começar pela França, adotaram a política de “subsídios às mães pobres (…) para impedir que estas abandonassem seus filhos”.
Eis um importante ensinamento que serve como tema de reflexão a propósito das atitudes das elites brasileiras frente ao abandono de crianças: o que elas encaram como uma novidade esquerdista no Brasil de nossos dias, era uma realidade institucional na Europa dos anos 1830!
Por fim, cabe sublinhar que a História Social da Criança Abandonada apresenta uma magnífica bibliografia, remando contra a maré do provincianismo monoglota de alguns estudos de Demografia Histórica elaborados mais recentemente. Cabe apenas lamentar que a editora Hucitec não tenha tido o cuidado de incluir na presente edição índices onomásticos e temáticos, que muito facilitariam a consulta dessa obra de referência obrigatória.
Renato Pinto Venâncio – Universidade Federal de Ouro Preto.
[IF]Los viejos y la vejez en la Edad Media. Sociedad e imaginario -HOMET (RBH)
HOMET, Raquel. Los viejos y la vejez en la Edad Media. Sociedad e imaginario. Rosario, Pontificia Universidad Católica Argentina/Faculdad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, 1997, 257 p. Resenha de: SOUZA, Néri de almeida. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.19 n.38, 1999.
Desde o pioneirismo de Philippe Ariès, a morte não deixou de interessar aos historiadores. Medievalistas e modernistas exploraram e ainda exploram com interesse as possibilidades deste objeto. À visão panorâmica de Ariès se seguiram estudos regionalizados, com recortes temporais mais estreitos, baseados em uma documentação mais homogênea, e sobretudo, um grande número de objetos correlatos ou que se beneficiaram do tema ganharam luz como a história da espiritualidade, da liturgia, da família, da sensibilidade e mesmo das relações de poder e a história social.
O olhar de Ariès sobre a infância, no entanto, não despertou interesse de igual intensidade. Embora os trabalhos inspirados em sua pesquisa nunca tenham deixado de aparecer, são claramente menos numerosos e influentes. O estudo de uma faixa etária específica de um conjunto social apresenta evidentemente inconvenientes metodológicos que devem estar relacionados a tal carência. É o caso da dificuldade de se abordar com objetividade grupos isolados em um conjunto social. Impedimento que, de resto, afeta a já antiga e melhor desenvolvida história das mulheres. Para os períodos mais antigos não seria sequer necessário lembrar a parcialidade documental como inviabilizadora de uma história que repercuta nossas necessidades de descoberta e comprovação.
A historiografia destes segmentos sociais vê-se, assim, conformada a limites cuja ultrapassagem apenas os mais esperançosos podem divisar. Mesmo o recurso à arqueologia, que, embora ainda tímida, ganha cada vez mais importância entre os medievalistas, não promete um desbravamento muito amplo. Mas para além das dificuldades metodológicas, impedimentos mais profundos talvez guiem nosso desinteresse por recortes etários que fogem às vozes dominantes em nossa documentação. Neste momento histórico de uma valentia ímpar na proposta de objetos historiográficos, talvez vivamos uma ambigüidade na historiografia semelhante àquela que temos em nosso cotidiano político.
A criança, a mulher e o idoso fazem parte de um discurso constante de defesa e proteção que não repercute na maior parte de nossos gestos e preocupações quer em nossa vida institucional quer em nosso cotidiano. Para a Idade Média a valorização destes três objetos deveria dar-se ao menos devido à sua ligação com o tema da morte cuja relevância social, política e religiosa tem sido atestada em inúmeros trabalhos. Estas três personagens de relações extremas com a morte por si só seriam emblemáticas de uma experiência com os limites da vida do ponto de vista da cultura medieval e poderiam orientar uma releitura de documentos escritos com os olhos em outros resultados históricos e ambientes sociais.
Estes fatos fazem com que a opção temática da professora Raquel Homet já torne seu trabalho louvável, pois preenche de forma oportuna uma lacuna e um silêncio que, infelizmente, afetam não apenas a história medieval mas também a contemporânea. Tais circunstâncias fazem de seu trabalho uma pesquisa historiográfica de grande importância, mas também um atualíssimo alerta social. No entanto, neste caso, a ousadia exige seu preço, e o historiador tem de se debater com um campo aberto carente de apoio para firmar suposições. Por isso, a professora Raquel Homet acerta na opção por uma obra ampla cronologicamente e tematicamente abrangente. Seu texto se organiza em dois grandes blocos em que a autora estuda sucessivamente retratos da condição social do idoso e da consideração da velhice e representações dos mesmos na longa duração da história castelhana que vai do século VIII ao XV.
As duas partes da obra sintetizam um problema fundamental do pensamento sobre as idades da vida no período, quando estas foram quase sempre influenciadas por um enquadramento mítico que as relacionava ora a uma escala de decadência ora a uma consumação temporal que aproximava seus extremos da beatitude. A autora procura acompanhar a mudança desta perspectiva que, segundo ela, acontece com o aparecimento de uma visão mais objetiva do idoso ao longo das mudanças demográficas do final da Idade Média. No entanto, as representações mentais não deixam de, à sua maneira, acompanhar este movimento no ressurgimento compensatório de outras tradições que vinculavam a velhice à sabedoria e à pureza espiritual1.
Os resultados apresentados na primeira parte da obra foram obtidos a partir da análise de um conjunto documental tão vasto quanto heterogêneo. Foram pesquisadas correspondências particulares e institucionais, cartas de doação, testamentos, legislação, literatura, regras religiosas, textos teatrais e hagiográficos de Castela e, por vezes, de um círculo hispânico mais amplo. Na segunda parte, a documentação perde o caráter exclusivamente regional. São utilizados textos que, embora tenham uma história bem documentada de difusão no território de circunscrição da pesquisa, foram produzidas em outros locais e tiveram circulação em escala européia.
Aqui as fontes também mudam de tom. Mesmo a hagiografia, que na primeira parte teve selecionados exemplares próximos de uma verdadeira biografia, na segunda parte dá lugar à documentação estereotipada da Legenda aurea, por isso mesmo bastante adequada aos imperativos da pesquisa das representações. Embora tenha sido composta na segunda metade do século XIII, a Legenda aurea, com sua hagiografia recolhida sobretudo em fontes da alta Idade Média, segundo a autora, ao lado da interpretação do legado bíblico, fornece o modelo de interpretação da velhice nas representações da alta Idade Média e da Idade Média central. Junto com a Legenda aurea tem destaque o Libro del Conoscimiento de uma anônimo franciscano espanhol e o Libro de las Maravillas del mundo de John de Mandeville, ambos de meados do século XIV.
Francamente motivada por sua experiência pessoal com a “velhice ditosa” de seus avós, a autora se interessa em examinar a definição da velhice ao longo do tempo e as formas de assistência e amparo previstas pelos costumes e pela legislação para o cuidado do sustento, abrigo e saúde do idoso. As dificuldades na perseguição desses objetivos não são mascaradas pela autora. A própria definição do que a sociedade entende como sendo um homem velho é muito difícil no período uma vez que não se trata de uma “questão de idade cronológica mas de apreciação subjetiva”2, não diz respeito também simplesmente à aparência, como para nós. Ademais, as posições apresentadas nas fontes são vagas e contraditórias. No entanto, a autora mostra que, ao menos nos estratos mais altos da sociedade – aqueles que as fontes contemplam com maior precisão – o afastamento das funções sociais não vinha com data marcada, definida por taxas etárias precoces como acontece hoje mas com a incapacidade trazida pela decrepitude física.
Esta situação, segundo Raquel Homet, era responsável por abusos como os deveres de guerra que eram exigidos a cavaleiros idosos. Quadro agravado por uma legislação que apenas no final da Idade Média passou a prever meios institucionais para a manutenção de idosos. Por outro lado, esta “aposentadoria” tardia também permitia, em presença das condições físicas para tal, uma vida social e econômica mais longa que preservava, ao menos por mais tempo, o idoso da “exclusão” e lhe reservava melhor consideração social. No entanto, permanece o fato de que o idoso, incapacitado para se manter, se não podia contar com o auxílio de sua família via-se em situação de indigência. A única opção ficava por conta das instituições eclesiásticas às quais a autora dedica especial atenção.
As dificuldades para abordar a história dos velhos e da velhice na Idade Média não estão limitadas às fontes primárias. A bibliografia apresentada pela professora Homet mostra como a história dos velhos ainda carece de atenção. É ao caráter pioneiro desta pesquisa, portanto, que se devem algumas de suas limitações. A necessária amplitude documental e cronológica deste estudo numa área em que quase tudo ainda está por ser feito, deu ao resultado da pesquisa um caráter desigual. As conclusões não aparecem num mesmo volume ao longo dos diferentes capítulos e partes da obra. A conclusão final, por sua vez, ficou devendo uma correlação mais extensa entre os dois eixos de desenvolvimento da pesquisa: a sociedade e o imaginário. A exposição, segundo uma seqüência cronológica secular, não estabelece uma ligação constante e incisiva da história dos velhos com o desenvolvimento histórico geral da sociedade. Por fim, infelizmente, as fontes não permitem muitos avanços na precisão da origem social dos idosos e mesmo as realidades econômicas dos diversos extratos sociais.
O cuidadoso inventário de fontes de naturezas tão diversas e sua apresentação e análise criteriosa, no entanto, fazem desta obra um amplo panorama de orientação de pesquisa. A riqueza documental que por vezes dificultou a obtenção de resultados, por outro lado, é um manancial de possibilidades de recorte. Implicitamente, a pesquisa da professora Homet indica também a necessidade de se percorrer o caminho de monografias mais circunscritas em termos documentais, no espaço e no tempo. Um exemplo disso pode ser encontrado no capítulo “Longevidad y eterna juventud” que, envolvendo um volume mais amplo de fontes similares às utilizadas, daria um belo livro comparativo. Tal orientação, porém, não abole a importância de visões panorâmicas, aliás tão caras aos trabalhos, já mencionados, de Philippe Ariès.
Cabe ao leitor avaliar com maior profundidade a importância de se prosseguir na exploração desta linha investigativa e decidir se esta não nos levará aos mesmos impasses que outros objetos historiográficos contemporâneos. De nossa parte, o recorte etário parece extremamente oportuno para a abordagem da história medieval, pois fornece um critério alternativo, que podemos considerar universalmente válido que estabelece recortes, funções, valores e relações sociais. Perspectiva antropológica que fornece um ponto de partida que permite ao historiador reatualizar sua consideração do tecido social e das fontes, ultrapassando o critério anacrônico de “classe” e a noção ideológica e elitista das “ordens” do período. Talvez a perspectiva etária nos leve a reavaliar o retrato da sociedade legado por teorias e ideologias e nos aproximem de um perfil mais verossímil das práticas históricas.
Notas
1 HOMET, Raquel. Los viejos y la vejez en la Edad Media. Sociedad e imaginario. Rosario, Pontificia Universidad Católica Argentina\Faculdad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, 1997, p. 228.
2 Idem, p. 10.
Néri de Almeida Souza – Departamento de História – UNESP – Franca.
[IF]Cocanha: A história de um país imaginário – FRANCO JÚNIOR (VH)
FRANCO JUNIOR, Hilário. Cocanha: A história de um país imaginário. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. Resenha de: PAIS, Marco Antonio de Oliveira. Varia História, Belo Horizonte, v.14, n.19, p. 205- 208, nov., 1998.
No início da presente década o Prof. Hilário passou a dedicar-se a uma linha de pesquisa direcionada para o estudo da mitologia medieval e cujos resultados podem ser encontrados nos seus livros As utopias medievais, A Eva barbada: ensaios de mitologia medieval e Cocanha: lianas faces de uma utopia. Mas é com a presente obra que o autor mais avança nos seus estudos, na qual aborda um tema de grande interesse para os estudiosos da civilização medieval. 0 livro coloca ponto final numa discussão que ocorre nos meios acadêmicos nacionais e Órgãos financiadores de pesquisa sobre a possibilidade, ou não, de ocorrer avanços na historiografia medieval conduzida por um pesquisador brasileiro, trabalhando no Brasil. Seu trabalho serve de estimulo para o professor que diante das dificuldades colocadas pela pratica da pesquisa nesta área aqui no Brasil muitas vezes deixa-se vencer pelo desanimo. Penso que com este livro a historiografia medieval brasileira atinge a maturidade, abrindo perspectivas para a realização de novos trabalhos.
A excelência da obra e reconhecida inclusive por um dos maiores medievalista contemporâneo, o professor francês Jacques Le Goff, que no prefacio, entre outros temas, agradece ao autor pela seu trabalho sobre o pais de Cocanha, pois mesmo apesar de atrair a atenção de diversos historiadores, nunca tinha sido tratado de forma abrangente e sistemática. A partir de agora o livro deverá tornar-se citação obrigatória na bibliografia sobre o assunto.
A utopia de um país maravilhoso, de uma terra de abundancia e felicidade, da eterna juventude pode ser encontrada em diversas formações sociais pré-industriais, ocidentais e orientais, sejam elas letradas ou iletradas, tanto no mundo antigo quanto no contemporâneo. Estes sonhos que povoam o imaginário de inúmeros povos vão aos poucos sendo desvendados pela pesquisa histórica, ampliando nosso conhecimento sobre as sociedades onde surgiram. E partindo do pressuposto de Duby — de que para conhecer a ordenação das sociedades humanas o historiador deve prestar a atenção tanto nos aspectos econômicos quanto mentais que o Prof. Hilário desenvolve seu trabalho.
Movimentando-se numa área onde são muitas as imprecisões conceituais, aquela do imaginário e da intersecção cultura popular/erudita, o autor consegue se locomover com habilidade, discutindo e esclarecendo os pressupostos teóricos que utiliza, apresentando hipóteses precisas e bem elaboradas. Demonstrando ser um discípulo da história social, o autor abre-se a interdisciplinaridade movimentando-se com desenvoltura na área da história, literatura, semiótica, etimologia, filosofia, antropologia, sociologia, e mesmo algumas escapadas pela psicanalise.
O livro demonstra uma grande erudição e acesso a uma vasta bibliografia, mas nem por isto deixa de ser urna leitura agradável. O autor evita as citações em idiomas estrangeiros, tediosas e incompreensíveis para muitos, e com isto favorece a leitura a um público mais amplo do que aquele restrito ao interessados pela história medieval. A tradução completa do fabliau da Cocanha nas primeiras páginas presta um auxilio inestimável ao leitor e favorece a compreensão das idéias do autor no decorrer da obra.
No primeiro capítulo, O Fabliau de Cocagne, mosaico textual, localiza o texto manuscrito cronológica e geograficamente e faz algumas incursões pela área do maravilhoso em várias culturas do mundo antigo, concluindo que o “fabliau da Cocanha pode ser considerado um exemplo típico da utilização de lugares-comuns, de imitação, de empréstimos, de compilação enfim, pratica muito difundida nas elaborações literárias medievais.” (p. 50) Quanto ao público alvo do fabliau não há acordo entre os especialistas, e o autor prefere sustentar a hipótese de que o mito de Cocanha funciona como uma compensação imaginaria para os principais grupos sociais urbanos dos séculos XII e XIII, período muito agitado na Europa em consequências das transformações oriundas do crescimento comercial e urbano ocorridas naquela época. Mas Cocanha não e só uma terra de sonho, pois representa também urna crítica social, além de urna sátira ou paródia da cultura oficial.
No segundo capitulo A terra da abundância parte do princípio de que a fome representava um dos piores inimigos da população da Europa medieval, daí o surgimento de várias utopias que poderiam dar cabo daquela desgraça de uma forma imaginaria. Ao que tudo indica nem mesmo o nome do país — Cocanha estaria livre de associações com o terna dos alimentos. A dieta dos cocanianos e alvo então de interessante analise e comentário, e nos dá uma visão panorâmica dos hábitos alimentares da civilização medieval.
No capitulo terceiro A terra da ociosidade, a partir do verso de que “La, quem mais dorme mais ganha” (FC v.28), aborda-se um dos tragos marcantes dos cocanianos, herança talvez dos preconceitos contra o trabalho oriundos da civilização greco-romana, da cultura germana e do cristianismo. E o interessante foi a valorização da ociosidade num momento em que o trabalho começava a ser reconhecido, refletindo talvez unia postura aristocrática contra as atividades dos burgueses. Neste capitulo o autor defende a tese de que “a natureza cocaniana e divina.” (p. 90), o que leva ao panteismo, isto e, doutrina na qual a idéia de Deus e do mundo representa urna (mica realidade. Dedica também algumas páginas na análise do carnaval e outras festas populares, pois “A terra maravilhosa com seus excessos alimentares, alcoólicos e sexuais é um carnaval ininterrupto.” (p. 97/98.)
No quarto capitulo, A terra da juventude aborda-se este tema tão sonhado pelas sociedades pré-industriais, mas que permanece obcecando o mundo pós-moderno. As condições econômicas, médico-sanitárias e alimentares da sociedade medieval conspiravam para que os indivíduos tivessem uma vida reduzida, daí a ênfase dada ao assunto pelo autor do fabliau, que inicia e fecha seu texto fazendo referências a Fonte da Juventude. Ser jovem era urna condição sine qua non para desfrutar das delicias e maravilhas de Cocanha. O próprio autor do fabliau era um jovem, corno ele mesmo afirma no texto, e que o imaginário transposto para país maravilhoso seria aquele da juventude aristocrática feudal. Mas para o Prof. Hilário o público alvo do fabliau não seria exclusivamente esta jovem aristocracia, pois atenderia também aos anseios e sonhos dos grupos urbanos burgueses.
No capitulo quinto, A terra da liberdade, discute-se as restrições que ela passou a sofrer no início da baixa idade média quando passou a ser cerceada pelo grande conjunto de normas imposto pelas monarquias centralizadas, pelos núcleos urbanos e pela igreja. Estas medidas deram origem a um clima de intolerância inexistente até então e que gerou a segregação de diversos segmentos da sociedades como enfermos, prostitutas, homossexuais, pobres de urna maneira geral, estudantes itinerantes, por exemplo. A ênfase na liberdade cocaniana seria urna compensação da liberdade real negada pelas realidade histórica daquele momento. Num momento de conflitos entre os partidários da ortodoxia da igreja e os diversos grupos heréticos que surgiram por várias partes da Europa, Cocanha desfruta de urna liberdade religiosa, e, melhor ainda, e um país não sacerdotal, conforme afirma o autor na página 139. Com uma igreja obcecada em impedir os prazeres oriundos do sexo, os cocanianos contra-atacam estabelecendo urna liberdade sexual que atinge a violência, pois os homens e a mulheres poderiam tornar a iniciativa de “pegar” os parceiros que quisessem, independente do seu consentimento, sem que isto gerasse algum descontentamento. O apelo da natureza era a única motivação a orientar a vida sexual dos cocanianos. No capitulo busca-se urna vez mais as possíveis origens do autor do fabliau e o Prof. Hilário enfatiza a hipótese de que vários indícios apontam para um goliardo que se investe contra a corrupta e avarenta estrutura papal e eclesiástica.
No sexto capitulo o autor aborda urna versão medieval inglesa do fabliau, cuja tradução e apresentada. Diferententemente da versão francesa, esta é bem mais limitada, concentrando-se na paródia de uma instituição monástica, ao que tudo indica a poderosa ordem de Cister, e seu autor seria um poeta franciscano, adepto da pobreza e simplicidade. 0 texto teria sua gênese então nos conflitos enfrentados pelas ordens monásticas a respeito dos valores e funções que as mesmas deveriam manter.
O sétimo e último capítulo trata de versões tardias que por surgirem num contexto histórico diferente do medieval incluem alguns elementos novos, apesar de manter constante o sonho de urna terra maravilhosa. Como o autor afirma, houve urna certa popularização do país da Cocanha e muitas versões representam críticas sociais as condições de vida levadas pelas classes mais pobres da sociedade, principalmente os camponeses. Algumas versões marcadas pela ideologia burguesa voltaram-se contra o clima de ociosidade e descontração da antiga Coconha. Por outro lado o realismo, o racionalismo e o iluminismo cuidaram de dar um cunho mais realista e sóbrio a algumas versões. Muito interessante para os leitores brasileiros são as páginas dedicadas a adaptação dos ideais cocanianos para o Novo Mundo a partir do final do século XV, funcionando como incentivo para o deslocamento de grandes contingentes de europeus para a América. A vegetação exuberante, a fauna variada, as aves coloridas, os rios caudalosos, a abundância de metais preciosos, a nudez indígena, levaram a transferir para a América a realidade da Cocanha. E para encerrar o livro o autor, como medievalista e brasileiro, não poderia ser mais feliz ao abordar uma interessante e cômica versão nacional do fabliau, o livreto de cordel intitulado o País de Sa -o Saruê, cujo autor transpôs para a realidade nordestina as maravilhas do país de Cocanha.
Na análise de um recorrente sonho da civilização ocidental — a utopia de uma terra maravilhosa o Prof. Hilário faz uma grande viagem pelo tempo, pois inicia seu livro abordando o famoso Poema de Gilgamech escrito por volta de 2500 a.C. no Oriente Media, e o conclui com um texto brasileiro de meados do século vinte.
Finalizando só resta-me recomendar a leitura do livro não só para os interessados pela cultura medieval, mas para todos aqueles dedicados aos temas relacionados ao imaginário, ideologia e cultura popular/erudita. E como aprofunda o tema referente ao carnaval deve ser leitura obrigatória para todos interessados pela cultura brasileira, pois afinal, para muitos, o Brasil e o país do carnaval.
Marco Antonio de Oliveira Pais – Professor do Departamento de História da UFMG.
[DR]
Origenes de la Monarquía Hispanica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520)
NIETO SORIA, J. M. Origenes de la Monarquía Hispanica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520). Madrid: Dykinson, 1999. Resenha de: ALMAGRO, Pérez. Panta Rei – Revista de Ciencia Y Didáctica de la Historia, Murcia, n.4, p. 1998.
Se trata de un Proyecto de Investigación Multidisciplinar dirigido por J. M. Nieto Soria, catedráticode Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid, y un equipo de investigadores dediversas áreas: Historia Medieval, Moderna, del Arte, Paleografía y Diplomática, Derecho,Literatura, Ciencias y Técnicas historiográficas. Sus análisis contrastados con otros especialistaseuropeos han dado esta compleja y atractiva visión de un tema muy influenciado por el momentoactual en la Historia.
El estudio aborda dos cuestiones: la ‘propaganda’ y la ‘legitimidad’ de la ‘Monarquía Hispánica'(unión de la Corona castellana y aragonesa con Isabel y Fernando) entre la fecha 1400-1520(transición de la época medieval a la moderna bajo un velo de transformaciones ideológicas,políticas y sociales). Ambos conceptos, muy debatidos en los últimos años, explican la plasmaciónde los intereses de una institución a través de sus mañas y manipulaciones para con el resto de losgrupos sociales; mientras hay, en palabras de los autores, ‘creación de consenso’ desde la legalidadde las instituciones, política y manifestaciones artístico-literarias.
‘Sociedad política’ (págs. 25-173), ‘Instrumentos Institucionales’ (págs. 177-272), ‘Retóricaspropagandísticas’ (págs. 273-368) y ‘Apéndice documental’ (págs. 369-604) son los epígrafes en quese compartimenta el libro. La primera parte se ocupa de la figura de la realeza (dinastía Trastámara),nobleza, ciudades y clero, y los instrumentos de propaganda y expresión del poder y legitimaciónideológica que utilizan a través de la retórica, símbolos, ceremonias, escenarios, manifestaciones eimágenes.
La segunda parte ronda la cuestión de representatividad y legitimación política desde la creación deun aparato burocrático (Asamblea y Cortes), el ordenamiento de la justicia y moneda en base a lalegalidad de la norma y centralización por parte del Estado; y la propaganda y mecanismosinquisitoriales hacia el grupo de judeoconversos.
El tercer nivel se centra en las manifestaciones escritularias, literarias y artísticas: conjunto defacetas que alcanzan con su simbología todos los niveles de vida.
Para finalizar la obra, diversas fuentes documentales y fotográficas complementan la temática depropaganda y legitimación de poder; tal es el siguiente texto:”Exhortaçión o y formación de buena e sana doctrina, fecha por Pedro de Chinchilla al muy alto emuy poderoso y esclareçido prinçipe y señor don Alfonso, por la graçia de Dios rey de Castilla y deLeón, en grand cuydado y deseo de servir a vuestra clara y real señoría e dobdiçia de laconservaçión e acreçentamiento de vuestro alto e magnífico estado.
Magnánimo e bienaventurado rey y señor, puse en obra de escribir en este breve tratdo algunascosas que pareçcieron san doctrina para el uso de buena e virtuosa vida, con las quales vuestra realseñoría podrá dar orden al derecho y buen regimiento de vuestros regnos e a la pacificaçión esosiego dellos…” (Biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander, Ms. 88, fols. 1v-3v -son 57 fols. Laobra completa-).
[IF]
O ponto onde estamos — Viagens e viajantes na história da expansão e da conquista – MICELI (VH)
MICELI, Paulo. O ponto onde estamos — Viagens e viajantes na história da expansão e da conquista. São Paulo: Scritta, 1994. Resenha de: VIDAL, Diana Gonçalves. As viagens são os viajantes. Varia História, Belo Horizonte, v.12, n.15, p. 203-204, mar., 1996.
Fascinante. Talvez o adjetivo que melhor qualifique o livro de Paulo Miceli. O ponto onde estamos — Viagens e viajantes na histeria da expansão e da conquista, adaptação de tese de doutorado, recentemente publicado pela Scritta. Livro de História e de histórias. Agrada aos que buscam o rigor do trabalho cientifico e aos que apenas desejam o deleite da leitura.
Nele, as viagens trágico-marítimas ganham vida. Deixam de ser “riscos coloridos que percorrem milhares de léguas, unindo os portos de saída aos de chegada”, como figuram nos mapas, na critica do autor, para assumir outra materialidade, a dos relatos de bordo. 0 cotidiano das embarcações nos é narrado numa linguagem fluida e convidativa. Embalados pela narrativa, ora nos deliciamos com os lazeres de bordo: encenação de peças teatrais escritas por padres, procissões religiosas e festas tradicionais — como a da coroação do imperador —; ora nos aturdinos com os reveses das viagens, ondas gigantescas governadas por “uma grande folia de vultos negros, que não podiam ser senão diabos”, epidemias e fome.
Na busca as razoes dos naufrágios, nos deparamos com explicações curiosas. Às vezes, a inepcia do piloto: o privilégio de dirigir a embarcação poderia ser atribuído a “homem desacostumado nesta carreira”, desde que o comprasse. Às vezes, o descuido na construção dos navios: madeiras verdes, furos de verruma não preenchidos por carpinteiros, falta de proporção nas medidas. Às vezes, o despreparo dos homens do mar: marinheiros de última hora — sapateiros, agricultores que não conheciam o linguajar de bordo, nem sabiam nadar. Às vezes, a ação das “peçonhas do diabo”, designação dada pelos padres as prostitutas que embarcadas, distraiam os homens de seus afazeres, deixando-os a merca da tuna do mar (sic). Às vezes, a cobiça: excesso de carga, má distribuição do peso.
Este relato de viagem(s) nos permite, ainda, conhecer a alimentação, a hierarquia social, os conflitos, as disputas, a medicina, as doenças, o proibido e o permitido a bordo dos navios nos séculos XV e XVI. Através dos escritos dos cronistas da época somos lançados neste universo, que para Miceli, ao contrário da sabedoria popular, não é um mundo à parte. Os termos portugueses, muitas vezes desconhecidos, destas crônicas nos são esclarecidos em notas.
O livro se divide em seis capítulos, em cada um deles o autor procura situar aspectos da história da expansão e da conquista portuguesa. Uma breve discussão histórica posiciona Miceli em relação ao seu objeto e a arte de narrar. O segundo capitulo leva-nos a um passeio pela Lisboa quinhentista: fome, doenças, guerras e catástrofes naturais. O capítulo III debruça-se sobre a arquitetura naval. Percorremos as várias etapas da feitura de um navio: projeto, modelo, produto final. Descobrimos carpinteiros e calafates como um poderoso grupo profissional. Percebemos mãos femininas auxiliando a construção de naus — desfazendo cabos de cordas de linho, velhos, e tornando a fiar em estopa de calafetar. Em Singradura, conhecemos a “gente do mar” e alguns de seus relatos de experiencias. Um convite a participar do cotidiano das viagens: festas, teatros, dietas e doenças, nos é realizado no quinto capitulo. Finalmente, em Passageiros do Acaso, o autor interroga-se sobre as raízes dos naufrágios. Falhas na construção, reparo e manutenção das embarcações, além de cobiça, são algumas das causas apontadas.
As notas no final de cada capitulo revelam um intenso trabalho de pesquisa em bibliotecas e arquivos portugueses. Mas indicam, também, o desejo do autor de interferir o menos possível na fluidez do texto, deixando o leitor a vontade para escolher entre entregar-se ao prazer de uma viagem descomprometida ou ao rigor da leitura acadêmica.
Do ponto onde estamos, dirigimos nosso olhar ao passado, tentando captá-lo, conhecê-lo, talvez, aprisioná-lo. Fica o alerta do autor, citando Fernando Pessoa: “As viagens são os viajantes. 0 que vemos não é o que vemos, senão o que somos”.
Diana Gonçalves Vidal – Doutora em História da Educação.
[DR]
Le retour des ancêtres. Les Indiens Urus de Bolivie/ XXe XVe siècle
Algum dia se fará um balanço da influência do historiador francês Nathan Wachtel sobre nossa visão da história da América. Seu primeiro livro, La vision des vaincus, de 1971, embora ainda não traduzido no Brasil, tem sido lido no original e especialmente na edição espanhola Los vencidos.1 Há marcas visíveis desta leitura em manuais de história da América que incorporaram, com maior ou menor profundidade, a proposta de uma ‘História dos vencidos’. Já o artigo ‘A aculturação’, publicado em Faire de 1’Histoire,2 circula mais freqüentemente entre professores e estudantes de história da América nas universidades brasileiras. Nele, Nathan Wachtel prolongava as reflexões de um de seus mestres, Alphonse Dupront, adotando o conceito e a problemática da aculturação para ultrapassar o eurocentrismo na história da América.
Vinte anos depois, Nathan Wachtel reaparece com esta obra monumental. Seu primeiro livro propunha uma história pelo avesso, revirando ao contrário a capa eurocêntrica da história. Agora, apresenta-nos ura novo desafio igualmente surpreendente: História regressiva, tal como o fez Marc Bloch pela primeira vez em 1931 em Les caracteres originaux de Vhistoire rurale française (que só foi publicado em 1955).
Trata-se de, partindo daquilo do passado que ainda vive no presente, buscar reconstituir o processo do devir, com suas repetições, suas latências, lacunas e inovações, mas sem cair na tentação da descoberta das ‘origens’. Fazer história regressiva, neste caso, significa começar pela abordagem etnográfica de uma pequena aldeia no altiplano boliviano, a quatro mil metros de altitude, onde vivem cerca de mil indígenas chipayas. Nathan Wachtel está em contato intermitente com Chipaya e outros vilarejos urus desde 1973. Membro da Escola de Altos Estudos, filiado ao Instituto Francês de Estudos Andinos, ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton e ao Centro de Pesquisas sobre o México, América Central e os Andes (Cermaca), apropriou-se da riquíssima experiência de autores como Claude Lévi-Strauss, Alfred Métraux, Ruggiero Romano, John Murra, Tom Zuidema, Enrique Tandeter, Gilles Rivière, Teresa Gisbert, Jan Szeminski, Maria Rostworowski, Frank Salomon, Carmen Bernand, Thierry Saignes, Steve Stern, Alberto Flores Galindo e outros especialistas com quem convive.
Na primeira parte do livro, ‘Múmias viventes’, Nathan Wachtel projeta ao longo de seis densos capítulos um aguçado olhar antropológico sobre a organização social dos chipayas, procurando a lógica invisível que a rege e que está escrita no seu próprio território, no sistema de parentesco, na língua, no calendário, nos deuses e demônios, nos ritos, na memória e nos sonhos de seus membros. Jogos de espelhos que ora se multiplicam, ora se distorcem, a visão chipaya do mundo é quadripartida, isto é, duplamente dualista, e nisto não se diferencia da cultura aymara que a envolve por todos os lados e a penetra em várias formas. Os aymaras os chamam com desprezo Chullpa-puchu (restos dos primeiros homens), e Alfred Métraux foi levado a pensar que os chipayas seriam, efetivamente, algo como um povo fossilizado perpetuando traços arcaicos da organização social. Mas Nathan Wachtel, atento às diferenças de língua e de vestuário, leva a sério uma distinção essencial: os chipayas e outros grupos urus insistem em caracterizar-se como homens dágua, por oposição a todos os outros homens secos.
Tempo a contrapelo’ na qual todas as informações recolhidas e sistematizadas conforme os procedimentos da antropologia estrutural são submetidas ao teste de um paciente e erudito trabalho de pesquisa nos arquivos da Bolívia, Peru, Argentina e Espanha. Se o historiador lê com alguma dificuldade a primeira parte, cada um dos sete novos capítulos é uma caixa de surpresas. Página por página, os horizontes se alargam. Os urus, ‘homens d’água’, vão se revelando como um importante bolsão de pescadores-coletores instalados ao longo do eixo aquático que liga ainda hoje os lagos Titicaca, Poopó e Coipasa, numa extensão de cerca de oitocentos quilômetros entre as duas grandes linhas de cordilheiras. Numa de suas incursões mais apaixonantes ao fundo do poço escuro do passado uru, Nathan Wachtel encontra alguns indícios que apontam para o horizonte cultural de Tiahuanaco, um império desaparecido séculos antes da hegemonia aymara, e depois inca, na região.
Os urus ou homens d’água eram cerca de oitenta mil indivíduos, quase 25% da população indígena do altiplano, à época da conquista Nada permite crer na existência de uma identidade uru àquela altura: na verdade, desde a noite dos tempos estavam em ação processos de aculturação entre as populações andinas, dentre os quais o mais conhecido foi a política de colonização adotada pelos incas (mitimas). A heterogeneidade dos urus tem sua principal razão de ser na diversidade de situações produzidas em seus contatos com os homens secos, isto é, com grupos sedentários dedicados à agricultura e ao pastoreio. Existe, portanto, uma longuíssima história de ‘evaporação’ (que em geral é sinônimo de aymarização) de homens d’ágiia, toda pontilhada de resistências, recuos e reestruturações.
Nathan Wachtel reconstitui, recorrendo a fontes de todos os tipos, as grandes conjunturas da história uru a partir da montagem dos dispositivos coloniais na região. Forçados a se sedentarizar e constituir aldeias, submetidos à encomienda, os vencidos dos vencidos, uma vez que seus senhores imediatos eram os caciques aymaras. Na memória uru, estes foram tempos de escravidão e de morte: além do trabalho mais humilde e pior remunerado, sofreram as vagas de epidemias que dizimavam a maioria das populações andinas.
A sorte dos urus oscilou conforme algumas variáveis: épocas de abundância ou de escassez de mão-de-obra nativa, ritmo da produção de prata e mercúrio nas minas, diferença entre os preços na Europa e na América, campanhas de evangelização e de extirpação de idolatrias, ressecamento dos lagos, aquisição de novas técnicas etc.
A grande indagação do livro é a identidade dos chipayas, esse vilarejo uru criado pelo vice-rei Toledo na década de 1570, que o autor visitou pela primeira vez em 1973 e que, nove anos depois, quase não reconheceu. A rapidez das mudanças provocadas pela introdução de novas seitas religiosas na aldeia, quebrando uma estrutura secular que pareceria, aos menos atentos, imemorial, é apenas mais uma grande ruptura. Caso um chipaya adulto de 1600 retornasse à sua terra em 1660, encontraria praticamente a mesma dominação aymara sobre o seu povo, e estranharia apenas a sua cristianização superficial. Voltando novamente em 1720, nosso chipaya ressuscitado desconheceria os nomes de família de seus descendentes, o seu novo sistema de parentesco, o seu sistema sincrético de crenças, e surpreender-se-ia com uma crescente tendência à emancipação da servidão. Sessenta anos mais tarde, em 1780, à época das grandes revoltas de Túpac Amaru e de Túpac Catari e da generalização da condição indígena, nosso fantasma chipaya teria ainda maior surpresa diante da consolidação dos direitos territoriais da aldeia, do funcionamento regular do sistema de cargos articulando a circulação dos bens, da afirmação segura de uma identidade uru.
No início do século XX, uma revolução agrícola, resultante da aplicação exclusiva da lógica indígena à solução do problema do ressecamento progressivo do lago Coipasa, elevou o padrão de vida e estabilizou o sistema social dos chipayas que Nathan Wachtel iria encontrar em 1973. Já em 1982, os deuses estavam proscritos, as festas suprimidas, rivalidades religiosas cindiam perigosamente as quatro metades da aldeia. Porém, numa última noite, Wachtel é convidado para uma cerimônia clandestina de culto aos ancestrais: sinal de que a identidade uru permanece viva em um segmento da comunidade chipaya e de que o futuro permanece em aberto.
A complexidade e profundidade da obra a fazem duplamente importante como antropologia e como historiografia. Esperamos que esta breve resenha estimule a curiosidade por um livro que descortina horizontes até há pouco insondáveis na história da América. História a contrapelo feita com um rigor metodológico e uma erudição pouco comparáveis, Le retour des ancêtres é tão comovente em sua procura de abertura para a enigmática alteridade de um pequeno povo indígena desprezado até pelos outros índios, que muitos leitores acompanharão Nathan Wachtel até as lágrimas em determinadas passagens que só puderam ser escritas como fina literatura — crônica da busca de um tempo perdido que permanece vivo à espera de quem o queira saber ler.
Jaime de Almeida – Universidade de Brasília. Departamento de História.
WACHTEL Nathan. Le retour des ancêtres. Les Indiens Urus de Bolivie, XX* XVf siècle. Essai dfhistoire régressive. Paris: Gallimard, 1990. 690 pp. Resenha de: ALMEIDA, Jaime de. Textos de História, Brasília, v.4, n.1, p.154-158, 1996. Acessar publicação original. [IF]
Manual de Historia de Cartagena – (PR)
Manual de Historia de Cartagena. Murcia, 1996. 415p. Resenha de: NAVARRO, David Munuera. Panta Rei – Revista de Ciencia Y Didáctica de la Historia, Murcia, n.2, p.175-176, 1996.
David Munuera Navarro
[IF]O Estado Monárquico. França 1460-1610 – LE ROY LADURIE (RBH)
LE ROY LADURIE, Emmanuel. O Estado Monárquico. França 1460-1610. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 355p. Resenha de: FLORENZANO, Modesto. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.15, n.29, p.221-231, 1995.
Modesto Florenzano – Professor da Universidade de São Paulo.
Acesso ao texto integral apenas pelo link original
[IF]
Domes du XIV Siècle / Georges Duby
No início do nosso século, Henri Berr chamava a atenção para o fato de que a história não poderia ser somente um exercício de erudição. Dava-se início, então, a um profícuo debate em torno da Revue de Syuthèse, reunindo sociólogos, economistas, geógrafos, historiadores e psicólogos. Participante deste seleto grupo, Lucien Febvre foi aí influenciado de forma decisiva pelo próprio Berr e pelo economista Simiand.
Em 1929, juntamente com Marc Bloch ele criou os Annales, que se transformaram ao longo dos anos numa das vertentes mais importantes da historiografia contemporânea.
Do período em que a economia dominava sob a batuta de Braudel, aos estudos que a destronaram marcados pela influência de Lévi-Strauss e Foucault, a historiografia francesa deu amplas demonstrações do seu vigor. Mas não parou aí. Com o mesmo vigor que se estudou ou se estuda as mentalidades e a cultura, que se aponta para as dimensões do imaginário e do simbólico, insiste-se na importância da narrativa e no regresso — em outras bases que não as do positivismo novecentista — da biografia e da história política.
Talvez nenhum historiador na França espelhe tão bem a trajetória percorrida pela historiografia francesa nesta segunda metade do nosso século, como Georges Duby. De la société aux Xí et Xlf siècles dons la région mâconnaise (1953) a Dames du XIT siècle (1995), os mais de dez títulos que compõem sua obra sugerem o percurso do historiador que atualiza sempre, de forma surpreendente, objeto e método.
Este seu último livro lançado no início deste ano, primeiro de uma série de três nos quais pretende a partir do uso de diferentes fontes se ocupar do lugar que a sociedade medieval destinava às mulheres, Duby mais uma vez nos oferece uma combinação perfeita de erudição e criatividade.
A pesquisa feita sobre Heloísa, Eleonora, Isolda e as outras damas não resulta em absoluto em estudo biográfico nos moldes tradicionais. Reforçando o tom narrativo já anunciado anteriormente em outras obras, como Guilherme, o marechal, Duby serve-se habilmente da vida dessas damas para penetrar nas estruturas mentais da sociedade feudal e realizar um delicioso estudo dos costumes que indicam, por sua vez, o sistema de valores imposto na época às mulheres. É do sexo, da relação entre os sexos, ou mesmo da ‘guerra’ entre homens e mulheres, do código criado pela Igreja para normatizar e enquadrar essa relação que trata o livro.
A idéia de que o sexo era a fonte do pecado encontrava- se impregnada no fundo das consciências, tornando o desejo carnal naturalmente temido. Situada neste sistema de valores, a mulher era percebida como uma criatura ‘essencialmente má’ por ter introduzido no mundo o pecado. Presa fácil, porque frágil, o demônio dela se serviria para desencadear o mal e a desordem social. A tentação representada no corpo da mulher e o casamento são o eixo comum em torno do qual giram as vidas dessas damas: mulheres da aristocracia, destinadas já na adolescência ao casamento, escandalizam a sua época por desafiarem o sétimo sacramento instituído pela Igreja no século XII. Toda uma lenda as envolve, mas Duby, partindo de fontes escritas diversificadas — cartas, sermões, literatura —, estabelece uma comparação entre o nosso olhar e o dos seus contemporâneos. Existe, adverte ele, uma grande diferença entre a Isolda de Wagner, ou do filme de Cocteau, e a Isolda do século XII. Enquanto demonstra que no casamento a Igreja não buscava somente o controle social, mas também o político, porque passava a intervir no casamento dos reis, Duby não perde de vista os demais aspectos da reforma eclesiástica que normatizam a sociedade.
Se Eleonora é pretexto para demonstrar a intervenção da Igreja na política, o estudo do culto de Maria Madalena exemplifica que a reabilitação da mulher é possível pela submissão ao homem. Ao estabelecer obviamente a concepção do casamento para a aristocracia condenando o incesto e a poligamia, a Igreja organiza também a si mesma, impondo ao clero a continência. Mas não só. A problemática das relações do trabalho intelectual com as coisas mundanas, sobretudo o sexo, é também abordada por Duby na minuciosa e erudita pesquisa que realiza nas cartas trocadas entre Heloísa e Abelardo.
Enquanto escreve, Duby introduz o leitor nos procedimentos de sua pesquisa. Já no início chama a atenção para a dificuldade de escrever sobre as mulheres devido à especificidade dos testemunhos existentes que fazem com que, segundo sua palavras, o historiador avance, ‘penosamente’, sobre um ‘terreno difícil’. Consciente da suas limitações, esclarece que aquilo que pretende mostrar não é o ‘realmente vivido’, visto que este é inacessível. A sociedade, para ele, possui suas defesas e só exibe de si mesma aquilo que julga bom exibir. A preocupação em regulamentar a relação entre os sexos aparece abundantemente nos testemunhos de toda natureza, mas é na literatura para divertir que Duby vai pinçar a negação do sistema de valores que subordinava a mulher ao homem. Em Tristão e Isolda ele vê a representação das fantasias da gente da corte, mas lembra que a bela Isolda, adúltera, é estéril, e que, como no século XII a mulher só encontra sua plenitude na maternidade, a punição evitaria, assim, o nascimento de bastardos. No romance de Chrétien de Troyes, onde ostensivamente os personagens Fênix e Cligès são a antítese de Tristão e Isolda, Duby nos reserva uma surpresa: Chrétien de Troyes valoriza e exalta o valor do casamento, tendo o amor como prelúdio; há, portanto, uma mudança na representação da relação entre os sexos e reconhece que, embora tenha combatido duramente a hipótese de uma promoção da mulher na época feudal — Heloísa e Eleonora são mulheres frágeis —, as figuras femininas de Chrétien de Troyes que conduzem a trama do romance indicam ao historiador uma nova direção na relação entre os sexos.
Composto em 1176, o romance pressupõe uma modificação dos costumes da alta aristocracia em um momento em que no norte da França a economia mercantil decola, as guerra perdem a sua intensidade, modificando a política matrimonial das linhagens e tornando o casamento o grande vencedor.
Independentemente da sua natureza — cartas, sermões, literatura —, Duby lembra que a composição do texto obedecia a regras predeterminadas (não se escreve uma carta no século XII, como nos nossos dias) e insiste que tais narrativas constituem de forma análoga à hagiografia um exemplo a ser lido em alta voz, reforçando, assim, o papel da oralidade na sociedade medieval. Enquanto a força de alguns textos garantiu a sua transmissão e mesmo a perpetuidade, outros caíram no esquecimento, como o relato da vida de Juette, uma jovem visionária que viveu em 1172 em Huy (atual Bélgica). Juette exerceu forte influência sobre as mulheres, levando-as a resistir ao desejo carnal e, conseqüentemente, ao homem e ao casamento. A multiplicação nesta região das comunidades de reclusão preocupou a sociedade. O exemplo de Juette não era bom. A visionária foi esquecida.
Maria Eurydice de Barros Ribeiro – Universidade de Brasília. Departamento de História.
DUBY, Georges. Domes du XIV Siècle. Heloíse, Aliénor, Iseut et quelques autres. Paris: Gallimard, 1995. Resenha de: RIBEIRO, Maria Eurydice de Barros. Textos de História, Brasília, v.3, n.1, p.150-153, 1995. Acessar publicação original. [IF]
L’ultimo Caravaggio: dalla Maddalena a mezza figura ai due San Giovanni (1606-1610) – PACELLI (RHAA)
PACELLI, Vincenzo. L’ultimo Caravaggio: dalla Maddalena a mezza figura ai due San Giovanni (1606-1610). Todi: Ediart, 1994. Introdução de Maurizio Calvesi. Resenha de CABRERA, Galia Daniela. Revista de História da Arte e Arqueologia, Campinas, n.2, p.371-372, 1995/1996.
Galia Daniela Cabrera – Universidade Estadual de Campinas, Brasil.
Acesso somente pelo link original
[IF]
La decouverte de l’Amèrique? Les regards sur Vautre à travers les manuels scolaires du monde / Pierre Ragon
Situada em local onde havia uma antiga livraria brasileira de oposição à ditadura, em Paris, a editora/livraria L’harmattan encontra-se entre as quinze primeiras editoras francesas. Criada em 1974, voltada sobretudo para as ciências humanas, L’harmattan concede ao denominado “Terceiro mundo” um espaço privilegiado, que começou pelas publicações que tratavam da África e do Brasil. Atualmente, ela cobre toda a América Latina e oferece ao público cerca de seiscentos títulos novos por ano. A maior parte dessas publicações permanece, no entanto, ignorada pelo público brasileiro. Nesse sentido, é interessante salientar dois trabalhos publicados por ocasião das comemorações do V Centenário do descobrimento da América.
O primeiro é La decouverte de l’Amèrique? Les regards sur Vautre à travers les manuels scolaires du monde (1922). O organizador é Javier Pérez Siller, sociólogo e historiador mexicano, professor da Universidade Nacional do México, que tomou como ponto de partida o fato de ser o descobrimento da América um dos poucos acontecimentos históricos considerado como patrimônio universal. Em todos os países do mundo, as crianças aprendem que em 1492 Cristóvão Colombo descobriu a América. Com isto, Javier Pérez Siller lançou um desafio a um grupo de pesquisadores das mais diversas nacionalidades: demonstrar como o descobrimento da América foi representado nos manuais escolares. Foram pesquisados 150 manuais escolares em uso em setenta países.
O grande mérito e originalidade desse livro de agradável leitura encontra-se na sua proposta. Javier Pérez Siller reuniu pesquisadores da Alemanha, França, Grécia, Portugal, Venezuela, Colômbia, Camarões e Marrocos, dentre outros países.
O trabalho permite, assim, uma leitura comparativa a respeito dos descobrimentos, nos manuais escolares, das diversas partes do mundo, rompendo com a visão europeocentrista.
A inspiração do organizador não é difícil de adivinhar. Muitos certamente lembrar-se-ão, imediatamente, de Marc Ferro em Comment on raconte l ‘histoire aus enfants a travers le monde entier ( Paris, Payot, 1986) e em L ‘histoire sous surveillance (Calmann-Levy, 1985). Muito antes das comemorações do V Centenário do descobrimento da América, Ferro já denunciava as conseqüências de uma visão teleológica e europeocêntrica da história. Prefaciando a obra organizada por Péres Siller, Ferro adverte que “não se trata de um catálogo”, mas de uma confrontação entre as diferentes visões da história, a partir de um observatório particular”. A leitura do livro reafirma as observações de Marc Ferro.
A descoberta da América, como acontecimento que se representa, submete-se a um jogo complexo que envolve aspectos nacionais, internacionais, culturais e étnicos. Lamentavelmente, embora trabalhos como este questionem a história europeocentrista, os manuais escolares continuam perpetuando uma história centrada nos valores europeus ocidentais. Resta ao menos refletir entre a distância que no Brasil separa a produção acadêmica da produção do manual escolar.
O segundo livro, Les itidiens de la découverte. Evangélisation, mariage et sexualité (1992) é de autoria de Pierre Ragon, jovem historiador interessado em história religiosa da América Latina na época moderna e professor da Universidade de Paris X — Nanterre. Pierre Ragon segue bem de perto, nesse trabalho que trata do México pós-conquista, a trilha aberta já há alguns anos pela historiografia francesa, que aproxima a história da antropologia. O autor propôs-se a analisar o encontro de duas culturas, concedendo a evangelização o papel de transposição dos valores europeus — moral e concepções de vida — para a sociedade ameríndia completamente desconhecida.
Na abordagem dessa transposição, o autor elegeu o estudo da introdução do casamento cristão entre os índios. Ragon não restringiu o seu trabalho a um estudo de história religiosa. Com a análise do casamento, penetrou na sociedade indígena, desvendando os laços mais elementares ali existentes.
No contexto da colonização espanhola deteve-se no exame da complexa passagem de uma sociedade “paga” à cristandade, destacando com perspicácia como, aos poucos, o casamento e a sexualidade foram se tornando prioritários para os evangelizadores, uma vez que pelo casamento cristão era possível normalizar a vida dos indígenas, segundo uma fé que eles passavam a adotar. O autor insiste ainda na “abertura de espírito” de grande parte dos religiosos que aceitaram muitas das instituições indígenas, viabilizando assim a implantação das novas normas de vida. Integrando a reflexão teológica aos costumes desses povos desconhecidos, buscavam no pensamento de São Tomás de Aquino (definição do casamento e concepção da lei natural) a defesa da validade das uniões indígenas.
De forma interessante, num estilo elegante, Ragon mostra como os religiosos foram além da reflexão intelectual, lançando-se na prática a uma tarefa pedagógica que inicialmente procurou o apoio das elites indígenas, intervindo nos conflitos pelo poder, contando com o apoio feminino, enfrentando resistências e, finalmente, modificando e impondo com o casamento cristão uma reestruturação do sistema de alianças políticas, anteriormente fundadas na poligamia.
As fontes utilizadas pelo autor revelam a seriedade e a profundidade do trabalho, que não se contentou com análises superficiais. Foram pesquisados tratados de teologia, processos da Inquisição, exposições, questionários, catecismos, manuais de confissão e a correspondência dos missionários. A obra possui quatro capítulos, nos quais Ragon discorre sobre a definição dos casamentos indígenas, os teólogos do Novo Mundo e a escolástica medieval, as novas regras de comportamento e, finalmente, a evolução das relações matrimoniais e o impossível controle das condutas. O livro é ainda enriquecido por um léxico, anexos, esquemas, gráficos e fotografias.
A retomada das teses clássicas da filosofia tomista pelos missionários do século XVI e a amplitude da cristianização na América diminuem certamente as fronteiras temporais que separam a Idade Média dos tempos modernos. Javier Guerra, no prefácio ao livro de Ragon, afirma que ‘”nosso conhecimento desses fenômenos no México pode esclarecer, por analogia, os processos de aculturação que se produziram antes, na Europa, quando da cristianização dos germanos, dos eslavos e dos escandinavos”.
Maria Eurydice de Barros Ribeiro – Universidade de Brasília.
SILLER, Javier Pérez. (Org). La decouverte de l’Amèrique? Les regards sur Vautre à travers les manuels scolaires du monde. 1922; RAGON, Pierre. Les indiens de la découverte. Evangélisation, mariage et sexualité. 1992. Resenha de: RIBEIRO, Eurydice de Barros. V Centenário do descobrimento da América. Textos de História, Brasília, v.2, n.4, p.182-184, 1994. Acessar publicação original. [IF]
La guerre des images – de Cristophe Colomb à “Blade Runner” (1492-2019) – GRUZINSKI (RBH)
GRUZINSKI, Serge. La guerre des images – de Cristophe Colomb à “Blade Runner” (1492-2019). Paris: Librairie Arthème Fayard, 1990. Resenha de: KARNAL, Leandro. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.11, n.21, p.244-245, set.1990/fev.1990.
Leandro Karnal – Pós-graduando do Departamento de História/USP.
Acesso apenas pelo link original
[IF]
Linhagens do Estado absolutista – ANDERSON (PH)
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. Porto: Editora Afrontamento, 1984. Resenha de: FLORENZANO, Modesto. Projeto História, São Paulo, v.3, 1985.
Modesto Florenzano – Professor do Departamento de História da PUC-SP.
Acesso apenas pelo link original
[IF]
A visão do paraíso – COLOMBO; A visão dos vencidos – LAS CASAS (PH)
COLOMBO, Cristóvão. A visão do paraíso; LAS CASAS, Bartolomeu de. Os conquistadores. A visão dos vencidos [Brevíssima destruição das Índias Ocidentais – 1552]. Porto Alegre: LSPM, sd. Resenha de: AVELINO, Yvone Dias. A América: da conquista ao genocídio – Cristovão Colombo/Bartolomeu de Las Casas. Projeto História, São Paulo, v.3, 1985.
Yvone Dias Avelino – Professora do Departamento de História da PUC-SP e do Programa de Estudos Pós-Graduados da PUC-SP.
[IF]