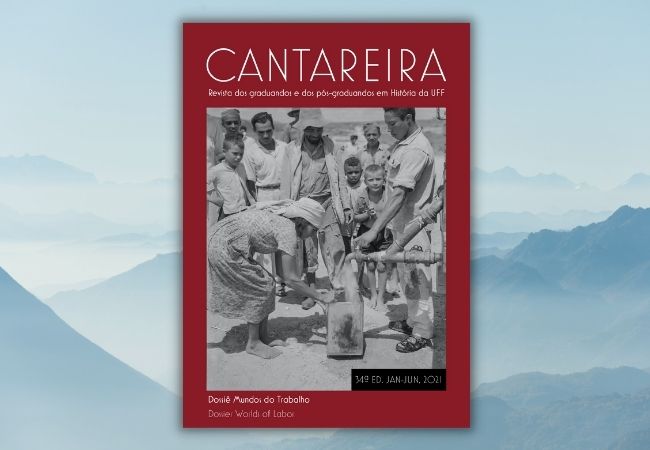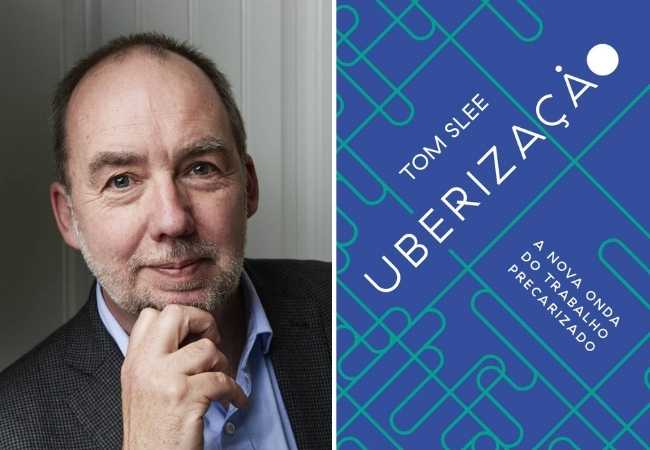Cantareira. Niterói, v.1, n.38, 2024.
- Publicado: 2024-08-05
- Expediente e Sumário
- Sumário
- Revista Cantareira
- Artigos Livres
- Povos indígenas e a Segunda Guerra Mundial: da legislação racial aos code talkers
- Vicente Cretton Pereira
- “Parabéns aos que beijaram a flor nativa da nossa história”:o Rio Grande do Sul nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro – profissionalização e patrocínio
- Fabricio Romani Gomes
- Cabra Marcado Para Morrer e a construção de narrativa da contrarrevolução preventiva
- Bruna Ayres
- O lugar da história das mulheres nas provas do ENEM (2016-2018)
- Stéphane Martins, Profª Drª Juliana
- “Pesado é o coração deste povo”apontamentos sobre o lugar dos judeus e do antijudaísmo na trajetória de Cesário de Arles (502-542)
- João Victor Machado da Silva
Cantareira. Niteroi, n. 37, 2022.
História da saúde na América Latina (séculos XVI-XXI): instituições, sujeitos, debates e práticas
Expediente
- Expediente e Sumário
- Revista Cantareira
Apresentação do Dossiê
- História da saúde na América Latina (séculos XVI-XXI): instituições, sujeitos, debates e práticas
- Natalia Ceolin e Silva, Rhaiane Leal
- History of health in Latin America (16th to the 21st century): institutions, subjects, debates and practices
- Natalia Ceolin e Silva, Rhaiane Leal
- Dossiê Temático
- Representações do ofício de curar em conflito. O licenciado Asensio Telles em Córdoba del Tucumán (1598)
- Justo R. Tapia
- O local da diáspora africana na ciência globalcirculação e assimetria pelos intermediários da cura no Brasil escravista do século XIX
- Jacques Ferreira Pinto
- A hermenêutica de Von Martius sobre as enfermidades e práticas de cura indígena na obra “natureza, doenças, medicina e remédios dos índios brasileiros” de (1844)
- Roberto Ramon Queiroz de Assis
- Um olhar sobre o Tratado sobre la fiebre biliosa y otras enfermidades de Marcos Rubio Sánches (1814) como fonte para história da saúde e doenças em Cuba
- Fillipe dos Santos Portugal, Barbara Barbosa dos Santos
- Agasalho e sustento dessa gente:saúde e imigração no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX
- Victor da Costa Santos
- Entre os “desherdados da sorte” e os “abandonados da saúde”: a imagem dos internos no Livro de Visitas do Asilo São Vicente de Paulo em Goiás (1909-1930)
- Rildo Bento de Souza
- Os perigos das amas de leite para a nação na obra de Emílio Joaquim da Silva Maia (1834-1859)
- Diego Regio Giacomassi
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Patricia Palma
- Natalia Ceolin e Silva, Rhaiane Leal
- Entrevista com Patricia Palma (Español)
- Natalia Ceolin e Silva, Rhaiane Leal
- Artigos Livres
- Tensões sociais e criminalidade escrava em Diamantina-Minas Gerais (1871-1888)
- Larissa Chaves Pinto, Edneila Rodrigues Chaves, Alan Faber do Nascimento
- Representações do papel da mulher nos estudos de Natalie Zemon Davis sobre a Europa Moderna
- Isadora Regina Celso Barbosa
- A presença do calundu na Bahia Colonial (c.1697-1716)
- Lara Vieira
- Uma sociabilidade honrada: O Clube de Esgrima e Tiro do Rio de Janeiro na Gazeta de Notícias (1888)
- Vitor Wieth Porto
- As Relações Internacionais em busca do cinema: um olhar cinematográfico sobre a política de Détente na Guerra Fria
- Vinicius Dalbelo
- Entre o enquadramento e a manipulação da memória: as comemorações do Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (1990– 2020)
- Laís Simão
- A roupa fala:a moda como meio de comunicação no Brasil Colônia
- Fernanda Bernardo, Dr. Ronaldo Salvador Vasques, Me. Marcio José Silva
- O Inferno na Taula de Sant Miguel
- Luana Barbosa Miranda Souza
- Hanseníase e políticas públicas na América Latina entre o fim do século XIX e o XXI.
- Adriano Violante dos Santos
- Entre literatura e políticaa República e o duelo Bilac-Pompeia (1892)
- Marconi Severo
Transcrições
- As Fronteiras ibéricas e a peste que grassava pela Andaluzia em princípios do século XIX(1800-1804)
- Thiago Nicodemos Enes dos Santos
Publicado: 2023-01-29
Cantareira. Niterói, v.1, n. 36, 2022.
Cantareira 20 anos: edição especial
Editorial e Sumário
- Editorial: Cantareira em dois cenários
- Alan Dutra Cardoso
- Por uma política de valorização das Revistas acadêmicas na área de História: Nota do Fórum de Editores de periódicos da ANPUH-Brasil
- Fórum de Editores de periódicos da ANPUH-Brasil
Artigos Livres
- O Enquadramento da memória do Holocausto a partir do filme A Lista de Schindler (1993)
- Isadora Wadi Staduto, Tereza Spyer
- Memórias e impactos da Estrada de Ferro Carajás nos versos de Gutemberg Guerra
- Vívia Nascimento , Anaís Sofia , César Martins de Souza
- · Uma sociedade formada por Trein, Mentz e Renner: Uma pesquisa sobre as indústrias A.J. Renner de Porto Alegre / RS e seus empresários.
- Jéssica Bitencourt Lopes
- A cavalaria na baixa idade médiadeclínio ou transformação?
- Ives Leocelso Silva Costa
- Passado pombalino em disputa: o Perfil do Marquês de Pombal, de Castelo Branco, em meio a embates sobre Pombal entre católicos e republicanos (Porto, 1882)
- Gustavo Pereira
- A primeira Assembleia Continental Guaranium movimento indígena na história contemporânea
- Edson Dos Santos Junior
- A formação do complexo colonial da Empresa Colonizadora Serafim Fagundes & Cia na região do planalto rio-grandense (1898-1899)
- João Vítor Sand Theisen
- Nem tudo deve ser lembrado: relação entre o arcebispo Dom Avelar Brandão Vilela, memória e política a partir da experiência de acesso ao arquivo privado “Paulo VI” da arquidiocese de Teresina-PI
- Lenilson Rocha Portela
- Tomás Antônio Gonzaga e o Tratado de Direito Natural: uma discussão sobre Justiça e poder no período pombalino
- Hiago Rangel Fernandes
Transcrições
- Domínio e dependência nas relações políticas entre Sobas e a Administração Portuguesa na Angola do século XVIII
- Luana Mayer, Gabriella Araújo, Jessica Dantas, Mariany Mathias, Lara Oliveira
Publicado: 2022-02-12
Construindo impérios na época moderna: Negócios – Política – Família – Relações Globais | Cantareira | 2021
Cinchona | Foto: Royal Botanic Garden
Nos últimos anos, com as abordagens trazidas pela História Global, os estudos das redes foram tendo sua importância renovada, sobretudo como método para o entendimento das relações complexas entre indivíduos, grupos e estados, tal como o colocou Fernand Braudel.
No campo da História, esta análise serviu como metodologia para compreender os sujeitos dentro das redes que se estabeleciam a partir de laços familiares, religiosos, clientelares, políticos ou econômicos, mas também dos mecanismos de controle, formais ou informais, que permitiram o desenvolvimento dessas relações na longa distância, em diferentes universos políticos, econômicos, sociais e culturais. Leia Mais
Cantareira. Niterói. n.35, 2021.
Construindo impérios na Idade Moderna: Negócios, política, família e relações globais
Editorial e Sumário
- Editorial e Sumário
- Alan Dutra Cardoso | PDF
- Apresentação do Dossiê
- Construindo impérios na época moderna: negócios, política, família e relações globais (séculos XVII e XVIII)
- Naira Bezerra, Tomás Albuquerque | PDF
- Building empires in the modern age: business, politics, family and global relations (17th and 18th centuries)
- Naira Bezerra, Tomás Albuquerque | PDF
Dossiê Temático
- A Quina (Cinchona) e o Império Português: explorações, transferências e aclimatações em uma perspectiva de imperialismo ecológico no século XIX.
- Diego Estevam Cavalcante | PDF
- As reflexões dos mercantilistas ingleses sobre a trajetória imperial espanhola e os seus impactos na formulação das concepções imperiais inglesas do final do século XVII e início do XVIII
- Felipe Mesquita Antunes | PDF
- O papel das redes mercantis durante a Monarquia Hispânica: o caso da Capitania da Paraíba (1584-1600)
- Sylvia Brandão Ramalho de Brito | PDF
- Entre impérios: apontamentos sobre fronteira e contrabando de escravizados na Colônia do Sacramento no século XVIII
- Alana Thaís Basso Basso | PDF
- Diplomacia e espionagem em tempos de neutralidade: a missão de Joaquim Xavier Curado nos povoamentos espanhóis do rio da Prata (1799)a missão de Joaquim Xavier Curado nos povoamentos espanhóis do rio da Prata (1799)
- Tiago Vinicius Bonhemberger | PDF
- A magia natural na obra de Francisco de Vitoria (ca. 1486-1546)
- Fabricio de Santana | PDF
- A ordem político-administrativa para a comarca do Serro Frio nos primeiros anos da mineração de diamantes
- Joelmir Cabral Moreira | PDF
- Os casamentos das famílias da nobreza da terra de Pernambuco: família como base de reprodução social. Séculos XVII e XVIII
- Ana Lunara da Silva Morais | PDF
- Pena de morte e juntas de justiça: A criação das juntas de justiça na América portuguesa (1723-1750)
- Bárbara Alves Benevides | PDF
- Relatos de um país inquieto: análise crítico-textual da Noticia da sublevação (…) de 1720
- Pedro Henrique Domingues de Lima | PDF
- “Isto é o que me lembro com toda a verdade, sem faltar um ponto de tudo o que aqui digo”: A queda de Salvador para os Holandeses a partir de uma Relação de Sucesso
- Isis Macedo Tejo | PDF
- Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Francesca Trivellato
- Naira Bezerra, Tomás Albuquerque | PDF
- Interview with Francesca Trivellato
- Naira Bezerra, Tomás Albuquerque | PDF
Artigos Livres
- O basilisco medieval em Harry Potter: História Pública, bestiários e cinema
- Dandriel Henrique da Silva Borges | PDF
- Vinhos velhos em odres novos: a ressignificação de rituais tradicionais no Congresso de Carnaval da Juventude Batista do Oeste Paranaense
- Brandon Lopes dos Anjos, Fábio André Hahn | PDF
- O “guerreiro da trincheira”: a masculinidade em Tempestades de Aço, de Ernst Jünger
- Luis Guilherme Eschenazi Lucena | PDF
- Thomas Mann e sua mudança de perspectiva durante as guerras mundiais
- Wander Luiz Demartini Nunes | PDF
- D. Rodrigo de Sousa Coutinho no alvorecer do oitocentos: o projeto de império com sede no Brasil
- Matheus Fernandes Albuquerque | PDF
- Uma categoria em disputa: definições e negociações em torno do trabalhador provisório na tramitação do Estatuto do Trabalhador Rural (1960-1963)
- Julio Capelupi | PDF
- Nas Tramas do Espaço: os estabelecimentos fabris nas freguesias urbanas do Rio de Janeiro entre 1830 e 1870
- Daiane Estevam Azeredo | PDF
- “Seria o fim do preconceito?”: a ditadura militar, o Itamaraty e a primeira diplomata negra do Brasil
- Ivan Haxton, Dra. Camilla Cristina Silva | PDF
- “Flores tóxicas da noite”: uma análise da prostituição em Belém durante a ditadura militar- civil (1970-1976)
- Jhenifer Denise Souza da Silva | PDF
Resenha
- Jinga numa encruzilhada: espiritualidade, guerra, diplomacia e gênero
- ALANNA PERONIO BACELAR PEREIRA | PDF
- A família negra sob a ótica da microanálise: as redes sociais e o cotidiano na Comarca do Rio das Mortes, Minas Gerais – séculos XVIII e XIX
- Gabriela Andrade | PDF
Transcrições
- Nos caminhos da justiça e da retidão: sermão da primeira eleição da Assembleia Legislativa Provincial do Espírito Santo (1834)
- Kátia Sausen da Motta, Marcos Antonio Briel | PDF
- De Lisboa a Goa: trabalhadores do mar em um ano da Carreira da Índia (1764)
- Jaime Rodrigues | PDF
Publicado: 2021-08-05
Jinga de Angola: a rainha Guerreira da África | Linda M. Heywood
Cercada por mitos e controvérsias, a história da Rainha Jinga já inspirou livros, canções, filmes e movimentos sociais. No Brasil, trabalhos como de Selma Pantoja (2000) e de Mariana Bracks Fonseca (2018) ilustram a importância da rainha Jinga no contexto africano as representações dela ao longo do tempo. Atualmente, o livro “Jinga de Angola: a rainha guerreira da África”, escrito por Linda M. Heywood, é o mais recente e um dos mais completos estudos sobre a história da rainha africana que enfrentou disputas internas e externas para reconstruir o reino do Ndongo entre os séculos XVI e XVII.
A autora tem uma carreira consagrada ao estudo das sociedades na África Centro Ocidental (grosso modo atual Angola), tendo publicado monografias e organizado livros sobre o tema. Seus trabalhos versam sobre assuntos relacionados à política, cultura, poder e diáspora no contexto africano. Entre nós, a produção de Heywood é tímida, resumindo-se ao livro de organização “Diáspora Negra no Brasil” (2008), da editora Contexto, versão do livro Central Africans and Cultural Transformations in American Diaspora, mas composta apenas com artigos relacionados ao Brasil. Leia Mais
O triunfo da persuasão: Brasil/ Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial / Alexandre B. Valim
Bandeiras – Brasil x EUA
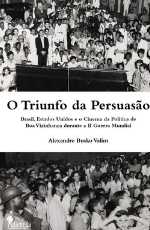 Na obra “O triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa- Vizinhança durante a II Guerra Mundial”, o autor Alexandre Busko Valim nos apresenta uma discussão sobre o uso do cinema na política de aproximação entre Brasil e Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Buscando estabelecer influência tanto no Brasil quanto em outras repúblicas da América Latina, os Estados Unidos desenvolveram a Política da Boa- Vizinhança, que foi aprofundada e inovou nos métodos de controle e dominação durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse novo quadro essa política era relevante pois visava garantir aos Estados Unidos: o potencial mercado latino-americano, o apoio do Brasil que possuía posição estratégica no cone sul durante o conflito bélico e por último – e importante – garantir o acesso a matérias primas essenciais para o esforço bélico dos Aliados.
Na obra “O triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa- Vizinhança durante a II Guerra Mundial”, o autor Alexandre Busko Valim nos apresenta uma discussão sobre o uso do cinema na política de aproximação entre Brasil e Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Buscando estabelecer influência tanto no Brasil quanto em outras repúblicas da América Latina, os Estados Unidos desenvolveram a Política da Boa- Vizinhança, que foi aprofundada e inovou nos métodos de controle e dominação durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse novo quadro essa política era relevante pois visava garantir aos Estados Unidos: o potencial mercado latino-americano, o apoio do Brasil que possuía posição estratégica no cone sul durante o conflito bélico e por último – e importante – garantir o acesso a matérias primas essenciais para o esforço bélico dos Aliados.
O objetivo de Valim, possuindo como base teórico-metodológica a História Social do Cinema, é analisar os usos do cinema que objetivava o estreitamento das relações entre Brasil e Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Uma das originalidades do livro é a abordagem escolhida pelo autor para tratar do tema; ele não busca fazer uma análise dos filmes produzidos, ou seja, reconhecer seus significados e representações, que é o comum dentro da bibliografia que trata do cinema na Política de Boa-Vizinhança. Indo além, busca se explicitar como se deu a estruturação da OCIAA (Office of the Coordinator of Interamerican Affairs) e a implantação das regionais no Brasil, e mais a frente à fundação da Brazilian Division (a sessão brasileira do Office). Abrangendo a parte burocrática da ação, analisando também o papel do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) no período. Focando sua discussão em apresentar como se deu a criação e o planejamento das atividades do Office no Brasil, analisando como os grupos dirigentes se decidiam, quais eram seus objetivos e suas ações, mais que isso, quais foram os entraves burocráticos encontrados no Brasil e quais foram as soluções realizadas. Chama atenção para a necessidade de se conhecer os processos de concretização do Office para dessa forma não colocarmos o período como uma mera consequência do imperialismo onipotente norte-americano.
Outro ponto original da obra se remete as fontes utilizadas pelo autor, sendo elas documentos depositados na National Archives em College Park, nos Estados Unidos (NARA II).
Essas fontes são um conjunto de memorandos, relatórios, cartas que circulavam entre as instituições (regionais, Brazilian Division, Office). O conteúdo delas variavam, desde aviso sobre decisões tomadas, relatórios qualitativos e quantitativos, preocupações compartilhadas pelos grupos, demandas, interesses, impasses e etc. Sendo assim, essas fontes são cruciais para se entender como se deu a idealização, organização e ação das atividades do Office no Brasil.
Utilizando o conceito de “zona de contato”, Valim também contribui originalmente ao propor uma análise onde observa os conflitos culturais existentes nos espaços sociais conjuntos construídos durante o contexto estudado. Dirigindo atenção a atores sociais que não possuíam destaque dentro das instituições oficiais, atores esses que foram peças chaves dentro da estruturação do Office e realização de suas atividades. Dessa forma, ele coloca sob o holofote estes que por muito foram ignorados pela historiografia do tema, mas que tiveram papel essencial no período.
Partindo para a estruturação da obra, tirando a introdução e as considerações finais, o livro apresenta seis capítulos no total, e em cada um deles os argumentos são articulados para com sua ideia principal. Na introdução são apresentados os objetivos gerais do livro, como também é explicitada qual metodologia será utilizada e qual documentação foi acessada para construção da obra. Em linhas gerais é abordado o contexto da Política da Boa-Vizinhança, suas bases e seus ideais, e também é apresentado um breve debate historiográfico sobre as produções que abordam esse período. Um breve histórico da criação do Office e da Motion Picture Division é exposto, além de apontar o porquê do interesse dos Estados Unidos na América Latina, em específico o Brasil. O autor segue e explicita os conceitos de persuasão e propaganda, e argumenta do porquê da escolha do cinema como instrumento de aproximação entre os países. Outro ponto importante abordado é sobre os entraves causados pelo governo brasileiro, no âmbito do DIP, que serão mais bem analisados nos capítulos seguintes.
No primeiro capítulo, intitulado “The Brazilian Division: a chegada do Office no Brasil”, o autor foca em apresentar como se deu a estruturação do Office no Brasil e a criação da Brazilian Division. Aponta as limitações legais encontradas no país e as ações tomadas para burlar o governo varguista que era lido possuindo um teor “muito nacionalista”, que não agradava o Office. Seguindo, é apresentado dados sobre quem seriam os responsáveis do Office, da Brazilian Division e das regionais instaladas. O capitulo é uma extensa explicação sobre a estrutura política do Office, suas divisões, cargos e tarefas; é a apresentação da parte técnica e burocrática do mesmo. O segundo capítulo, “Aliados precisam ter atitudes amigáveis: propaganda, oportunidade e lucro”, é desenvolvido a parte do embate entre a legislação brasileira e os desejos do Office, nesse caso, em relação à taxação dos filmes estrangeiros. São elencados quais eram as obrigatoriedades da Brazilian Division em relação à produção e divulgação dos filmes. Discorre-se sobre os esforços de se extinguir os filmes do Eixo. Por fim, ele pincela um pouco sobre a tentativa de se conseguir ajuda da Motion Picture Division para produzir filmes nacionais, e também sobre os esforços da Brazilian Division em treinar com eficácia os técnicos para produção e divulgação dos filmes.
Já o terceiro capítulo, intitulado “O show precisa continuar: o cinema da boa-vizinhança adentra o país” é focado em discutir sobre as dificuldades de expansão das exibições para o interior do Brasil. É explicada as dificuldades técnicas que envolviam disponibilidade de material, equipe treinada e transporte, por exemplo. Para, além disso, o capítulo aborda a recepção dos filmes no interior a partir de relatórios das equipes envolvidas. Aponta algumas situações onde ocorreram impasses com as autoridades locais no que tange permissão para as exibições, e debate sobre como esses embates eram retirados dos relatórios que eram enviados ao Offiice, numa tentativa de não manchar a atuação do mesmo no país o que poderia pôr em risco a continuação das suas atividades.
A argumentação sobre a recepção dos filmes pelo interior segue no quarto capítulo, “Acenando as cabeças para filmes extraordinários: os maiores hits do cinema da boavizinhança”.
É abordada a preocupação no quesito mensagem do filme vs. receptor, ou seja, a atenção dispendida em relação aos efeitos que as histórias dos filmes causavam no público, onde houve casos que não eram agradáveis porque não se identificavam com a realidade apresentada nas obras. Ainda nesse capitulo, é discutido sobre alguns requisitos relacionados a filmagens realizadas no Brasil, como por exemplo, o ponto de evitar pobres e negros nas cenas gravadas. Um pouco mais a frente, é abordado um pouco sobre a relação de Disney e a política da boa-vizinhança, abordando alguns filmes que o mesmo realizou no período diretamente relacionado a política de aproximação. Por fim, discute também a censura realizada pelo DIP aos filmes que seriam exibidos no país, as diretrizes para o cinema no Brasil, e elenca filmes proibidos que eram considerados simpáticos aos alemães e a URSS.
O quinto capítulo, “Caçando com os melhores cães: os projetos de cinema do Office”, a partir de três projetos chamados: William Murray Project, John Ford Project e o Production of 16mm in Brazil, o autor aborda as ideias do Office no que tange exibição e produção cinematográfica em âmbito nacional. Analisa toda a parte burocrática, que seria o orçamento, equipe técnica, parcerias privadas e públicas que permeavam essa empreitada de se investir na produção cinematográfica brasileira. Aponta também os argumentos daqueles que foram a favor e contra ao investimento estadunidense na indústria cinematográfica local e quais foram os desfechos. O sexto e último capítulo, chamado “Mais dramático que qualquer ficção as múltiplas fronteiras exploradas pelo cinema da boa-vizinhança”, analisa as ações para incentivar a produção da borracha para os esforços de guerra a partir da relação entre cinema e a “batalha da borracha”, além disso, também discute os estereótipos que associavam o Brasil a um local exótico e selvagem, e por último aborda novamente a discussão sobre a construção de uma indústria cinematográfica nacional a partir de investimentos norte-americanos.
Como é possível ver a partir das sínteses dos capítulos, o autor desenvolveu sua ideia principal de acordo com a evolução da obra. Utilizando as fontes da NARA II, Valim destrincha uma parte que até então não recebia muita atenção da bibliografia, que é a idealização e estabelecimento do Office no Brasil. As questões burocráticas que se desenrolaram, os impasses entre governo estadunidense e brasileiro. Salienta o embate entre ideais do governo varguista e os ideais propagados do ‘american way of life’, de liberdade e democracia pelos estadunidenses.
Para, além disso, destrincha a imagem estereotipada e até mesmo idealizada produzida sobre o Brasil, ressaltando inclusive o interesse do governo nacional nessa retratação que ignorava as desigualdades e mazelas sociais. Um fator interessante levantado na obra é sobre como em alguns casos funcionários estadunidenses se compadeceram mais pela causa brasileira e passaram então defendê-las, como por exemplo, dentro do projeto John Ford, onde os funcionários possuíam interesse de produzir filmes sobre a cultura do Brasil, sobre as músicas, o samba, mas foram inibidos porque isso ia de encontro com os interesses do Office.
A obra de Valim, lançada em 2017, se posiciona em um momento onde se faz muito necessário reconhecer a força e influência que os canais de comunicação possuem sobre a formulação da opinião pública. Como dito anteriormente, a obra não foca em analisar os signos representados nos filmes da época, mas se propõe a um estudo mais aprofundado sobre a natureza das atividades do Office e da sua relação com os grupos dirigentes do país. A partir de sua argumentação, é possível perceber como a Política da Boa-Vizinhança aprimorou os métodos de controle e dominação. “O Triunfo da Persuasão” não se mostra original apenas nos documentos que utiliza como fontes primárias, mas na abordagem que busca observar a relação entre dois países com poderes assimétricos, conseguindo, dessa forma, demonstrar as limitações da suposta onipotência norte-americana no contexto. Este livro se coloca enquanto leitura essencial para aqueles interessados em História Social do Cinema, sobre uso do cinema no contexto da aproximação do Brasil e dos Estados Unidos durante a Política da Boa- Vizinhança, além de abrir inúmeras possibilidades de pesquisas dentro da temática que aborda.
Carolina Machado dos Santos – Graduanda pela Universidade Federal Fluminense no curso de História (Licenciatura).
VALIM, Alexandre Busko. “O triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial”. 1. Ed. São Paulo: Alameda, 2017.Resenha de: SANTOS, Carolina Machado dos. Cinema e política da boa-vizinhança. Cantareira. [Niterói], v.34, p.675-678, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].
Mundos do Trabalho / Cantareira / 2021
A tradição da temática do trabalho na historiografia não impediu que apenas após 18 anos da sua primeira edição, a Revista Cantareira trouxesse entre suas publicações o seu primeiro dossiê inteiramente dedicado ao tema da História do Trabalho. Esta ausência se torna ainda mais surpreendente quando nos deparamos com a grande procura de pesquisadoras e pesquisadores não só de todo o Brasil, como também de outras partes do globo. De fato, as pesquisas de História do Trabalho e dos Trabalhadores e Trabalhadoras nas últimas décadas vem cada vez mais ampliando seu escopo e seus debates, mostrando que a experiência do homem branco, adulto e operário, que por muito tempo figurou na historiografia como o trabalhador ideal, não é a experiência universal dos mundos do trabalho.
Com um número recorde de artigos submetidos e aprovados, os trabalhos deste Dossiê mostram uma História do Trabalho dinâmica, plural, e que extrapola os grandes centros urbanos e as fronteiras nacionais. Ao mesmo tempo que os temas clássicos da História do Trabalho são revistos com novos olhares, abordagem e fontes, demonstrando a riqueza das pesquisas produzidas e a sua diversidade.
Refletindo os objetos discutidos pela sociedade atual, pesquisas abordando a convergência de classe, raça, gênero, identidade, orientação sexual aparecerem em diversos artigos do Dossiê. A ruptura dos paradigmas que segmentavam as investigações historiográficas entre trabalho e trabalhadores livres e não livres ajuda na formação de um complexo mosaico do Mundos do Trabalho. Dentro dessa seara, destacamos os artigos de Thompson Alves e Antônio Bispo, Ferreiros, “escravos operários” e metalúrgicos: trabalhadores negros e a metalurgia na cidade do Rio de Janeiro e na microrregião Sul Fluminense (Século XIX e XX) e de Karina Santos, Composição de trabalhadores na Fábrica de Ferro de Ipanema (1822-1842).
Para operacionalizar o rompimento da separação entre as análises sobre o trabalho livre e cativo, a ferramenta metodológica da interseccionalidade se mostra fundamental para pensar as complexidades do processamento da dominação e opressão de diversos grupos sociais dentro da classe trabalhadora. É o que podemos ver no artigo de Caroline Souza, Giovana Tardivo e Marina Haack, Localizando a mulher escravizada nos Mundos do Trabalho, bem como no de Caroline Mariano e Lígya de Souza, Mulheres úteis à sociedade: gênero e raça no mercado de trabalho na cidade de São Paulo (fim do século XIX e início do século XX), que mostram como a análise sobre o lugar social de mulheres escravizadas e os mundos do trabalho pode refinar a análise historiográfica. Ainda sobre a importância da interseccionalidade com o objetivo de pensar os trabalhadores, o artigo de João Gomes Junior, A “indústria bagaxa”: prostituição masculina e trabalho no Rio de Janeiro e na constituição da ordem burguesa aborda questões sobre a experiência de homens, trabalhadores sexuais que desviam do padrão heteronormativo, como parte formadora da classe trabalhadora carioca do início da República.
A utilização dos processos da Justiça do Trabalho emergiu como importantes fontes documentais há alguns anos e continuam rendendo pesquisas inovadoras: Tatiane Bartmann em Eles querem menos, elas querem mais: as reivindicações por trabalho na 1ª JCJ de Porto Alegre (1941-1945) e Vitória Abunahman, Trabalhadoras ou esposas? Um estudo sobre reclamações na Justiça do Trabalho de mulheres que trabalhavam para seus companheiros na década de 1950, trazem a luz as reivindicações das trabalhadoras, e Paulo Henrique Damião, A Justiça do Trabalho enquanto palco de disputas: entre estratégias e discursos, e Arthur Barros, Márcio Vilela, Fernanda Nunes, Marmelada de tomate: as relações de trabalho a partir do “sistema de parceria” na Fábrica Peixe (Pesqueira / PE), discutem as diversas estratégias e relações de trabalho a partir da instância judicial.
A cidade e a geografia nos mundos do trabalho se cruzam com diferentes fontes, temas e análises teórico-metodológicas, apresentando uma nova visão sobre o espaço urbano. Sob essa lente, podem ser lidos os trabalhos de Gabriel Marques Fernandes em A vida urbana em Tudo Bem (Arnaldo Jabor, 1978): a figuração dos “operários” durante a decomposição do “milagre” econômico brasileiro, de Amanda Guimarães da Silva em Lavadeiras na cidade: trabalho, cotidiano e doenças em Fortaleza (1900-1930), e de Aline Crunivel e Claudio Ribeiro em Memória, trabalho e cidade: contribuições para o debate contemporâneo sobre o lugar da classe trabalhadora.
Fora dos centros urbanos, a relação dos trabalhadores rurais, indígenas e migrantes com suas lideranças, com os empregadores e o Estado, suas lutas e representações, são temas dos artigos de Leandro Almeida, Os comunistas e os trabalhadores rurais no processo de radicalização da luta pela terra no pré-1964, de Idalina Freitas e Tatiana Santana, Entre campos e máquinas: histórias e memórias de trabalhadores da Usina Cinco Rios – Maracangalha, Bahia (1912-1950), e de Pedro Jardel Pereira, “A legião dos rejeitados”: trabalhadores migrantes retidos e marginalizados pela política de mão-de-obra em Montes Claros / MG, na década de 1930, e de Eduardo Henrique Gorobets Martins, As denúncias de trabalhadores indígenas do cuatequitl no códice Osuna durante a visita de Jerónimo de Valderrama na Nova Espanha.
Temas cânones dos estudos sobre o trabalho, como suas entidades representativas e seus discursos, o contato com o mundo da política, suas estratégias de luta e a organização burocrática, são discutidos sob novas perspectivas teóricas, metodológicas e bibliográficas nos artigos de Bruno Benevides, “Eu não tenho mais pátria!”: a primeira guerra mundial à luz da propaganda libertária de Angelo Bandoni, de Igor Pomini, As Jornadas de Maio de 1937, o antifascismo e o refluxo da Revolução Espanhola, de Eduard Esteban Moreno, Manifiestos políticos para la acción del movimiento obrero: Brasil y Colombia durante las primeras décadas del siglo XX, de Frederico Bartz, Os espaços da luta antifascista em Porto Alegre (1926-1937), de Pedro Cardoso, A atuação militar contra a greve do Porto de Santos em 1980, e de Guilherme Chagas, O corporativismo na construção do discurso da Revista Light (1928-1940).
Extrapolando os limites da História e da historiografia e nas suas interseções, o Dossiê também conta com contribuições de distintas áreas das Ciências Humanas e Sociais, o que mostra a importância do diálogo constante e como o tema do trabalho continua provocando discussões interdisciplinares sobre o sistema capitalista e os novos regimes de trabalho e explicação, de acordo com os artigos de Leonardo Kussler e Leonardo Van Leeuven, Da alienação em Marx à sociedade do cansaço em Han: fantasia e realidade dos trabalhadores precarizados, de Evandro Ribeiro Lomba, As estruturas históricas da formação para o trabalho no sistema capitalista e de Gustavo Portella Machado, Entre desemprego e freelance: a atual configuração do mundo do trabalho na cultura a partir da ocupação de produtores culturais como microempreendedores individuais. Ainda dentro dessa temática, este número também conta com a resenha de Regina Lucia Fernandes Albuquerque sobre o livro de Tom Slee, Uberização: a nova onda do trabalho precarizado.
Finalizando o Dossiê Mundos do Trabalho, apresentamos a entrevista concedida pelos professores Paulo Fontes (PPGH / UFRJ) e Victoria Basualdo (COCINET / FLACSO) para as organizadoras, Clarisse Pereira e Heliene Nagasava. Na conversa, os professores discutem suas formações acadêmicas, trajetórias de pesquisa, transformações no campo da história do trabalho e a importância do pensamento e da atuação dos historiadores, em especial os historiadores do trabalho e trabalhadores, fora dos muros da Universidade.
Desejamos a todas e todos uma ótima leitura!
Clarisse Pereira – Mestra e licenciada em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolve pesquisa na área de História do Brasil Republicano, atuando principalmente no tema sobre trabalhadores rurais na ditadura civil-militar. Atualmente é doutoranda em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com bolsa CAPES, e desde 2019 faz parte da Comissão Editorial da Revista Cantareira. E-mail: clarissepereira.snts@gmail.com
Heliene Nagasava – Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC / FGV), pesquisadora do Laboratório de Estudos de História do Trabalho (LEHMT / UFRJ) e funcionária do Arquivo Nacional. E-mail: hnagasava@gmail.com
PEREIRA, Clarisse; NAGASAVA, Heliene. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.34, jan / jun, 2021. Acessar publicação original [DR]
Giotto e os oradores: as observações dos humanistas italianos sobre pintura e a descoberta da composição pictórica (1350- 1450) | Michael Baxandall
Dos materiais de que o historiador dispõe para realizar uma pesquisa no universo do dito “Renascimento”, não se pode deixar de levar em conta a quantidade massiva dos discursos, sejam eles verbais ou visuais, cujos usos e consumo atendiam a critérios que hoje desconhecemos. Um indício dessas diferentes correspondências é a evidência com que, hoje, os pintores e autores do período sejam considerados gênios criativos e originais, termos impensáveis nas práticas em que se inseriam ao menos até o século XVIII. Em seu lugar havia técnicas retóricas e dispositivos artísticos muito regrados que então regiam a produção dos discursos. Nessa perspectiva, as artes da escrita e da pintura estavam amparadas na tópica horaciana do ut pictura poesis, que propunha uma relação de homologia dos procedimentos retóricos ordenadores de decoro e conveniência em relação às partes internas do discurso.
É considerando as relações entre as artes e as práticas letradas que o livro Giotto e os oradores estabelece um problema de fundo que envolve as relações de homologia estabelecidas historicamente entre a pintura e a escrita nos séculos XIV e XV. Por mais que tenha sido publicado em 1971, o livro do historiador da arte Michael Baxandall, por meio de uma escrita clara e ao mesmo tempo aguda, apresenta argumentos que mantêm rendimento, capazes de mobilizar o entendimento e, em consequência, o estudo de tais assuntos. Uma prova disso é a sua recente tradução para o português. Leia Mais
Uberização: a nova onda do trabalho precarizado / Tom Slee
Tom Slee / Foto: Sally Montana – Divulgação /
Sobre a obra
O fenômeno da economia do compartilhamento − que se populariza pela propaganda de um negócio em escala local, que conecta proprietários de dados recursos com pessoas em necessidade desses bens − é retratado na obra de SLEE (2017). Através de intensa pesquisa em fontes jornalísticas e utilização de bancos de dados públicos, o autor analisa a atuação de empresas no setor de economia do compartilhamento e desmistifica a propaganda que levou essas corporações a assumirem proporções gigantescas. Ocupando uma significativa proporção no mercado de Wall Street, corporações, como Rappi, Ifood, Lyft, TaskRabbit, WeWork e Airbnb, promoveram lobby nos setores financeiro, jurídico e imobiliário visando à garantia da flexibilização do vínculo trabalhista adotado por essas empresas.
O estudo minucioso de Slee (2017) pode ser tomado como referência para além dos casos descritos pelo autor. Assim, seria possível o extravasamento dessa análise fazendo paralelos com iniciativas atuais de flexibilização dos vínculos trabalhistas em setores nos quais esse impacto ainda é mais tímido, como, por exemplo, no setor educacional. Além do exemplo da massificação de cursos online no Ensino Superior (SLEE, 2017, p 52), nos últimos anos, a categoria do magistério assistiu à implementação de flexibilização do trabalho docente no setor público através da criação do vínculo empregatício de professor eventual. Esse tipo de vínculo não oferece ao trabalhador uma renda fixa, sua remuneração é calculada mediante à demanda por seu trabalho. Dessa forma, o professor eventual trabalha substituindo faltas ou licenças de professores efetivos, recebendo por aulas lecionadas (VENCO, 2018, p 9). Um vínculo empregatício com características que se enquadram no fenômeno de economia do compartilhamento (SLEE, 2017, p14-16) ou uberização do trabalho (FONTES, 2017, p 54). Ainda no campo educacional, as projeções para os próximos anos se relacionam com o desafio da garantia de direitos trabalhistas do magistério a longo prazo. Após a pandemia provocada pela Covid-19, expandiu-se a compra do uso de plataformas para veiculação de atividades pedagógicas por acesso remoto. Essa conjuntura fomenta incertezas sobre a continuidade dos programas de oferecimento de atividades pedagógicas não presenciais fora do período da pandemia. Aponta-se que em uma eventual decisão de continuidade dessas políticas de acesso remoto, estas seriam beneficiadas pela estrutura utilizada no período da Covid-19. Além disso, há receio sobre o investimento no vínculo de trabalho docente por tutoria remota em detrimento da promoção de editais de concurso público para sanar o déficit de professores nas redes públicas de ensino. Dessa maneira, o estudo de caso das corporações da economia do compartilhamento de Slee (2017) permite a extrapolação dessa análise a outras iniciativas que adotam esse mesmo modelo de flexibilização dos vínculos trabalhistas. Nesse sentido, a obra apresenta relevância para o campo das humanidades por sua análise de um fenômeno atual e em corrente expansão. O livro divide-se em nove capítulos que serão descritos a seguir.
Nas notas de edição, por Tadeu Breda e João Peres, e no prefácio à edição brasileira, de Ricardo Abramovay, fica explícito, que no original, Tom Slee (2017) não se utiliza do termo “uberização”. Esse emprego poderia restringir o fenômeno da economia do compartilhamento a apenas essa corporação. O autor utiliza os termos economia do compartilhamento (sharing economy), economia dos bicos (gig economy), consumo colaborativo (collaborative consumption), economia em rede (mesh economy), economia sob demanda (on-demand economy) e plataformas igual para igual (peer-to-peer plataforms) para definir a atuação dessa modalidade de negócios. Dessa maneira, o título original em inglês, What’s yours is mine: against the sharing economy (O que é seu é meu: contra a economia do compartilhamento), não foi traduzido de maneira literal para o português. Essa foi uma opção assumida pelos tradutores por compreenderem que a discussão sobre economia do compartilhamento no Brasil se intensifica a partir da popularização da Uber nas principais capitais nacionais.
O primeiro capítulo da obra de Slee (2017), intitulado “A economia do compartilhamento”, introduz a temática e apresenta o discurso sedutor de propaganda desse setor. A economia do compartilhamento se autodefine como plataformas de conexão de pequenos grupos de compartilhamento com foco comunitário. Contudo, as pequenas empresas que se enquadrariam nesse perfil ou foram compradas ou serviram de transferência de clientes para grandes empresas. Já as grandes corporações desoneram-se de sua responsabilidade com os trabalhadores que empregam, conclamando-se como intermediadores entre aqueles que prestam o serviço e aqueles que o demandam. Ainda no primeiro capítulo, são apresentadas a sequência e a segmentação da obra, a justificativa para sua elaboração e a defesa sobre o perigo da desregulação trabalhista trajada sob o discurso da sustentabilidade e empreendedorismo individual.
O segundo capítulo, intitulado “O cenário da economia do compartilhamento”, apresenta alguns mecanismos que as corporações utilizaram para manterem seus interesses. A organização Peers teve protagonismo na representação das corporações da economia do compartilhamento. Em específico, sobre a promoção de lobby nos setores legislativos e no movimento pela desregulação. A Peers atuou nas disputas judiciais entre a Airbnb contra ações mobilizadas pelo ramo da hotelaria de distintas cidades, assim como atuou na flexibilização de regras para o setor de transporte no estado da Califórnia, o que beneficiou a Uber. Tom Slee afirma que os três setores mais expressivos na economia do compartilhamento seriam o setor de hospedagem (43%), transporte (28%) e educação (17%) (SLEE, 2017, p 55). Em relação ao setor educacional, mostra-se plausível a hipótese de que seu percentual pode ser maximizado a partir da oferta de atividades pedagógicas não presenciais em virtude da pandemia pela Covid- 19. Período no qual houve grande expansão da venda de plataformas para vinculação de aulas online.
O terceiro capítulo, intitulado “Airbnb, um lugar para ficar”, dedica-se à descrição da origem do Airbnb até seu crescimento exponencial, alterando a mobilidade nos centros urbanos de cidades turísticas como Paris. Entre 2013 e 2015, o Airbnb em Nova York contava com 40% de seus anunciadores sendo proprietários de mais de um imóvel. Os anúncios desses proprietários representavam 43% das reservas efetivadas pela plataforma. Fato que invalida o discurso da empresa de representar pessoas comuns, compartilhando acomodações em seus apartamentos com turistas que buscam reservas temporárias. Da mesma maneira, a narrativa Airbnb contra o monopólio de grandes hotéis torna-se retórica vazia diante do investimento de grandes empresas hoteleiras no setor da economia do compartilhamento (SLEE, 2017, p 83). Se há algum prejuízo no setor de hospedagens, este tem sido acumulado por pequenos hotéis independentes com o maior gasto com taxas e regulações. O que torna desigual a competição entre essas acomodações com aquelas que não arcam com os custos da regulação (SLEE, 2017, p 84).
O capítulo 4, intitulado “De rolê com a Uber”, é dedicado à atuação do setor de transporte na economia do compartilhamento. O autor aponta que o manual de redação da agência de notícias Associated Press afirma que o termo economia do compartilhamento não deveria ser usado para descrever as ações da Uber, designando o serviço prestado pela empresa como “serviço de viagem chamada” (SLEE, 2017, p 102). Como a Uber se beneficiou da atuação da Peers e como a relação que a empresa estabelece com seus motoristas enquadra-se nos moldes da desregulação, Slee localiza a empresa no setor da economia do compartilhamento, ao lado da Zip car e Lift. A Uber, ainda que não tenha se associado diretamente aos lobistas da Peers, beneficiou-se de uma campanha promovida por essa associação na Califórnia. Este estado criou, em 2013, uma regulação específica para o setor de Empresas de Rede de Transporte. Esse segmento conta com motoristas sem registro na prefeitura, que não precisam submeter seus veículos ao mesmo tipo de inspeção pelo qual passam as empresas de táxi, por exemplo. Para além da atuação da Uber lucrando mediante a não garantia de direitos trabalhistas e da dispensa de gastos com regulação, a empresa também se mostrou falha na seleção de seus motoristas a partir de critérios de idoneidade que garantam a segurança dos passageiros (SLEE, 2017, p 132).
No capítulo 5, intitulado “Vizinhos ajudando vizinhos”, o autor se dedica a analisar as plataformas que oferecem serviços domésticos de limpeza, trabalhos de manutenção e entregas de supermercado, como a Taskrabbit, Instacart, homejoy e handy. Apesar de serem menos conhecidas no Brasil, são empresas comumente acessadas nos Estados Unidos. A receita é bem parecida com a dos outros setores da economia do compartilhamento: uma plataforma se populariza com o slogan de conectar pessoas que precisam de um serviço e aquelas dispostas a oferecê-lo. Contanto que aqueles que oferecem o serviço aceitem que o deslocamento, que as ferramentas e que os recursos para realização do trabalho sejam custeadas pelo próprio trabalhador. Enquanto, por exemplo, a plataforma homejoy que oferece o serviço, recebeu 40 milhões de fundos de investimento da google (SLEE, 2017, p 166-167).
O capítulo 6, intitulado “Estranhos confiando em estranhos”, dedica-se ao trato dos sistemas de avaliação das plataformas como um mecanismo que aferiria confiabilidade. Slee (2017) aponta que o sistema de avaliação pode refletir como o usuário avalia a eficiência do serviço prestado, como o conforto ou presença de lençóis limpos em uma diária de hospedagem.
Contudo, a maioria dos hóspedes não conseguiria avaliar se a acomodação respeita as prescrições de prevenção e combate a incêndio ou se os alimentos a serem consumidos foram manipulados com higiene (SLEE, 2017, p 181-182). Ou seja, o sistema de avaliação dos aplicativos não consegue cobrir questões referentes à regulação do serviço prestado. O sentido de avaliação das plataformas baseia-se em um sistema de reputação sem critérios prévios que orientem a avaliação. Portanto, de maneira subjetiva e informal, em uma sociedade fortemente estruturada pela estratificação social, misoginia e racismo. Como não considerar que esses elementos incidam sobre essas avaliações? Para além disso, Slee aponta para uma tendência no sistema de avaliações, evidenciando a relação frágil entre qualidade do serviço e as notas recebidas (SLEE, 2017, p 189-190).
O capítulo 7, intitulado “Uma breve história da abertura”, assim como o capítulo 8, traça um panorama do ambiente digital do qual emergiu a economia do compartilhamento. Slee afirma que a política de dados abertos em vez de produzir mais equidade, substituiu um conjunto de instituições poderosas por outro (SLEE, 2017, p 207). A abertura não poderia ser considerada uma alternativa ao mercado comercial ao passo que convive com este. Por exemplo, o Youtube, ao mesmo tempo que compartilha conteúdo gratuito, também, gera lucro a uma grande empresa (SLEE, 2017, p 210). Assim, o autor aponta que a abertura apresenta uma tendência a criar “mercados menos competitivos e negócios mais poderosos” (SLEE, 2017, p 211).
O capítulo 8, intitulado “Escancarado”, analisa a combinação entre lucro e a evocação de um caráter mais pessoal advindo da noção de compartilhamento, manifesto através da internet. O livro encerra-se com a conclusão de Slee (2017), já anunciada no título do capítulo 9 “O que é seu é meu”. O autor afirma que os valores não comerciais na economia do compartilhamento foram deixados de lado em prol da expansão do livre mercado. A evocação de um modelo mais humano para o universo corporativo resultou em uma forma mais agressiva do capitalismo, com desregulação das garantias trabalhistas e uma nova onda de trabalho precarizado (SLEE, 2017, p 297).
Síntese
A obra de Slee (2017) brinda a literatura do campo das humanidades ao apresentar um texto que sumariza a gênese e a atuação das corporações da economia do compartilhamento, fenômeno recente e em crescente expansão. O estudo de caso das corporações retratadas permite a extrapolação dessa análise a outras iniciativas que adotam flexibilização dos vínculos trabalhistas em setores em que esse impacto ainda é mais tímido. Como, por exemplo, no setor educacional. Aqui, infere-se que esse setor pode apresentar significativa expansão dentro da economia do compartilhamento a partir da compra em larga escala de pacotes de vinculação de aulas remotas em plataformas online, em virtude da suspensão de atividades pedagógicas presenciais como uma das medidas de contenção do espalhamento da Covid-19, durante o ano letivo de 2020.
Referências
FONTES, Virgínia. Capitalismo em tempos de uberização: do emprego ao trabalho. Marx e o Marxismo, v. 5, n. 8, jan./jun. 2017. Disponível em: http://www.niepmarx.blog.br/revistadoniep/index.php/MM/article/view/220/177. Acesso em: 09/07/2020.
SLEE, Tom. Uberização: a nova onda do trabalho precarizado. Tradução de João Peres. São Paulo: Editora Elefante, 2017.
VENCO, Selma. Situação de quasi-uberização dos docentes paulistas? Revista da ABET,v. 17, n. 1, janeiro a junho de 2018. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/index.php/abet/article/view/41167. Acesso em: 09/07/2020.
Regina Lucia Fernandes Albuquerque – Doutoranda no Programa de Pós graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre pelo Programa de Pós graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro na modalidade técnica de Formação de Professores. Atua com pesquisa em Sociologia da Educação.
SLEE, Tom. Uberização: a nova onda do trabalho precarizado. São Paulo: Editora Elefante, 2017. Tradução de João Peres. Resenha de: ALBUQUERQUE, Regina Lucia Fernandes. Cantareira, [Niterói], v.34, p.678-683, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].
Fascismos e novas direitas | Cantareira | 2020
Observamos, nos últimos anos, vitórias como a de Boris Johnson, no Reino Unido; a ascensão de Jean-Marie Le Pen, como grande figura na França; Viktor Orbán, porta-voz da anti-imigração na Hungria; a reeleição de Sebastián Piñera no Chile; o retorno de partidos neofascistas na Alemanha; Rodrigo Duterte, o fascista das Filipinas; e, entre muitos outros, as expressivas vitórias de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Essa guinada nos alerta para uma tendência na configuração da política mundial.
Em um contexto de crescimento de movimentos de extrema-direita pelo globo, as temáticas dos fascismos e das novas direitas vêm ganhando cada vez mais destaque e relevância nos debates acadêmicos. Seria o fascismo uma atitude desviante? Uma doença? Uma anomalia do sistema? Um retorno nostálgico a um passado “glorioso”? Além disso, seriam todas as direitas mais radicais, fascistas? Esta discussão foi objeto de grandes nomes dentro da historiografia e das ciências humanas e sociais, como Leandro Konder, Daniel Guerin, Ian Kershaw, William Reich, Antônio Gramsci, Umberto Eco, Hannah Arendt, Robert Paxtone e até mesmo, José Carlos Mariátegui. Cada um, a partir de diferentes abordagens –aproximadas ou discordantes –, elaboraram as suas perspectivas muitas vezes ancorados nas questões anteriormente apontadas.
A despeito das diferentes abordagens, bem como das análises de conjunturas, há um ponto em comum entre os autores: essas correntes, em geral, encontram terreno e se ampliam em cenários de crise, momento em que a classe dominada se sente atacada em todas as suas frações. Acreditamos que, diante da falta de horizonte, perda de status e déficit econômico, é comum que ideias salvacionistas sejam tentadoras. A percepção das causas de tantas perdas é deixada de lado em prol de uma luta contra seus efeitos.
Discursos que ressaltam problemas como: as crises econômicas e moral, a perda de status social e incompetência, a traição e fragilidade do governo etc., tornam-se demasiadamente atraentes para setores da sociedade que não se identificam com as transformações recentes. Assim, todos os medos sentidos são estereotipados na figura do “outro”, o qual, por muitas vezes, será compreendido como inimigo a ser combatido.
Ao analisar a ascensão tanto política, quanto eleitoral, de movimentos de extrema-direita, racistas, xenófobas ou, até mesmo, inteiramente fascistas na atualidade, Michael Löwy ressalta que a crescente emergência desses movimentos tem se dado principalmente em países inseridos no processo de internacionalização da economia e da tecnologia. No ápice do neoliberalismo e, portanto, da transnacionalização do grande capital, as tecnologias e os meios de comunicação também se desenvolveram de modo que abarcasse as novas dimensões das demandas impostas pelos interessados nesta transnacionalização e em suas novas dinâmicas funcionais. Antes, se por um lado, os meios de comunicação operavam de maneira verticalizada, partindo de um para muitos, e sendo unidirecional – como os grandes jornais impressos e os canais de radiodifusão. A internet, por outro, se conforma como uma enorme rede digital de troca de informação maciça, sendo menos centralizada, horizontal e multidirecional. É o que Manuel Castells denomina como “Mass Self-Communication”. Devido ao interesse dos movimentos de direita e extrema-direita contemporâneos em trazer a política para o cotidiano, esses grupos aplicam seus investimentos em canais populares de difusão da informação. Assim, expandem sua ação para a mídia digital, por ser moderna, de fácil acesso, de custo relativamente baixo de produção e ilimitada capacidade de difusão.
Ao considerar o papel das historiadoras e dos historiadores na análise destes fenômenos, o objetivo do dossiê é refletir, conceituar e problematizar a questão do fascismo e das novas direitas, reunindo pesquisas que os discutam e identifiquem suas particularidades, rupturas, continuidades etc. Agrupamos, desta maneira, uma coletânea de seis artigos – que perpassam desde as experiências do século XX até o tempo presente, em distintas partes do Globo –, diretamente associados aos temas centrais. Devido a sua pluralidade, estas produções estão ancoradas em distintas visões e tradições teóricas, com vista a ampliar um rico e diverso debate.
Contamos, no primeiro bloco de artigos, com fascículos acerca da experiência alemã, de essencial importância para a temática. Os autores, habilmente, levantaram questões de extrema relevância para qualquer discussão acerca do nazismo alemão e seus estudos, feito de maneira criteriosa. Karina Fonseca em Como a democracia em Weimar morreu: antirrepublicaníssimo e corrosão da democracia na Alemanha e a ascensão do Nazismo, relaciona a derrocada da República de Weimar aos discursos e práticas políticas antirrepublicanas e antidemocráticas que circulavam durante o período. Luiz P. Araújo Magalhães, em Intelectuais de extrema direita e a negação do Holocausto nos EUA dos anos 1960, analisa a formação de uma rede de intelectuais de extrema-direita estadunidense em torno da prática de negação do Holocausto. O texto defende a hipótese de que essa negação incorpora, informa e é informada por valores, visões do passado, esquemas de percepção e hábitos de pensamento desse campo político. Dessa forma, essa falsificação do passado nazista aparece como criadora ou reprodutora de comunidades de sentido e unidades potenciais de ação.
Breno César de Oliveira Góes oferece uma rica aproximação interdisciplinar entre história e a literatura no que concerne à experiência do Salazarismo em Portugal, fortalecendo o tema deste dossiê com o artigo Os fascistas que liam Eça de Queirós: estratégias da propaganda salazarista em torno de uma celebração literária. O texto analisa o plano original das celebrações oficiais do primeiro centenário de Eça de Queirós em 1945 e os motivos que causaram os descontentamentos da base de apoio do regime em relação a esse projeto. Dessa forma, o autor traz à luz o estudo de ditaduras fascistas na Península Ibérica, muitas vezes posposto pelas produções do nazismo alemão e do fascismo italiano de Mussolini.
O segundo e último bloco de texto se articula a partir da temática do avanço conservador e a articulação da direita no Brasil. Com o delicado e necessário debate sobre a educação em tempos de conservadorismo brasileiro, Eduardo Cristiano Hass da Silva e Gabbiana Clamer Fonseca Falavigna dos Reis, analisam em Avanço conservador na educação brasileira: uma proposta de governo pautada em polêmicas (2018) a superficialidade e apresentação polêmica das propostas educativas presentes no plano do atual governo brasileiro e retomam a importância do papel do intelectual no Brasil.
Na esteira das análises sobre a ascensão do conservadorismo brasileiro, os autores Giovane Matheus Camargo, Pedro Rodolfo Bodê de Moraes e Pablo Ornelas Rosa trazem à tona a importância que a Internet e o ciberespaço tomaram no campo político na contemporaneidade. A (des)construção da memória sobre a ditadura pós-1964 pelo governo de Jair Bolsonaro analisa as estratégias no meio digital para a difusão de uma determinada memória, ancorada no revisionismo histórico que as novas direitas brasileiras têm defendido para sustentar seus projetos de sociedade.
Finalmente, apresentamos duas entrevistas de conteúdo mais estritamente teórico. A primeira, apresenta o diálogo entre o entrevistador Sergio Schargel e o pesquisador multidisciplinar neerlandês e filósofo cultural Rob Riemen. As perguntas, levantadas por Schargel, esclarecem a abordagem do diretor do Nexus Institute, que através de uma tradição teórica consistente e calcada no liberalismo, recuperar a importância do conceito de fascismo e sua utilização na atualidade. A segunda, realizada pelas organizadoras do presente dossiê, foi realizada com docentes de países, vivências e perspectivas teóricas diferentes. A professora italiana Fulvia Zega (Università Ca’Foscari Venezia), e a professora brasileira Tatiana Poggi (IH / UFF), relataram suas posições sobre a ascensão conservadora no mundo, as possíveis particularidades no contexto da América Latina, a utilização do conceito fascismo e neofascismo, bem como de outros aprofundamentos.
O dossiê Fascismos e Novas direitas, nesta edição da Revista Cantareira, nasceu em meio à pandemia do coronavírus (COVID-19), uma crise sanitária internacional que, no contexto brasileiro, ganha o reforço de um Estado suicidário, para fazer menção às palavras de Vladimir Safatle. Como em outros governos – que vêm demonstrando uma preocupação desproporcional com a Economia –, o Brasil pretere a vida humana em nome de uma pretensa preocupação com os números. O intuito, portanto, é contribuir com a análise de acontecimentos recentes, discussões teóricas pertinentes e recuperação histórica das ciências humanas em geral, essenciais para a compreensão crítica do mundo em que vivemos. Através das ilações dos nossos autores, percebemos que não somente há um avanço fascista na política mundial, mas um intento de consolidar uma narrativa conservadora sobre a sociedade civil e a política, bem como das organizações alternativas mais conservadoras. Estes aspectos não são uma novidade do século XXI; tampouco, algo exclusivo ao século passado.
Boa Leitura!
Bárbara Aragon – Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense.
Milene Moraes de Figueiredo – Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
ARAGON, Bárbara; FIGUEIREDO, Milene Moraes de. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.33, jul / dez, 2020. Acessar publicação original [DR]
Ideias e práticas econômicas no mundo atlântico: liberdade, circulação e contradições entre os séculos XVII e XIX / Cantareira / 2020
Ao longo das últimas décadas, o mundo atlântico e seus desdobramentos no campo conceitual tem, cada vez mais, ganhado destaque nas produções historiográficas. Há uma ressignificação na abordagem usada, em detrimento de certa historiografia tradicional, que admitia o mundo atlântico como uma barreira geográfica e política. Esta nova interpretação historiográfica se vale das conexões. Passa a ser entendido, portanto, como espaço de trocas, circularidades e trânsito de pessoas e ideias. Esse movimento teórico-conceitual encontra expoentes na historiografia internacional e nacional a partir dos anos 1980 e, ainda hoje, apresenta caminhos oportunos a serem explorados. O objetivo do dossiê não é se pautar em uma única historiografia ou autor, mas abrir espaço para um conjunto de trabalhos que compõem esse movimento intelectual.
O rompimento com os paradigmas de categorias de análise inflexíveis, como, por exemplo, a dualidade antagônica metrópole-colônia, foi um passo importante para a adoção de uma perspectiva renovada. Mas ainda é preciso romper com a universalidade de conceitos que, muitas vezes, são mobilizados de forma acrítica. Na formação do mundo atlântico, as ações e ideias eram muito mais complexas do que os conceitos tradicionais podem sugerir. Compreendendo a complexidade das relações intelectuais e das práticas econômicas, mostra-se imperioso pontuar as singularidades a partir das quais se conformam as ideias para além da realidade social, política e econômica europeia ao longo do tempo.
Os interesses que permeiam as pessoas e instituições que formam este novo cenário de uma primeira globalização traz à tona novas formas de pensar inauguradas com o contato entre os povos e a ascensão de uma latente ordem comercial que começa a tomar forma e constituir os ditames das políticas construídas na europa e no comércio ultramarino. Contudo, é importante atentar que esmiuçar o pano de fundo das empreitadas coloniais, em seus diversos aspectos, não é mitigar o processo de brutal dominação ocorrido.
O objetivo do presente dossiê não é apresentar contribuições de determinada corrente historiográfica. Trata-se, na verdade, de reunir trabalhos que, a partir de perspectivas teóricas diversas, dialoguem entre si e, ao mesmo tempo, expressem a complexidade de abordagens no cenário atlântico. Os artigos presentes no dossiê apresentam variações de temas e abordagens que a História Política e a História Econômica podem oferecer. Compreender a multiplicidade de interesses que formaram os impérios e as rotas comerciais na idade moderna – em seu lado micro e macro – torna-se, portanto, a proposta central deste dossiê. O trabalho de Steven Pincus é uma referência nesta questão, pois mostra a ineficácia de se trabalhar com conceitos totalizantes, como o “mercantilismo” e compreender as disputas internas que ocorrem no interior deste.
As novas interpretações historiográficas acerca do atlântico nos permitem questionar o papel das colônias como simplesmente replicadoras das políticas, práticas econômicas e pensamentos originados no cenário europeu. O conceito de “histórias conectadas”, proposto por Sanjay Subrahmanyan, coloca em evidência as conexões e supera a falsa ambiguidade de uma historiografia eurocentrada.
O dossiê contém cinco artigos que articulam temas de economia, ideias econômicas, administração estatal, cultural material e redes de poder. E provém uma dimensão do que está sendo produzido no sentido de aprofundar o debate da história econômica.
O primeiro destes, de autoria de Alice Teixeira, “Cultura material e o cotidiano do trabalho no Estado do Grão Pará e Maranhão no final do século XVIII e início do século XIX”, investiga – a partir de inventário e relatos de viajantes – como se dava a relação construída entre a dinâmica do mercado externo e as populações locais nas empreitadas agrícolas da região.
O artigo propõe uma visão ampla sobre o comércio regional, atenta à agência dos indivíduos, por meio da descrição de seus objetos O artigo seguinte, “Comércio de cabotagem e tráfico interno de escravos em Salvador (1830-1880)”, de Valney Filho, traz importantes observações sobre o tráfico intra e interprovincial, articulando o comércio de cabotagem e as companhias atuantes nesta dinâmica. A pesquisa aponta para a complexidade das dinâmicas sociais e econômicas na comercialização dos escravizados, por meio de um intenso trabalho com fontes.
O artigo de Débora Ferreira, “Uma bandeira da Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá vai aos domínios de Castela”, examinou, a partir de um estudo de caso, as redes de poder que compunham o cenário político e econômico colonial. Tratando da “bandeirinha sertaneja” em meados do século XVII, a autora demonstra as disputas de poder entre certos agentes e instituições que tinham interesse em negociações com a Coroa.
Diogo Gomes, por sua vez, no artigo “Rendas e encargos das finanças municipais: uma análise da atuação do Conselho Geral de Minas Gerais nos primeiros anos do Império do Brasil (1828-1832)”, propõe uma análise da atuação do Conselho Geral Províncias, especialmente em Minas Gerais. O autor mobiliza as atas do Conselho a fim de identificar as funções deste órgão administrativo e compreender sua atuação, enquanto instância intermediária entre as câmaras municipais e o poder central, diante de um novo sistema político estabelecido, com ênfase na dimensão econômica atribuída à cobrança de tributos pelos municípios e pelas províncias.
O artigo “A produção de café na Vila de São João de Itaboraí e sua comercialização em Porto das Caixas (1833-1875)” é escrito por Gilciano Costa. Trata-se de uma pesquisa de História Regional em que se pauta a formação socioeconômica de Itaboraí, por meio da cultura cafeicultora e seu comércio. A pesquisa empenhada apresenta fontes e dados diversificados de registros de época para remontar a trajetória do café na região.
Por fim, a entrevista realizada com o professor português, José Subtil, da Universidade Autónoma de Lisboa, partindo de sua trajetória acadêmica, elucida certos questionamentos concernentes às discussões historiográficas sobre as instituições e o aparelho jurídico e administrativo. Versa, também, sobre questões atuais da História enquanto conhecimento acadêmico, como a sua relação com o público e possíveis direcionamentos para a ciência histórica.
Leonardo Cruz – Graduando IH / UFF E- mail: lacoliveira96@gmail.com
Matheus Basilio – Graduando IH / UFF E-mail: matheusfernandesgb@gmail.com
Matheus Vieira – Graduado IH / UFF E- mail: vieiramatheus@id.uff.br
CRUZ, Leonardo; BASILIO, Matheus; VIEIRA, Matheus. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.32, jan / jun, 2020. Acessar publicação original [DR]
O esporte em tempos de exceção: práticas desportivas e ações políticas durante as ditaduras na América Latina no século XX / Cantareira / 2019
Sem abrir mão da interdisciplinaridade, o presente dossiê procura analisar os estudos sobre o esporte – e, de forma mais específica, sobre o futebol – existentes em tempos de exceção, durante as ditaduras na América Latina, no século XX. A história do esporte já superou a ideia de que seu campo de estudo pertencia, primordialmente, aos profissionais ligados exclusivamente à sua prática ou ao estudo delas, como os atletas e profissionais da educação física. O presente dossiê, nesse sentido, compreende o esforço de estimular e reunir trabalhos que trazem reflexões sobre a diversidade cultural de um fenômeno que, cada vez mais, requer diferentes campos de saberes para sua a compreensão. Antropólogos, sociólogos e posteriormente historiadores vêm, pelos menos desde a década de 1970, debruçando pesquisas sobre as práticas esportivas e suas ações culturais e políticas, bem como a maneira como essas ações se relacionam com o momento político vivido.
Revisitar o tema das relações entre esporte e os períodos ditatoriais durante o século XX, na América Latina, é, ao mesmo tempo, um desafio e um tema necessário. O Brasil, por exemplo, vivenciou durante 21 anos, um regime de exceção, marcado pela violência política e repressão às ações culturais, políticas, sociais e também esportivas, que impediam que a população se manifestasse e agisse livremente conforme seus desejos de expressão. Assim como diversos outros países da América Latina passaram por golpes e regimes que interromperam a experiência democrática e realizaram inúmeras ações autoritárias.
O cotidiano ditatorial tinha reflexos diretos nas ações esportivas e na vivência de clubes, atletas e torcedores desses países, impondo à eles uma nova realidade e a necessidade da criação de novas maneiras de expressão, manifestação e resistência para aqueles que discordavam da forma como o governo levava a cabo suas ações e eram, portanto, alvo de suas medidas repressivas. Nessas sociedades, marcadas pela ambivalência que nos fala Pierre Laborie, havia também aqueles que concordavam e apoiavam as práticas do governo, e tais indivíduos circulavam também no universo esportivo, fazendo ouvir suas propostas e pensamentos. Sejam dirigentes, técnicos, profissionais, atletas ou torcedores, muitos indivíduos compactuavam com a premissa ideológica do regime e, através do esporte, tinham sua voz ouvida.
Atualmente, a temática do esporte e a necessidade de discussão sobre o período de exceção que o Brasil e outros países latino-americanos vivenciaram ao longo do século XX estão presentes em diversos debates dentro e fora da academia; dessa maneira, se faz necessário abrir espaço nesse periódico acadêmico para que essas discussões tenham lugar de se realizar.
Os artigos que compõem este dossiê trouxeram à tona diversas temáticas e manifestações, que vão desde movimentos torcedores, como é o caso da Raça Rubro-Negra, do clube de Regatas do Flamengo, até ações mais diretas do governo, através de símbolos, como músicas e ações políticas mais diretas que visavam, grosso modo, conseguir o consenso através do esporte. Sendo assim, faz-se um convite aos leitores para uma imersão no mundo do futebol brasileiro em tempos de ditadura, possibilitando a percepção das continuidades e rupturas daquele momento do esporte para aquele que vivenciamos hoje, em tempos democráticos.
Encerrando esta edição e procurando percorrer um momento da história brasileira marcada por uma política de exceção, apresenta-se a entrevista com o ex-jogador de futebol Afonso Celso Garcia Reis, de codinome Afonsinho. Verifica-se, a partir de sua fala, que sua ação é um exemplo de que a repressão recaía sobre profissionais do esporte que se posicionavam um pouco mais à esquerda – ou que, pelo menos, não compactuavam abertamente com as práticas do regime. Afonsinho foi perseguido primeiramente pelo uso de uma barba considerada fora dos padrões da época, que, segundo ele, era apenas pretexto para cerceá-lo em função de seus posicionamentos políticos mais amplos e, posteriormente, tido como símbolo de luta quando da sua busca pelo fim do passe – instrumento que determinava a posse do jogador ao time de futebol para o qual atuava. Boa leitura!
Nathália Fernandes – Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal Fluminense.
Aimée Schneider – Doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense.
FERNANDES, Nathália; SCHNEIDER, Aimée. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.31, jul / dez, 2019. Acessar publicação original [DR]
Da justiça em nome d’El Rey: justiça, ouvidores e inconfidência no centro-sul da América Portuguesa | Claudia C. A. Atallah
O livro de Cláudia Cristina Azeredo Atallah – doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), professora do Departamento de História da mesma universidade e coordenadora do Grupo de Pesquisa Justiças e Impérios Ibéricos de Antigo Regime (JIIAR) que reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros afinados com o tema da administração da justiça – insere-se na interface entre a história do direito e a história da justiça. É preciso de imediato ter em mente a distinção entre os dois domínios: o direito como sendo uma manifestação das intenções gerais de ordem e a justiça tendo sua expressão em atos singulares e concretos. Em outras palavras, o direito é universal e a justiça é casuística [2].
Ao analisar o esforço das reformas impostas por Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, em conter as tradições políticas típicas do Antigo Regime na comarca do Rio das Velhas pela ótica de atuação dos ouvidores da coroa, a autora deparou-se com o movimento entre o direito, traduzido no conjunto normativo de ordens emanadas pelo centro, e a justiça, traduzida nas práticas cotidianas ocorridas além das decisões dos tribunais que caracterizavam a cultura jurídica nas Minas Gerais colonial em um contexto de transição entre o pluralismo jurídico e a modernidade jurídica.
O trabalho segue a trilha conceitual aberta pela abordagem de estudos do Antigo Regime nos Trópicos, retomando os modelos teóricos de “centro e periferia” proposto por Edward Shils (1992) e de “autoridades negociadas” proposto por Jack Grenne (1994), revisitados à luz de novos horizontes de pesquisa. Sendo assim, conceitos fundamentais como monarquia pluricontinental, economia do bem comum, economia moral de privilégios, redes clientelares e políticas são mobilizados nos oito capítulos que compõem o livro, pela ótica da ação da justiça. Atallah, portanto, alarga o tema ao mostrar a importância da conciliação e da política de negociação em um universo político marcado por conflitos de jurisdição, espaços mal definidos de poder e sobreposição de poderes em revelia às tentativas de centralização políticaadministrativa e controle sobre os oficiais régios que caracterizaram a nova prática do governo pombalino.
Cumpre destacar que os conflitos jurisdicionais entre as diversas instâncias do poder colonial têm-se mostrado como um dos temas da maior importância para o debate historiográfico recente. Longe de expressarem deformidades ou desordens conforme parte da historiografia afirmou durante o século XX, tais conflitos devem ser entendidos como mecanismos para distribuir poderes em territórios distantes do centro e não como uma anomalia do sistema. Expressavam o pluralismo jurídico do Antigo Regime e não interferiam na centralidade régia. De fato, esta discussão é fulcral para a análise da própria natureza do Império português, como bem mostra o posicionamento da autora ao demonstrar que a manutenção dos conflitos por parte da coroa não tinha como estratégia o caráter punitivo, mas sim o de institucionalizar a negociação.
A autora desenvolve o argumento central de que a Inconfidência do Sabará, episódio ocorrido em 1775 e que levou o ouvidor José de Góes Ribeiro Lara de Moraes à prisão, foi um produto das mudanças intentadas por Pombal e não resultado da desordem e da rebeldia peculiares à região. Essa tradição historiográfica, que tende a considerar as Minas Gerais como um universo distinto das demais áreas do Império português, nasceu da preocupação em definir e justificar o caráter nacional brasileiro mobilizando temas como a instabilidade das formas sociais, os paradoxos das estruturas administrativas e o processo incompleto de formação do Estado nacional racionalizado [3]. Em perspectiva distinta, Atallah entende que o “tom de rebeldia e de contradição torna-se mais compreensível se analisado como reflexo das práticas políticas cotidianas que alimentavam as relações clientelares e a busca pela cidadania nesse universo” (p.18).
Para os fins propostos, o livro está dividido em três partes. Na primeira parte, intitulada “As Minas setecentistas e o Antigo Regime: uma discussão acerca do caráter do poder”, Atallah discute os elementos necessários para entender a organização desta sociedade, cujo modelo político ancorava-se na filosofia jesuítica da nova escolástica que tinha como princípio a autonomia político-jurídica dos corpos sociais, sendo a justiça o fim lógico do poder. Concomitante ao desenvolvimento da nova escolástica, observou-se também um desenvolvimento cada vez maior das teorias corporativas do pensamento medieval e jurisdicionalista, cuja longa sobrevivência relaciona-se à presença sistemática dos padres jesuítas em todo o processo de colonização no ultramar.
Essas ideias forneceram o substrato moral e pedagógico responsáveis pela formação de uma elite jurídica destinada ao serviço régio e tiveram na Universidade de Coimbra e no Desembargo do Paço os principais redutos de legitimação e disseminação. No entanto, em meados do século XVIII, as reformas pombalinas viriam abalar profundamente as bases doutrinais que sustentavam o império e consequentemente as instituições que representavam o poder. A promulgação da Lei de 18 de agosto de 1769, a Lei da Boa Razão, foi a primeira iniciativa mais incisiva em relação às reformas no campo jurídico. À pluralidade das práticas jurídicas do direito consuetudinário vinha se opor a retidão do direito real.
As transformações do direito empreendidas pela Lei da Boa Razão encontraram ressonância nas reformas dos estudos jurídicos ocorridos na Universidade de Coimbra a partir de 1770. O objetivo era formar os futuros administradores da justiça portuguesa de acordo com a nova cultura jurídica e política e implantar um ensino prático, simples e metódico, “era o esforço em substanciar a nova razão de Estado almejada pelo ministério pombalino e que tinha como parte essencial a constituição do direito” (p.185). Para ter a dimensão do embate entre as reformas modernizantes e as tradições políticas no que tange às estruturas jurídicas, Atallah desenvolve na segunda parte “A dinâmica imperial e a comarca do Rio das Velhas no governo de D. João V”, um estudo sobre a atuação dos ouvidores na dinâmica imperial antes das reformas, durante o período de 1720-1725.
Este foi um período conturbado, aos esforços da coroa em implementar medidas de caráter fiscal e conter os distúrbios causados pela cobrança de impostos, somavam-se as exigências de importantes potentados locais. Foi também um período marcado por uma série de conflitos de jurisdição travados entre D. Lourenço de Almeida, governador das Minas, e José de Souza Valdes, ouvidor da Comarca do Rio das Velhas. À medida que os analisa, Atallah demonstra que os conflitos por jurisdição faziam parte de uma estratégia deliberada da coroa que, ao contrário de aniquilar seu poder, tornava-o possível em paragens distantes. Nesse Cantareira, sentido, a coroa não somente os mantinha como às vezes até mesmo os estimulava, sem se posicionar a favor de um ou outro oficial, favorecendo assim a institucionalização da negociação ao invés da punição.
Alinhada com a visão do estudo de José Subtil sobre o Desembargo do Paço, Atallah ressalta a importância dessa instituição como símbolo da essência político-administrativa do Antigo Regime, além de institucionalizar seu aparato jurídico. A partir do ministério pombalino, o Desembargo do Paço e seus homens assistiram a uma diminuição gradativa de suas competências simbólicas, pois “a centralização política impunha também a precedência do direito régio sobre o direito consuetudinário e, desse modo, a autoridade dos juristas ficava reduzida à aplicação das leis” (p.167). E é sobre isto, tomando como exemplo o caso emblemático da prisão do ouvidor da comarca do Rio das Velhas por crime de inconfidência, de que trata a terceira e última parte, “Tensões e conflitos: a época de Pombal e a inconfidência de Sabará”.
Com a ascensão do Marquês de Pombal após o terremoto que abalou Lisboa em 1755, a necessidade de concentrar as ações políticas em um só órgão concedeu preponderância ao Ministério das Secretarias de Estado. Nesse sentido, o Desembargo do Paço perderia a posição de núcleo da administração régia e assistiria a uma invasão de suas competências. No ultramar isto se refletiria em um controle maior dos oficiais régios, e os conflitos, até então comuns e tolerados, tornaram-se alvo do regalismo pombalino. O esforço em construir um governo centralizado e homogêneo resultou em uma verdadeira caça às bruxas, alijando do poder aqueles que não estivessem afinados com a política de fidelidade do Marquês. O Tribunal de Inconfidência assumiu um papel relevante na perseguição e punição aos vassalos infiéis. Foi este o caso do ouvidor José de Góes que assumiu o cargo de ouvidor em uma época de inúmeros debates sobre a arrecadação do quinto real.
Uma representação escrita ao monarca em 1775 denunciaria as relações de interdependência que envolviam alguns homens bons da comarca e o ouvidor, acusado de blasfemar contra Pombal. Iniciou-se então o desenrolar de uma rede trançada pelos poderes locais, cuja análise se constitui o cerne da discussão do livro. Atallah demonstra que em Sabará àquela época existiam redes de clientela que colocaram em lados opostos dois grupos constituídos pelos principais da terra. A acusação de crime de inconfidência que recaiu sobre José de Góes estava inserida na trama de uma desse redes que tinha raízes bem mais profundas. Dessa vez pesou o jugo controlador da monarquia administrada pelo Marquês de Pombal, representado pelo Tribunal de Inconfidência. O ouvidor virou inconfidente. A infidelidade ao novo ministério foi punida para que servisse de exemplo.
O instigante trabalho de Atallah abre inúmeras possibilidades e, por conseguinte, permite vários debates: a dificuldade em colocar o interesse do Estado acima dos interesses privados, a ideia de Viradeira, da qual a autora refuta, pois “acreditamos que os processos de transformação no percurso da história são lentos e de complexa assimilação” (p.252), a propagação do reformismo, tema que é comumente relacionado ao da identidade portuguesa e ao da decadência, dentre outros. Diante do ambiente em que se deflagraram os acontecimentos em Sabará, circunscrito em um processo mais amplo de transformação das relações entre a monarquia e seus súditos, capaz de revelar tensões e conflitos decorrentes do seu funcionamento, a autora conclui que a Inconfidência do Sabará foi um produto dos embates entre a tradição, traduzida na relutância dos oficiais do Desembargo em acatar as novas diretrizes, e a tentativa de modernização das estruturas jurídicas. Resenha recebida em 04/12/2018 e aprovada para publicação em 21/10/2019
Notas
2. Álvaro de Araújo Antunes. As paralelas e o infinito: uma sondagem historiográfica acerca da história da justiça na América Portuguesa. Revista de História, São Paulo, nº169, p. 21-52, julho/dezembro 2013; Álvaro de Araújo Antunes. Prefácio. In: Maria Fernanda Bicalho, Virgínia Maria Almoêdo de Assis, Isabele de Matos Pereira de Mello (orgs.). Justiça no Brasil colonial: agentes e práticas. São Paulo: Alameda, 2017.
3. Esta tradição historiográfica tem no paradigma da conquista soberana seu modelo interpretativo. Nele, a colonização, apresentada como um embate entre raças conquistadoras e conquistadas, pressupõe a legítima vitória da civilização europeia, a organização do mundo colonial conforme seus recursos materiais e espirituais, e a incorporação de elementos culturais dos grupos subjugados. Esta tradição historiográfica é devedora dos relatos das Minas setecentistas por seus contemporâneos, responsáveis por consolidar “o tema da afetação da gente dos sertões mineiros” e influenciar as interpretações posteriores. Atallah tem o cuidado em não conduzir esta discussão para uma dualidade ordem-desordem, seu caminho é o de reforçar a negociação. Para maiores informações sobre o paradigma da conquista soberana: Marco Antonio Silveira. Guerra de usurpação, guerra de guerrilhas. Conquista e soberania nas Minas setecentistas. Varia Historia, Belo Horizonte, nº25, jul/01, p.123-143.
Milena Pinillos Prisco Teixeira – Mestranda em História Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Bolsista CAPES. E-mail: milena_pinillos@yahoo.com.br
ATALLAH, Cláudia Cristina Azeredo. Da justiça em nome d’El Rey: justiça, ouvidores e inconfidência no centro-sul da América Portuguesa. Rio de Janeiro: Eduerj/Faperj, 2016. Resenha de: TEIXEIRA, Milena Pinillos Prisco. Entre o Direito e a Justiça: ecos da reforma pombalina na administração da justiça na comarca do Rio das Velhas (1720- 1777). Cantareira. Niterói, n.31, p. 92- 96, jul./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
Cultura escrita no mundo ibero-americano: identidades, linguagens e representações / Cantareira / 2019
Segundo Lucien Febvre e Henri Jean-Martin, o livro moderno surgiu a partir do encontro de dois fatores que, apesar de distintos, mantêm alguma ligação. Primeiro, foi necessário que o papel se firmasse enquanto mídia, o que não aconteceu antes do século XIV. Até então, as técnicas empregadas na produção das folhas, faziam com que seu preço fosse alto e sua qualidade inferior, mais frágil e pesado, com a superfície rugosa e repleto de impurezas. Concorrendo com o já estabelecido pergaminho de pele de carneiro, o novo material não oferecia aos copistas um suporte adequado para a transcrição de manuscritos, sugando a tinta, mais do que o necessário, e com possibilidades de duração limitada.[4]
O segundo fator apontado é a técnica de impressão manual, composta pela tríade: caracteres móveis em metal fundido, tinta mais espessa e prensa. Deixando a alquimia das tintas de lado, pela facilidade com a qual era possível produzi-las então, o grande avanço da época foi a composição em separado dos tipos móveis. Para cada signo fabricava-se uma punção de metal duro – composto de uma liga de chumbo, estanho e antimônio que variava de proporção conforme a região –, sob a qual se demarcava a matriz em relevo. Em metal menos duro moldavam-se as imagens em côncavo. A seguir, colocadas em uma forma se podia produzir os caracteres em quantidade suficiente para imprimir uma ou mais páginas. Sob a pressão do torno, o velino – pergaminho de alta qualidade, feito a partir de pele de bezerro ou cordeiro – não resistia à tensão imposta pela placa de metal que guardava os tipos. O papel, por sua vez, forçado à mesma pressão, continha a tinta mais espessa, apresentando uma nitidez regular de impressão. Eis o surgimento da indústria tipografia.[5]
Dos incunábulos impressos na oficina de Johann Gutemberg, em Mogúncia, até o final do século XVIII, o trabalho dos tipógrafos e impressores permaneceu o mesmo, com algumas pequenas alterações. A realização da segunda edição da Encyclopédie, a exemplo, seguia os “ritmos de uma economia agrária”, dependente da sazonalidade dos recolhedores de trapos e dos papeleiros.[6] Segundo Robert Darnton: “No início da Era Moderna, as tipografias dividiamse em duas partes, la casse, onde se compunham os tipos, e la presse, onde se imprimiam as folhas.”[7] Na composição alinhavam-se de forma manual e solitária um a um os tipos, formando linha a linha as placas. No trabalho de impressão eram necessários ao menos dois homens: um deles entintava as formas que estavam encaixadas sobre uma caixa móvel, com a prensa ainda aberta; o outro colocava a folha sobre uma armação de metal, onde eram fixadas as presas, e puxava a barra da prensa, fazendo o eixo girar em parafuso, produzindo uma das páginas. Terminada a resma, a atividade começava novamente, com a impressão no verso das folhas. Uma operação que requeria enorme esforço físico, tanto mais se tratando de uma tiragem grande. [8]
Portanto, até que se introduzissem efetivas mudanças técnicas, o período tratado compreende uma era de manufatura do livro. Entre o trabalho realizado pelos monges nos scriptoria e pelos copistas profissionais, que se instalaram sobretudo ao redor dos grandes centros e das universidades,[9] e a tecnologia adotada em 1814, com a prensa cilíndrica, e da força do vapor, a partir de 1830,[10] existe um intervalo de tempo no qual o trato com o livro é peculiar. Para os homens da época moderna, a relação com este objeto é diametralmente outra, opondo-se tanto daquela adotada pelos medievais, quanto da praticada hoje. O exame cuidadoso dos aspectos físicos era um expediente comum aos leitores do Antigo Regime. À qualidade das páginas era essencial uma espessura fina, de um branco opaco, com a impressão devidamente legível e em caracteres de bom gosto.[11] Uma preocupação material, de consumo, secular.
Junto à difusão dos livros, ocorreu a difusão dos formatos. Pouco a pouco, os pesados in fólio foram dando espaço a novos tamanhos, mais leves e com caracteres menores. Em pleno século XVII, quando a indústria já estava suficientemente estável, os impressores Elzevier lançaram uma coleção minúscula para a época, in-12, o que causou o espanto dos eruditos.[12] A partir de então, as pequenas edições invadiram o mercado com publicações in-12, in-16 e in-18. A predominância da literatura religiosa não cessou, mas o interesse por temas como Literatura, Artes e Ciências, nos circuitos legais, e literatura pornográfica, sátiras, libelos e crônicas escandalosas e difamatórias, que corriam nos circuitos clandestinos, só fez aumentar.[13]
A popularização de material impresso e a diversificação dos temas foram acompanhadas de um aumento do público leitor. A Europa experimentou um crescente processo de alfabetização entre os séculos XVII e XVIII. Analisando países como Escócia, Inglaterra e França, e regiões como Turim e Castilla (Toledo), o historiador Roger Chartier apontou, a partir de assinaturas em registros cartoriais, que a alfabetização demostrou avanços contínuos e regulares nesse período. E, na América, Nova Inglaterra e Virgínia, o movimento seguiu ritmos muito parecidos. Os ofícios e as condições sociais eram fatores determinantes para o ingresso, mesmo que de forma superficial, no mundo da escrita e da leitura. É quase certo que um clérigo, um notável ou um grande comerciante soubesse ler e escrever. Bem como, é quase certo que um trabalhador comum não dominasse essas habilidades.[14]
A imprensa não desbancou de imediato os textos manuscritos. A função e utilização dada à cópia e o público para quem ela se destinava, amplo ou restrito, condicionaram a forma de reprodução durante muito tempo. A sua imposição ocorreu devido à possibilidade de um aumento considerável da reprodução, ao barateamento do custo das cópias e a diminuição do tempo de produção de um livro. Cada leitor individual passou a ter acesso a um número maior de títulos e cada título atingia um número maior de leitores. Estes argumentos, porém, não justificam ou não explicam, por si, as “revoluções da leitura” experimentadas pelo Ocidente na época moderna. A mudança e aprimoramento das técnicas tiveram um papel relevante, mas não são as únicas determinantes.[1]5 Ao mesmo passo em que elas ocorriam, alteravam-se os paradigmas sobre as práticas de leitura e a epistemologia em relação aos livros. A revolução passou por dois movimentos. No final do século XIV, a leitura silenciosa se converteu em prática comum, ganhando um número cada vez maior de adeptos, e a escolástica foi perdendo força, tornando o livro um objeto dessacralizado, um instrumento de trabalho e de conhecimento das coisas do mundo. Segundo Chartier: “Essa primeira revolução na leitura precedeu, portanto, a revolução ocasionada pela impressão, uma vez que difundia a possibilidade de ler silenciosamente (pelo menos entre os leitores educados, tanto eclesiásticos quanto laicos) bem antes de meados do século XV”.[16]
Passou-se, gradualmente, do predomínio de uma forma de leitura intensiva, ler e reler várias vezes um número limitado de obras, decorando trechos, recitando e memorizando com um sentido pedagógico, até outra forma, extensiva. Tornava-se cada vez mais comum possuir alguns livros ou uma pequena biblioteca particular para estudo ou para lazer. Textos curtos, alguns efêmeros, impressos e manuscritos de hora, o comércio ambulante de livretos… em tudo contribuíram para esse novo costume. É sabido que as duas modalidades ocuparam o mesmo espaço de tempo e uma não fez desaparecer a outra, no entanto, as descrições, as pinturas, os escritos e outros testemunhos tendem a sublinhar a vulgarização dessa prática.[17]
Em estudo recente, publicado pelos psicólogos Noah Forrin e Colin M. MacLoad, do Departamento de Psicologia da University Waterloo, no Canadá, constatou-se que a palavra lida em voz alta aparece como uma atividade com “efeito de produção”. Ler e ouvir o que se está lendo, uma medida duplamente ativa – “um ato motor (fala) e uma entrada auditiva autorreferencial” –, faz com que os trechos ganhem distinção, fixando suas marcas na memória de longo prazo. Esta ação, realizada repetidas vezes operacionaliza a memorização de passagens longas.[18] Poemas da antiguidade ou do medievo, possuíam um sem número de versos que eram recitados, em maior ou menor proporção, por diversas pessoas e em diferentes locais. A leitura silenciosa (e extensiva), porém, implica em um vestígio distinto à lembrança, mais próximo da anamnese do que da fixação mnemônica.[19]
O resultado da pesquisa de Forrin e MacLoad pode ajudar a desvendar desencadeamentos que ocorreram no passado e que mudaram nossa relação com o livro. Por um lado, novos gêneros aparecem, uma forma narrativa mais alongada e menos rimada fez sentir sua presença: o romance.[20] Este, possui todos os aspectos necessários para agradar um leitor voraz, que folheasse um volume para seu entretenimento sem a preocupação de decorar passagens, mas, em alguns casos, o efeito foi justamente o contrário. Na lista dos best sellers da época moderna estão Nouvelle Héloise, Pâmela, Clarissa, Paul et Virgine, Souffrances du jeune Werther, Les aventures de Télémaque, dentre outros, novelas com capacidade de prender seus leitores por mais de uma sessão repetidas vezes.[21] Por outro lado, encadernados de caráter mais informativo, como os guias, as enciclopédias, os atlas históricos e geográficos, as cronologias, os almanaques, os catálogos, etc., ganharam cada vez mais espaço. Situação que provocava a queixa dos eruditos, como é o caso do suíço Conrad Gesner, que cunhou a expressão “ordo librorum”, mas não deixou de reclamar da “confusa e irritante multiplicação de livros”, provocada pelo significativo aumento dos números de títulos disponíveis no mercado.[22]
É sob esta arquitetura histórica que debruçam os estudos apresentados para a trigésima edição da Revista Cantareira, compondo o dossiê “Cultura escrita no mundo ibero-americano: identidades, linguagens e representações”. Fisicamente distante das metrópoles europeias, os súditos ibéricos instalados ou nascidos no continente americano não se furtaram a experimentar as consequências dessa nova invenção. Mais do que ler, eles refletiram sobre as ideias trazidas pelos livros e por outros impressos, transportados, muitas vezes, clandestinamente – “sob o capote”. Alguns assumiram uma postura conservadora diante das novidades; outros utilizaram as palavras como motivação para contestar a ordem social, a religião ou as autoridades estabelecidas. A historiografia brasileira avançou significativamente, nos últimos anos, sobre as temáticas abordadas aqui. Portanto, esses textos, ao mesmo tempo em que apresentam novidades relacionadas às pesquisas de historiadores em formação, nível mestrado e doutorado, também caminham por terreno consolidado.[23]
No artigo “A cultura epistolar entre antigos e modernos: Normas e práticas de escrita em manuais epistolares em princípios do século XVI”, Raphael Henrique Dias Barroso aborda os códigos e normas da escrita epistolar que circulavam os ambientes cortesãos do início do Quinhentos. Com base nas obras de Erasmo de Roterdã e Juan Luis Vives, o autor demonstra a presença destes códices nas missivas diplomáticas trocadas entre o embaixador D. Miguel da Silva e D. Manuel, monarca português entre 1469 e 1521.
O segundo artigo, intitulado “A incorporação de elementos da cultura escrita castelhana nas histórias dos códices mexicas dos séculos XVI e início do XVII” de Eduardo Henrique Gorobets Martins, mostra a importância que a cultura escrita possuía nas relações de poder no mundo ibero-americano. Longe de considerar os índios como vítimas passivas da colonização, o autor evidencia como diversos grupos indígenas, que se aliaram aos espanhóis contra os mexicas, se apropriaram da cultura escrita castelhana tanto com o objetivo de reescrever suas histórias a partir de novos vocábulos como se inserir na colonização para obter cargos e privilégios juntos aos espanhóis.
O artigo seguinte, de autoria de Caroline Garcia Mendes, também demonstra a importância da cultura escrita no campo político em um outro espaço: a monarquia portuguesa nos anos seguintes à Restauração de 1640. Intitulado “As relações de sucesso e os periódicos da Península Ibérica na segunda metade do século XVII: imprimir, vender e aparecer nos materiais de notícia sobre a Guerra”, a autora analisou duas dimensões do processo de profusão das notícias impressas em Portugal: a política e a econômica. Para tal, destaca a conflituosa relação entre impressores e cegos no que dizia respeito à circulação dos impressos. Do lado político, enfatiza a importância que certos feitos de alguns personagens adquiriam ao serem difundidos pela cultura escrita. No fundo de tal preocupação, estava a preocupação de se fazer ver diante de todos, especialmente do rei.
Em “Da devoção à violência: a atribuição da mentira como estratégia de discurso na Guerra Guaranítica”, escrito por Rafael Cézar Tavares, o exame recai sobre as estratégias discursivas de ambos os lados partidários dos eventos. Para tanto, o autor analisou três conjuntos documentais difusos: as cartas dos Guarani enviadas aos funcionários coloniais na iminência do enfrentamento; o relatório pombalino escrito já ao fim dos conflitos; e o Cândido de Voltaire, novela em que o protagonista visita o Paraguai no contexto da Guerra. Um estudo relevante acerca de um episódio pouco visitado pela historiografia geral, abordado pela chave da retórica como fonte de análise.
O artigo de Anna Beatriz Corrêa Bortoletto tem como centro a cultura escrita ao avaliar a confecção e a trajetória de um documento do século XVIII redigido por Luís Rodrigues Villares, um comerciante envolvido com a expansão da colonização no atual Centro-Oeste brasileiro. Inicialmente pensado como uma instrução para os comerciantes que atuavam na região, a autora demonstra com tal documento foi ressignificado a partir de sua trajetória e materialidade. Ao fazê-lo, destaca que, atualmente, o documento se encontra num códice com diversos documentos de autoria de Custódio de Sá e Faria, um engenheiro militar que também atuou na América portuguesa do século XVIII, em outras palavras, o documento era importante para a administração colonial. A partir disso, o artigo analisa que, provavelmente, o manuscrito analisado circulou até chegar às mãos do Morgado de Mateus, então governador de São Paulo, cujo um dos descendentes vendeu o códice que hoje pertence à Biblioteca Mario de Andrade em São Paulo que o adquiriu de um bibliófilo com o objetivo de preservar documentos que pudessem responder diversas questões referentes à história do Brasil, ou seja, diferentes temporalidades históricas conferiram diferentes significados ao manuscrito. Natalia Casagrande Salvador, em artigo intitulado “Cultura Escrita para além do texto: percepções materiais e subjetivas do documento manuscrito”, destaca a importância dos estudos da cultura material e da codicologia para a interpretação dos documentos históricos. A partir do Livro de Termos da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência de Mariana, nas Minas Gerais, a autora analisa o papel enquanto suporte, os instrumentos e a escrita, o conteúdo e as posteriores rasuras e correções.
O último artigo deste dossiê intitula-se “Entre Livros, Livreiros e Leitores: a trajetória editorial e comercial da Guia Médica das Mãis de Família” escrito por Cássia Regina Rodrigues de Souza. A autora borda os manuais de medicina doméstica por meio do Guia Médica das Mãis de Família, publicado em 1843 pelo médico francês Jean Baptiste Alban Imbert com o objetivo de instruir mães e gestantes. Ao investigar a trajetória editorial e comercial, a fim de discutir os possíveis leitores da obra, a autora demonstra que seu alcance ultrapassou os limites da elite alfabetizada imperial e penetrou, de diferentes formas, na vida de mães recém-paridas, comadres e parteiras.
Por fim, encerra nosso dossiê entrevista gentilmente concedida pela Dra. Ana Paula Torres Megiani, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e Livre Docente em História Social pela Universidade de São Paulo. Em resposta a quatro diferentes provocações, ela nos contou primeiro sobre sua trajetória e formação, indicando os caminhos que levaram às suas escolhas temáticas e as tendências da historiografia principalmente nos anos 1990. Na sequência, abordou a questão da circulação dos livros manuscritos na época moderna, salientando a recente atenção recebida por essa fonte. Para, então, tratar das influências do desenvolvimento da cultura escrita, entre os séculos XVI e XIX, no mundo iberoamericano como uma das bases de sustentação da administração imperial. E, no último bloco falou sobre os chamados “escritos breves para circular”, atribuição de tipologia documental que, segundo nossa leitura, evidência o surgimento de um novo “regime de historicidade”, como classifica François Hartog, ou uma nova “experiência de tempo”, conforme Reinhart Koselleck.
Esta edição conta ainda com dois artigos livres e uma resenha. O primeiro, intitulado “O materialismo histórico e a narrativa historiográfica”, escrito por Edson dos Santos Junior, aborda o problema da narrativa e do pensamento materialista histórico a partir da obra de Walter Benjamin. No segundo, intitulado “Aleia dos Gênios da Humanidade: escutando os mortos”, Cristiane Ferraro e Valdir Gregory tratam da comunidade conscienciológica sediada em Foz Iguaçu e os lugares de memória do grupo que a compõe. Mathews Nunes Mathias resenhou a obra Coração civil: a vida cultural sob o regime militar (1964-1985): Ensaios históricos (2017), escrita pelo historiador Marcos Napolitano.
Notas
- FEBVRE, Lucien; MARTIN, Henri-Jean. O aparecimento do livro. São Paulo: Ed; USP, 2017, p. 76-80.
- Evidentemente, o processo histórico não é tão linear e simples quanto esta exposição, apresentando múltiplas inconstâncias. Nossa intenção, porém, objetiva explicar de forma sintética o aparecimento de uma ferramenta que transformou o mundo de variados modos. Para uma exposição mais cuidadosa, cf.: Ibidem, p. 105-108ss
- DARNTON, Robert. O Iluminismo como negócio: A história da publicação da “Enciclopédia”, 1775-1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 14.
- Ibidem, p. 176.
- Idem.
- VERGER, Jacques. Os livros. In: Homens e saber na Idade Média. Bauru, SP: EdUSC, 1999; FEBVRE, Lucien; MARTIN, Henri-Jean. O aparecimento do Livro… Op. cit., p. 59-63.
- DARNTON, Robert. O Iluminismo como negócio… Op. cit., p. 189.
- Ibidem, p. 150.
- WILLEMS, Afonso. Les Elzevier: histoire et annales typographiques. Bruxelles: G. A. van Trigt, 1880, p. 109.
- CHARTIER, Roger. As revoluções da Leitura no Ocidente. In: ABREU, Márcia (org.). Leitura, história e história da leitura. São Paulo: FAPESP, 1999, p. 95-98.
- Chamamos genericamente de “registros cartoriais”, os documentos analisados por Chartier, cuja tipologia varia de certidões de casamento até contratos comerciais. CHARTIER, Roger. Práticas de escrita. In: CHARTIER, Roger (org.). História da vida privada. Vol. 3: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 114- 118.
- CHARTIER, Roger. As revoluções da leitura… Op. cit., p. 22-23.
- Ibidem, p. 24.
- CHARTIER, Roger. Uma revolução da leitura no século XVIII? In: NEVES, Lucia Maria Bastos P. (org.). Livros e impressos: Retratos do setecentos e do oitocentos. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2009, p. 93-95.
- FORRIN, Noah; MACLEOD, Colin M. This time it’s personal: the memory benefit of hearing oneself. Memory, [s.n.t.].
- Utilizamos “anamnese” no sentido expresso por Platão no Fédon, que é o mesmo retomado pela medicina moderna, no qual a experiência é reconstituída pela consciência individual, por meio dos sentidos, como uma ideia; ao contrário da mnemônica, que se refere a um conjunto de técnicas para gravar de forma mecânica um conteúdo.
- CHARTIER, Roger. As revoluções da leitura… Op. cit., p. 26.
- Ibidem, p. 95-96
- BURKE, PETER. Uma História Social do Conhecimento. Vol I: de Gutemberg a Diderot. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 97; BURKE, Peter. Problemas causados por Gutenberg: a explosão da informação nos primórdios da Europa moderna. Estudos Avançados, São Paulo, v. 16, n. 44, p. 173-185, abr. 2002, p. 175; CHARTIER, ROGER. A ordem dos livros: Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. Brasília: Editora da UnB, 1994.
- Por ser profusa, evitamos listar a produção de historiadores brasileiros. O ato de enumerá-los, mesmo considerando somente os mais relevantes, seria exaustivo e injusto, pois em toda seleção sempre há esquecimentos por descuido ou por cálculo. O leitor interessado, de todo modo, estará bem informado consultando a bibliografia apresentada em cada artigo publicado adiante.
Claudio Miranda Correa – Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Gabriel de Abreu Machado Gaspar – Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense.
Pedro Henrique Duarte Figueira Carvalho – Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense
CORREA, Claudio Miranda; GASPAR, Gabriel de Abreu Machado; CARVALHO, Pedro Henrique Duarte Figueira. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.30, jan / jun, 2019. Acessar publicação original [DR]
Coração Civil. A vida cultural brasileira sob o regime militar. 1964-1985. Ensaios históricos | Marcos Napolitano
Os estudos mais recentes do historiador Marcos Napolitano, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade de São Paulo (USP), têm se tornado indispensáveis para aqueles que pretendem alçar voo em pesquisas sobre o processo de militarização da ditadura brasileira. Nos últimos anos, o autor vem se dedicando a um balanço histórico do regime militar no Brasil e aprofundando o debate sobre os deslocamentos de sentido das diferentes memórias produzidas e cultivadas sobre o período autoritário.[2] Tal esforço ficou evidente com o livro 1964: História do Regime Militar Brasileiro, lançado em 2014, exatamente 50 anos após o golpe de 1964.[3]
No entanto, Coração Civil vem coroar anos do trabalho que o autor vem realizando, pelo menos desde o doutorado, no campo da cultura de oposição à ditadura por meio da MPB, do cinema e do teatro. Nesse sentido, o livro retoma questões levantadas pelo próprio Napolitano na sua tese, publicada em livro em 2001,[4] e se une ao Brasilidade Revolucionária do sociólogo Marcelo Ridenti,[5] no intento de elaborar reflexões relevantes para a compreensão da resistência cultural no Brasil.
Logo de início, Napolitano busca reposicionar a cultura no campo de oposição e resistência ao regime militar brasileiro, principalmente após o AI-5, quando ela parece simplesmente ser colocada para escanteio. Assim, o autor se propõe a identificar o quanto os dilemas vividos no seio das diferentes oposições culturais traduziam as contradições e desafios da própria resistência política. Para isso, são apresentados quatro grandes grupos de atores na arena político-cultural: os liberais, os comunistas do PCB, os grupos contraculturais e a “nova esquerda”, surgida nos anos 1970. A partir da separação didática desses quatro grupos, Napolitano procura apontar convergências e divergências, que ajudem a explicar porque prevaleceu na memória social uma imagem de resistência cultural de consenso entre as mais diferentes tendências artísticas, sob uma percepção pouco aberta às clivagens da vida cultural que pulsava no coração civil das oposições ao regime.
Valendo-se das tipificações apresentadas por Roderick Kedward[6] para caracterizar as ações e movimentos de resistência, Napolitano procura entender quais valores marcaram a resistência ao regime militar brasileiro, qual o papel dos mediadores e das instituições na afirmação das resistências ao regime e quais os resultados, sobretudo no plano cultural e estético, do culto à inversão de valores defendidos pela direita militar encastelada no Estado pós1964. (p. 32)
Com esse aporte teórico, o autor procura complexificar o debate sobre as dinâmicas de apoio e resistência à ditadura, que nos últimos anos acabaram gastando muita tinta com um binarismo, que por vezes, não serve à análise histórica. Desta forma, a organização dos capítulos segue uma lógica cronológica, mas também teórica, que pretende dar conta das várias facetas da vida cultural sob a tutela autoritária, assumindo um caráter ensaístico com vistas a suscitar menos conclusões e mais reflexões.
O livro está dividido em nove capítulos: o primeiro apresenta os diferentes atores culturais e suas estratégias elaboradas ao longo do regime; o segundo detalha as ações e debates artístico-culturais da oposição, especialmente o campo teatral, formuladas entre o golpe e o AI-5; o terceiro aponta os impasses de cada grande grupo de oposição no baile das cinco artes (com destaque para o cinema, a música popular e o teatro); o quarto discute as lutas culturais entre os comunistas e os contraculturais a partir da ideia de vazio cultural que surge no início dos anos 1970; o quinto problematiza as políticas culturais de oposição assimiladas pelo Estado e o jogo de acomodações costurado pelos comunistas no contexto de abertura do regime; o sexto analisa o debate sobre as “patrulhas ideológicas” que ganhou capas e manchetes de jornais, revendo o papel do artista-intelectual e esgaçando qualquer possibilidade de aproximação entre a velha e a nova esquerda já no contexto da luta pela anistia e da “invenção de honras e futuros”;[7] o sétimo se debruça sobre as novas perspectivas culturais e políticas propostas pela “nova esquerda” sintetizada na proposta de criação do Partido dos Trabalhadores, ao final dos anos 1970; o oitavo faz um balanço dos diferentes caminhos que a cultura segue durante o processo de redemocratização e por fim, o nono dedica um precioso espaço de reflexão para as “batalhas de memória” no seio da resistência cultural.
Para a historiografia da cultura brasileira que tem se estabelecido nos últimos dez anos, talvez os três primeiros capítulos não suscitem grandes questões, embora o exame do conceito de resistência seja fundamental para o início de qualquer debate no campo das oposições ao regime militar brasileiro. Ainda assim, a análise dos diferentes níveis de consciência em torno da ideia de resistência político-cultural, desde posições ideológicas estratégicas e doutrinárias até posições táticas e conjunturais, continuam tendo o seu valor na discussão a respeito da complexidade de ações e posições assumidas pelos resistentes. As lutas culturais entre comunistas e contraculturais, analisadas no quarto capítulo, ganha ainda mais corpo com o questionamento da cultura nacional-popular pela vanguarda e pela cultura popular da “nova esquerda”, demonstrando o quanto o processo de esfacelamento do nacional-popular se confunde com a própria história da resistência cultural no Brasil.
Por outro lado, os grandes problemas se situam a partir do quinto capítulo quando o debate a respeito das tensões e negociações do regime e o campo cultural, envolve o Estado, o mercado e os produtores culturais de esquerda, juntos em nome da necessidade da defesa de uma “cultura nacional” e da valorização do “produto brasileiro” (p. 234). Nesse campo minado para o debate em que os extremos (controle e cooptação) aparecem como os atalhos muito tentadores, Napolitano, mais uma vez, opta por conferir maior complexidade a esse debate indagando por que a pretensa “hegemonia” da cultura de oposição nos segmentos sociais mais influentes (setores da burguesia e da classe média) não se traduziu numa organização social e política eficaz para “derrubar a ditadura”. (p. 235)
Questões como essa não são fáceis de serem respondidas e, nem mesmo o próprio autor busca respondê-las de forma definitiva, mas aponta caminhos interessantes para se pensar saídas para esses problemas ao analisar com mais vagar os interesses de cada grupo e os seus impasses, sem perder de vista o fato de que, apesar da especificidade das relações do regime brasileiro e a cultura de oposição, ainda se vivia sob o arbítrio e o terrorismo de Estado.
O quadro de confusão sintetizado pela polêmica das “patrulhas ideológicas” abordada no sexto capítulo, lança luzes sobre o quanto o campo cultural ainda estava associado ao campo político no contexto de abertura e de crise profunda da arte engajada e do frentismo como estratégia de oposição ao regime. Enquanto apontavam-se patrulheiros e assumiam-se patrulhados, o mercado ganhava cada vez mais força, tanto à direita quanto à esquerda. Talvez a reflexão mais instigante – e necessária – de todo o livro esteja exatamente na identificação das políticas culturais da “nova esquerda”. Muitas lacunas permanecem. Napolitano consegue traçar em linhas gerais as diferenças entre a proposta de cultura popular da “nova esquerda” e a velha estratégia de frentismo cultural da “velha esquerda” e as disputas entre os intelectuais que acabam migrando do PCB para o PT nascente. No entanto, existe a necessidade de reflexões mais aprofundadas sobre o processo de formulação da chamada cultura popular da “nova esquerda”, que não se inicia nos anos 1970, mas já corre nas margens do cotidiano antes mesmo do golpe de 1964.
Por fim, o debate sobre a memória da resistência cultural ainda muito impregnado de certa hegemonia aliancista, aglutinando liberais e comunistas sob uma mesma resistência democrática, continua a suscitar reflexões sobre a real existência de uma hegemonia cultural de esquerda, bem como os seus limites e seus legados. Se não responde essas questões diretamente, Marcos Napolitano oferece um importante ponto de partida para quem deseja entrar no campo de batalha das memórias de resistência cultural, a partir da desmistificação de algumas percepções cristalizadas na memória social do período.
Napolitano questiona a ideia de que a arte engajada tinha uma hegemonia limitada a pequenos grupos de consumo, restrita a classe média brasileira, historicamente conservadora. O autor não entende que a dimensão quantitativa seja suficiente para pensar o alcance da cultura de esquerda e rejeita certa concepção que parece confundir maioria com hegemonia, sem atentar para o fato de que as bases sociais radicalmente democráticas não permitiram que a revolução cantada nas músicas ganhasse as ruas.
O autor também rejeita a ideia de que a massificação da cultura, via mercado, seja responsável por um suposto esvaziamento da crítica ao regime e que os artistas de esquerda possam a ser enquadrados em meros produtos de entretenimento a partir dos anos 1970. Napolitano prefere apostar nas complexas interações entre a produção cultural de esquerda, mercado e militância para evitar que se esqueça da dinâmica dos militares em busca de uma classe média crítica ao regime e o maniqueísmo que resiste em considerar a televisão, por exemplo, como espaço exclusivo de alienação e transmissão de lixo cultural.
Napolitano também relativiza a ideia de que o regime autoritário brasileiro tenha sido capaz de interromper os batimentos do coração civil da vida cultural. Em que pese a força do tripé repressivo, o Estado militarizado também buscou desenvolver uma política cultural proativa, aproximando-se e afastando-se dos artistas de esquerda. O autor, principalmente no quinto capítulo, demonstra como o mecenato oficial e a repressão conviveram de maneira tensa e contraditória, mobilizando diferentes grupos e interesses dos militares, dos empresários liberais e dos artistas de esquerda.
Enfim, Napolitano procura reconciliar uma dicotomia, há muito difundida e adotada ainda nos debates historiográficos, que opõe o nacional-popular e a vanguarda cosmopolita como inimigos eternos. O autor consegue demarcar de forma brilhante um campo comum de debate entre as duas correntes, para além das visões opostas sobre o papel do intelectual e da arte. Napolitano conclama os historiadores a adentrarem por um portal de mistérios ainda desconhecido das relações entre o nacional-popular e a vanguarda brasileira, deixando de lado as acusações mútuas e as simplificações elaboradas por ambas as correntes, há, sem dúvida, um tesouro perdido a ser encontrado.
Porém, ainda há mais um tesouro por encontrar. A memória da nova esquerda ainda carece de um mapa mais detalhado que aponte para a origem das suas derrotas. Talvez o processo que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016 sirva como um bom estímulo ao evidenciar as consequências das estratégias de acomodação adotadas pelos governos petistas e a combinação explosiva entre uma crise econômica, a ascensão rápida e marcante das direitas, a campanha anticorrupção da Operação Lava-jato, o declínio do projeto petista/lulista, abandonado pelas elites econômicas que o haviam apoiado, além da manipulação das informações orquestrada pela grande mídia.[8] Por ora, devemos celebrar a importância do trabalho de Marcos Napolitano ao pavimentar caminhos já percorridos até aqui e apontar belíssimos horizontes de pesquisa. Coração Civil preenche com maestria a necessidade de um grande trabalho sobre a resistência cultural ao regime militar brasileiro. Cabe aos próximos estudos, trabalhar para que esse coração continue batendo.
Notas
2. Cf. REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
3. NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2014.
4. NAPOLITANO, Marcos. “Seguindo a canção”: engajamento político e indústria cultural (1959-1969). São Paulo: Annablume/Fapesp. 2001.
5. RIDENTI, Marcelo. Brasilidade Revolucionária. São Paulo: Editora Unesp, 2010.
6. KEDWARD, Roderik. “La resistance, l’histoire et l’anthropologie: quelques domaines de la theorie”. In: GUILLON, Jean Marie et LABORIE, Pierre (eds.). Memoire et Historie: La Résistance. Toulouse: Éditions Privat, 1995, pp. 109-120.
7. ROLLEMBERG, Denise. “História, memória e verdade: em busca do universo dos homens”. In: SANTOS, Cecília MacDowell; TELES, Edson Luís de Almeida; TELES, Janaína de Almeida (orgs.). Desarquivando a ditadura: memória e justiça no Brasil. Vol. 2. São Paulo: Hucitec, 2009. p. 7.
8. Cf. MOTTA, Rodrigo Patto Sá. O lulismo e os governos do PT: ascensão e queda. In: FERREIRA, Jorge & DELGADO, Lucília A.N.. (Org.). O Brasil Republicano 5. 1 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018, v., p. 415-445.
Mathews Nunes Mathias1 – Graduando em Licenciatura em História na Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: nunes.mathias@outlook.com
NAPOLITANO, Marcos. Coração Civil. A vida cultural brasileira sob o regime militar. 1964-1985. Ensaios históricos. São Paulo: Intermeios, 2017. Resenha de: MATHIAS, Mathews Nunes. Resistência cultural sob arbítrio: a busca por um tesouro perdido? Cantareira. Niterói, n.30, p.145-149, jan./jun., 2019. Acessar publicação original [DR]
A Sociedade dos Amigos dos Negros: a Revolução Francesa e a Escravidão (1788-1802) | Laurent de Saez
A obra “A Sociedade dos Amigos dos Negros”, escrita pelo historiador Laurent de Saes, traz o debate sobre a escravidão nas relações entre a França do período revolucionário e as colônias francesas da América, sobretudo, de Saint Domingue. Dentro dessa limitação espaço-tempo, o autor apresenta a primeira sociedade antiescravista francesa, designada como a Sociedade dos Amigos dos Negros, como um grupo criado e liderado, incialmente, por Jacques-Pierre Brissot de Warville, Étienne Claviére e Mirabeau e, posteriormente, com a adesão de outros ativistas, na França, em 1788, que realizava uma campanha em favor do abolicionismo e uma transformação gradual do sistema colonial, sob os auspícios da nova ordem, jurídica e ideológica, do período pós Revolução Francesa.
O livro traz um panorama da escravidão e suas contradições internas, dentro da relação metrópole-colônias, mostrando o impacto da Revolução Francesa e de seus ideais sobre a questão do abolicionismo e da relação entre metrópole-colônia. A defesa da liberdade, igualdade e fraternidade, princípios revolucionários liberais, foram incapazes de levar a abolição às colônias, ao contrário, por conta disso, fomentaram lutas de classe e revoltas violentas de escravos, ansiosos por independência e a emancipação. Para tanto, o estudo é estruturado em 03 (três) partes, compreendendo o período de 1788 a 1802, lapso temporal a partir da fundação da Sociedade dos Amigos dos Negros, passando pelo abolicionismo, pelas revoltas coloniais, até o restabelecimento da escravidão.
A primeira parte, intitulada “A revolução francesa diante da escravidão negra”, aborda as bases do pensamento da Sociedade dos Amigos dos Negros que defendia a tese, em seu programa inicial, da abolição do tráfico negreiro, a abolição gradual da escravidão, melhora das formas de tratamento dados aos escravos e um novo projeto colonial. Destaca-se o entendimento à época que a emancipação gradual da mão-de-obra escrava e inserção dos negros no sistema de trabalho assalariado seriam benéficos, tanto aos próprios escravos, em face da liberdade a ser obtida e melhores condições de vida, quanto aos próprios comerciantes coloniais e plantadores que obteriam uma maior produtividade e qualidade superior do trabalho. Os ideais da Revolução Francesa foram a base jurídica para argumentação abolicionista, contudo, a extensão de seus efeitos às colônias e os colonos e comerciantes franceses mostram-se barreiras de difícil transposição, visto que o sistema colonial do comércio e das plantations ainda eram consideradas as bases da economia.
A segunda parte do livro descreve como ocorreu a abolição da escravatura nas colônias francesas e seus principais fatores, favorecidas, principalmente, pela insurreição escrava nas colônias. A ascensão do abolicionismo radial, nascido a partir do levante em Saint Domingue, se inspirava no movimento da metrópole pela liberdade e igualdade, num mesmo momento que havia uma retomada da guerra entre França e Grã-Bretanha (1793), inclusive com a invasão inglesa das ilhas do caribe. Dentro desse contexto, a França foi pressionada a abolição da escravidão, sob o risco de perda das colônias.
A terceira e última parte nada mais traz do que a reação política ao movimento abolicionista, restabelecendo, paulatinamente, ao status quo. A ascensão do regime Consular, guiado por Napoleão Bonaparte, pautado pelos interesses da burguesia mercantil, trouxe uma política restauracionista e expansionista das relações coloniais, por conseguinte, o movimento abolicionista não conseguiu superar a forte atuação dos interesses do Estado nacional, na defesa dos seus interesses políticos e comerciais, culminado, inclusive, criando uma ordem constitucional segregada, em face a extinção do princípio da assimilação (1799).
Dentro desse arquétipo, pode-se notar que a obra foi desenvolvida a partir da concepção do materialismo histórico de Karl Marx e Friedrich Engels, uma vez que o autor traz, à fundamentação para sua tese, diversos documentos, manuscritos e impressos, a fim de consolidar e embasar o seu modo de pensar. Sendo assim, o texto se desenrola dentro de um processo progressivo e histórico, em que os conflitos de classe e as contradições internas se mostram latentes e no entro do debate. Trazemos, à questão que muito bem alicerça a adoção dessa opção metodológica, o paradoxo que era a tentativa de abolição da escravatura, sem, contudo, defender o fim modo de produção colonial como base da economia1. Ao contrário, a França, no período revolucionário ainda era pouco industrializada e extremamente dependente do modelo colonial. Inobstante isso, as contradições de classes também se faziam presentes, visto que, embora silenciada no período consular, a elite abolicionista e os movimentos populares e antiescravistas não deixaram de fomentar o embate interno contra a elite aristocrática e da burguesia mercantil, tanto que desaguaram nas Revoluções de 1830 e 1848 [2].
Nota-se que o autor apresenta causas múltiplas para esses acontecimentos, desde as contradições inerentes entre classes sociais, construídas dentro de um modelo das relações da escravidão e do pacto colonial, até as revoltas violentas dos escravos, o surgimento de um movimento, de cunho popular e abolicionista, na metrópole e as guerras revolucionárias. Portanto, devemos destacar as contradições mostram-se um tema fulcral ao debate, uma vez que a liberdade, um dos pilares da Constituição francesa, não atingiu as colônias, nos mesmos termos. A Constituição francesa declarou a abolição da escravatura, extensível às colônias [3], contudo, não foi aplicado, no ímpeto de impor ordem e controle colonial pela metrópole até que houve a reformulação do sistema, adotando uma dualidade constitucional [4]. Os grilhões do modo colonial impediam a liberdade do trabalho nas plantations, sob o argumento que impunha risco de fuga e escassez da mão de obra. Para equacionar o problema, adotou-se um regime híbrido que unia o trabalho compulsório e assalariado [5], mas não foi suficiente, tendo que chegar ao ápice a restauração da escravidão. Conforme podemos observar nos casos suscitados, à guisa de exemplos, os conflitos de classes e o modo de produção são características intrínsecas a obra e que impactam diretamente sobre a escravidão.
As discussões postas no estudo partem de uma extensa bibliografia francesa que rompia o silêncio da Revolução Haitiana, no período de descolonização no pós II Guerra Mundial. Cabe destacar que o debate historiográfico que emerge a obra do autor Laurent de Saes está situado na questão da continuidade ou não da escravidão do período revolucionário. Trazendo as ideias de Seymor Drescher [6], que defende que há uma temporalidade única e linear, ainda que separados em dois ciclos distintos, da escravidão no século XIX, tal qual o autor descreve na obra em questão. Portanto, nos dois grandes períodos abolicionistas seriam considerados como uma unidade histórica, dentro de “um mesmo processo histórico de aproximadamente cem anos” [7].
A outra interpretação sobre a escravidão, trazemos o autor Dale Tomich [8] para contrapor a visão acima exposta. Esse autor defende que há uma descontinuidade espaço-tempo entre o escravismo colonial e a escravidão do século XIX. Foi no período revolucionário, compreendido entre 1790 a 1820 que foram criadas as diversas condições para inaugurar a segunda escravidão, integrada ao desenvolvimento do capitalismo industrial e do mercado [9], uma vez que os espaços colônias ainda não estariam integrados plenamente na econômica capitalista mundial. Portanto, as revoluções europeias do longo século XIX significaram uma aceleração, tanto do tempo quanto do espaço, que permitiram modelar a escravidão, a partir da massificação de novos padrões de consumo e da mecanização do processo industrial, impostos pela Revolução Industrial.
Merece o devido comentário acerca de outro debate historiográfico em que as análises estruturais, mais amplas, foram deixadas de lado ao longo do tempo. Os estudos sobre a escravidão passaram o seu foco de investigações para casos mais circunstanciais, sob a visão dos subalternos. Embora não tenha sido totalmente abandonada a visão mais angular, foi somente na primeira década do século XXI que apareceram estudos mais alargados, seja através das diversificação dos países, das heterogeneidades culturais e eventuais conexões com o sistema-mundo, ainda que para estudar de forma comparativa as colônias unidas por um sistema de exploração colonial, mas separadas por um oceano [10].
A partir dessa percepção historiográfica, utilizando para tanto o pensamento de Eric Wiliams [11], que estabelece a conexão da escravidão com o colonialismo e com a Revolução Industrial. A partir desse enlace, o referido autor defende a tese que o escravismo caribenho como fomentador do acumulo de capital inglês e como este ultimo contribuiu para a extinção do escravismo, a partir da Revolução Industrial. Nota-se, portanto, que o papel da Inglaterra para o escravismo foi de suma importância, principalmente no mundo atlântico.
Partindo da premissa acima da importância do papel da Inglaterra na história da escravidão e do olhar mais abrangente da história da escravidão, devemos trazer a crítica à obra, o porquê o autor não trouxe o tema ao debate, uma vez que ele cita, por exemplo, que a sociedade dos Amigos dos Negros foi apresentada como uma filial da sociedade abolicionista inglesa [12], cita, também, o papel da Inglaterra nas Guerras Revolucionárias [13] e a ocupação britânica de ilhas caribenhas Guadalupe e Martinica) [14], sem, contudo, citar os efeitos da Revolução Industrial na França e as Colônias. Se pensarmos o objetivo da obra como o estudo sobre a escravidão nas relações entre a França do período revolucionário e as colônias da América, sobretudo, de Saint Domingue, ficaria difícil de não estabelecer elos mais aprofundados com a Inglaterra, quando o assunto fosse a escravidão.
Portanto, a obra “A Sociedade dos Amigos dos Negros” muito bem atinge o seu objetivo, permitindo analisar a escravidão dentro de uma relação dialética, mais abrangente e algumas das vezes contraditória, entre a França e as Colônias, sobretudo, Saint Domingue. O período, a partir da Revolução Francesa até o período consular, restou caracterizado pela atuação moderada da organização abolicionista, por meio de uma abolição do tráfico de escravos e da abolição de forma moderada, a permitir a absorção da mão de obra negra no mercado livre de trabalho, sem, contudo, romper com o sistema colonial. Todavia, ao deixar de analisar o papel da Inglaterra, dentro da percepção mais abrangente do autor, peca, visto que ele mesmo ressalta a participação inglesa na escravidão e nas relações, ainda que conflituosa, com a França e suas colônias.
Notas
1. SAES, Laurent de. A Sociedade dos Amigos dos Negros: a revolução francesa e a escravidão (1788-1802). Curitiba: Prismas, 2016, p.681.
2. Ibidem, p.684/688.
3. Ibidem, p.461.
4. Ibidem, p.542.
5. Ibidem, p.513.
6. DRESCHER, Seymour. Abolition: A History of Slavery and Antislavery. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
7. YOUSSEF, Alain El. Nem só de flores, votos e balas: abolicionismo, economia global e tempo histórico no Império do Brasil. Almanack no.13, Guarulhos May/Aug. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S2236-46332016000200205 , acessado 04-12-17.
8. TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Edusp, 2011.
9. SALLES, Ricardo. A segunda escravidão. Revista Tempo (Niterói, online). Vol. 19, n. 35. p. 249-254, jul-dez., 2013.
10. SECRETO, María Veronica. Novas perspectivas na história da escravidão. Revista Tempo (Niterói, online). Vol. 22 n. 41. p.442-450, set-dez., 2016.
11. WILLIAMS, Eric. Capitalismo e Escravidão. Rio de Janeiro: Americana, 1975.
12. SAES, op. cit., p.85 e 87.
13. Ibidem, p.649,655.
14. Ibidem, p.502.
Marcus Castro Nunes Maia – Aluno de graduação – História (UFF). E-mail: marcuscnmaia@gmail.com
SAEZ, Laurent de. A Sociedade dos Amigos dos Negros: a Revolução Francesa e a Escravidão (1788-1802). Curitiba: Prismas, 2016. Resenha de: MAIA, Marcus Castro Nunes. A escravidão no Império Francês no período Revolucionário. Cantareira. Niterói, n.29, p. 282- 285, jul./dez., 2018. Acessar publicação original [DR]
Nas Teias do Império: Poder e Propriedades no Brasil Oitocentista / Cantareira / 2018
Depois de um longo período de descrédito, os estudos em História Política voltaram ao centro dos debates historiográficos. Graças a um importante movimento de renovação ocorrido nas últimas décadas – como a descoberta e utilização de novas fontes e objetos de estudo, assim como de novas abordagens teórico-metodológicas–, pesquisas políticas antes consideradas esgotadas ganharam um novo fôlego. Um exemplo disso são os diversos trabalhos que propõem um novo olhar sobre o processo de construção do Estado e da Nação brasileira ao longo de todo o século XIX, nos mostrando que, apesar de clássico, o tema em questão é ainda um terreno fértil.
Profundamente relacionado ao contexto econômico-social em suas múltiplas facetas, o tradicional estudo das ideias, do pensamento e das práticas políticas foi revolucionado. Tanto as doutrinas – o liberalismo e o conservadorismo –, quanto as disputas partidárias que as materializavam em projetos de governo ganharam novas dimensões ao serem vinculadas às manifestações culturais e religiosas; aos diversos movimentos sociais que demandavam direitos; aos interesses ligados ao escravismo, a posse de terras e a modernização econômica; a preocupação de forjar uma história nacional no qual o progresso e a civilidade fossem possíveis; e a uma ação diplomática que lutava pela manutenção da unidade e das fronteiras políticas brasileiras.
Nesta perspectiva, cremos que os elementos supracitados orbitam em duas grandes temáticas que particularizam o século XIX: a liberdade e a propriedade. Como sabemos, essa centúria foi marcada pela disputa entre duas linguagens políticas – uma ligada ao Antigo Regime e a outra ao Iluminismo. Este embate marcou a construção de uma nova concepção de mundo, a Modernidade, que estava completamente entrelaçada ao surgimento do liberalismo. Impulsionadas por essas novas ideias, várias regiões do mundo iniciaram um processo de transformação de suas estruturas políticas, econômicas e sociais, o que gerou impactos, interpretações e usos variados.
Não à toa, é justamente no decorrer desse mesmo século que a maior parte das ex-colônias americanas iniciaram seu processo de emancipação política e, consequentemente, a construção dos seus Estados e de suas Nações. Segundo Hespanha, alguns elementos aproximam estes diferentes processos, como o surgimento de grandes Estados bem como de suas gestões, que envolviam a administração de grandes territórios, a implantação de uma nova soberania e de uma nova organização da vida política baseada nas ideias de cidadania e de direitos3.
No caso brasileiro não foi diferente. A independência do Brasil e a posterior formação de suas instituições políticas e de seus cidadãos conciliaram as ideias liberais modernas com a persistência de antigas práticas do Antigo Regime. Nesse sentido, apesar do liberalismo ser central em todo este processo, ele foi apropriado e transformado para adaptar-se às características sociais brasileiras, cujas bases eram a escravidão, o patriarcalismo e o clientelismo.
Se tais questões de âmbito político e social demarcaram – e seguem a demarcar – diversos estudos acerca do oitocentos no Brasil, não diferente foram aqueles que alçaram a propriedade como fio-condutor. Terras, escravos e direitos são algumas das assertivas que norteiam as diversas leituras sobre as dimensões da propriedade no país.
Como produto histórico, a propriedade é marcada por diversas percepções e distintas análises, muito embora seja vista, ainda hoje, como algo natural e, consequentemente, a-histórico. Na contramão dessa interpretação estão autores nacionais e estrangeiros que defendem uma acepção mais plural para o conceito e para as experiências históricas a ela vinculadas, consagrando o que pode ser definido como uma História Social das Propriedades.
No exterior, destacam-se as clássicas obras de E. P. Thompson [4] que, atualmente, se somam às ilações de Rui Santos e Rosa Congost [5], como também as da economista Elionor Ostrom [6]. Em relação ao Brasil, verificamos uma gama de historiadores e cientistas sociais que se debruçaram – e debruçam – sobre o tema.
Em O Rural à la gauche, a historiadora Márcia Motta resgatou as principais interpretações da esquerda sobre o mundo rural brasileiro na segunda metade do século XX. De Nelson Werneck Sodré à Maria Yedda Linhares, Motta apresentou quais eram as concepções sobre o campesinato e os latifúndios para os autores e, de forma particular, demonstrou as razões que levaram à criação da linha de História Agrária no país, como também as novas marcas interpretativas que surgiram a partir dela [7].
Estruturado em três grandes blocos, a 28ª. edição da Revista Cantareira é resultado de um conjunto de investigações recebidas de diversas partes do Brasil e do exterior. No dossiê temático, composto por dez artigos, são propostas reflexões sobre o poder e as propriedades no oitocentos, com enfoque nas relações de dominação e de conflito que demarcam este momento da história nacional. Na seção de artigos livres encontramos uma série de trabalhos originais de graduandos e pós-graduandos de diversas instituições do país, complementadas com as transcrições e resenhas submetidas e aprovadas. A entrevista desta edição foi realizada com a Prof.ª. Dr.ª. Márcia Motta, considerada a maior especialista sobre propriedades no Brasil e que coordena, atualmente, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia História Social das Propriedades e Direitos de Acesso.
O dossiê temático é iniciado pela discussão do artigo, Ânderson Schmitt. Em “Se não cuidarmos em conservar as estâncias, donde e como teremos o necessário para sustentar a guerra?”: as propriedades embargadas durante a Guerra dos Farrapos (1835-1845), o autor analisou o tratamento dado às propriedades rurais durante a Guerra dos Farrapos, entre os anos de 1835 e 1845 no Rio Grande do Sul. Desnudou, a partir da documentação contemporânea ao conflito, a ação dos grupos revoltosos em um contexto de ação restrita. Ainda em relação à atual região do Sul do país escreveu Vinícius de Assis. Baseado em inventários post-mortem e outras fontes, seu artigo intitulado Do porto às casas de sobrado: cultura material e riqueza nos inventários de negociantes (Paranaguá / PR, século XIX) descortinou a materialidade presente no cotidiano dos comerciantes de grosso trato e fazendeiros do Paranaguá.
A freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bananal foi a região investigada por Jessica Alves. Em Donas e Foreiras: Senhoras proprietárias de escravos e terras na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bananal de Itaguaí em meados do século XIX, a pesquisadora resgatou a atuação de mulheres proprietárias de terras e escravos nesta localidade, ao demarcar suas estratégias para manutenção ou ampliação de seus patrimônios.
As relações de poder são resgatadas no trabalho de Flávia Darossi. Em “Benefícios reais da Lei de Terras”: uma releitura política com base na experiência do termo de Lages em Santa Catarina, a investigadora esmiuçou a forma como o Estado Imperial adequou o seu projeto centralizador em correspondência com as elites regionais e locais a partir da Lei de Terras. Como forma de sustentar sua hipótese, tomou como objeto de estudo a municipalidade de Lages, Santa Catarina. Eder de Carvalho e Carlos Gileno também desnudam debates característicos do período de consolidação do Estado brasileiro em Poder Moderador e a responsabilidade jurídica e política: polêmica constitucional da segunda metade do século XIX, mas a partir de outra questão chave: a polêmica constitucional que envolvia o Poder Moderador.
Mirian de Cristo, autora de A Elite Imperial do Porto das Caixas: Saquaremas no poder, se preocupou em relatar a influência política e econômica da família Rodrigues Torres na Freguesia de Nossa Senhora Imaculada Conceição do Porto das Caixas, como também no que concerne ao Império brasileiro. Thomaz Leite, posteriormente, sintetizou suas ilações em “Resta só o Brasil; resta o Brasil só!”: A primeira proposta de emancipação do ventre escravo, sua recepção e discussão no Conselho de Estado Imperial (1866-1868). Em seu texto discutiu a liberdade de ventre a partir do projeto escrito pelo conselheiro de Estado Pimenta Bueno e resgatou as querelas que constituíram os debates abolicionistas.
À luz dos embates periodísticos escreveu Ana Elisa Arêdes o artigo Liberdade e acesso à terra: debates acerca da colônia de libertos de Cantagallo, Paraíba do Sul (1882- 1888). Fundamentada na percepção da imprensa como uma ferramenta de luta política, a pesquisadora recuperou o caso da colônia de libertos de Cantagallo, Paraíba do Sul, para destrinchar as diferentes percepções sobre a abolição, manutenção da escravidão e trabalho nas lavouras.
Para finalizar o dossiê contamos com as instigantes contribuições de Pedro Parga e Rachel Lima. Em A experimentação literária de Machado de Assis e o tema da propriedade da terra no XIX, Pedro Parga refletiu sobre a presença temática do conflito de terras e da crítica à visão senhorial sobre a propriedade territorial em duas obras machadianas. Rachel Lima em Senhores, possuidores e outras coisas mais: As múltiplas funções dos proprietários do rural carioca no oitocentos, se preocupou em discutir as diversas funções dos proprietários de terras do rural carioca, especificamente da freguesia de Inhaúma, para demarcar a posição privilegiada que lhes eram outorgadas em virtude dessa variedade de atribuições.
Em conclusão, esperamos que o leitor se beneficie dos diálogos propostos neste dossiê, ao adensar cada dia mais as reflexões que norteiam a questão do poder e das propriedades no oitocentos.
Boa Leitura!
Notas
- HESPANHA, Antônio Manuel. “Pequenas repúblicas, grandes estados. Problemas de organização política entre antigo regime e liberalismo” In.: JANCSÓN, István (org.). Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: UCITEC; Jundiaí: FAPESP, 2003.
- THOMPSON, E. P. Costumes em Comum. São Paulo: Companhia da Letras, 1998; THOMPSON, E. P. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- CONGOST Rosa, Selman, Jorge & Santos, Rui.”Property Rights in Land: institutional innovations, social appropriations, And path dependence. Keynote” in: Presented at the XVIth World Economic History Congress, 9-13 July 2012, Stellenbosch University,South Africa.
- OSTROM, Elinor, HESS, Charlotte. “Private and common property rights” In: BOUCKAERT, Boudewijn (ed). Property Law and Economics. Cheltenham, UK / Northampton, MA, USA: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 2010; OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990.
- MOTTA, Márcia. O Rural à la gauche: campesinato e latifúndio nas interpretações de esquerda (1955-1996). Niterói: EdUFF, 2014. Mais recentemente, no âmbito do INCT-Proprietas, reúnem-se pesquisadores de múltiplas áreas do conhecimento com o objetivo de analisar criticamente a propriedade enquanto instituição social.
Alan Dutra Cardoso – Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História Social na Universidade Federal Fluminense e graduado (bacharelado e licenciado) pela mesma instituição. Desenvolve projeto de pesquisa sob orientação da Profª. Drª. Márcia Maria Menendes Motta, atuando principalmente nos seguintes temas: História Social das Propriedades, Fronteiras Políticas, Segundo Reinado do Brasil Império, República de Nova Granada / República de Colômbia (séc. XIX), Patrimônio material e Educação. Foi intercambista na Universidad del Rosario, Colômbia, sendo contemplado com o Edital Mobilidade para América Latina UFF / DRI 18 / 2013. Integra a Rede Proprietas, hoje INCT – Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, projeto internacional: História Social das Propriedades e Direitos de Acesso (Disponível em: www.proprietas.com.br). É membro da comissão editorial da Revista Cantareira (www.historia.uff.br / cantareira) e bolsista do CNPq. E-mail: alandutra@id.uff.br
Luaia da Silva Rodrigues – Doutoranda e bolsista Capes pelo programa de Pós-Graduação de História da UFF. Possui graduação e mestrado pela mesma universidade. Especialista em História do Brasil Império, com ênfase nos seguintes temas: regências, Regresso, conservadorismo, liberalismo, Bernardo Pereira de Vasconcelos, identidades e partidos políticos. Atualmente é pesquisadora vinculada aos seguintes laboratórios de pesquisa: CEO, NEMIC e Primeiro reinado em Revisão e professora do pré vestibular social do Estado do Rio de Janeiro (PVS). E-mail: luaiarodrigues@gmail.com
CARDOSO, Alan Dutra; RODRIGUES, Luaia da Silva. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.28, jan / jun, 2018. Acessar publicação original [DR]
Lima Barreto: Triste Visionário | Lilia Mouritz Schwarcz
Importante historiadora de nossa atualidade, Lilia Moritz Schwarcz, desde os tempos de mestrado, se debruçou a estudar o período do século XIX e todas as questões que envolvem a abolição da escravidão e o cotidiano dos sujeitos escravizados. Professora de Antropologia da Universidade de São Paulo, é também docente visitante na Universidade de Princeton e editora da Companhia das Letras, onde coordena a seção de livros de não ficção e por onde foram publicadas todas as suas obras. Autora de livros como O espetáculo das Raças, Retrato em Branco e Negro e Brasil: uma biografia, Schwarcz lançou em 2017 o livro fruto de sua pesquisa dos últimos anos, cujo protagonismo ficou a cargo de um personagem que já aparecera antes em sua trajetória profissional, mas que nunca antes pudera se deter estudando: Lima Barreto.
Na época de escrever sua tese de doutorado, Schwarcz estudou a questão do darwinismo social – teoria debatida no início do século XX que afirmava a existência de diferenças profundas entre as raças humanas – onde surgiu a figura do romancista brasileiro como uma voz contrária à própria teoria, tirando todo o credo daquele que se tornaria um dos argumentos científicos em torno do surgimento do racismo. O contexto em que se fala é o da Primeira República brasileira, momento em que se prometeu a igualdade, mas também entregou a exclusão social de largas partes da população. Assim, o período tornou-se palco para muitas revoltas e manifestações a favor dos direitos sociais e civis, possibilitando a presença de indivíduos como Lima Barreto, que opinava, criticava, clamava por igualdade e por justiça, em nome de si mesmo e de todos os outros. O livro, cujo título ficou Lima Barreto: Triste Visionário, editado pela Companhia das Letras, foi lançado no início do segundo semestre de 2017, cuja data coincidiu com a ocorrência da Festa Literária de Paraty, importante evento do ramo editorial brasileiro e onde o autor homenageado na edição era Lima Barreto. Lilia Schwarcz e Lázaro Ramos, ator global, estavam presentes, debatendo e fazendo leituras sobre os escritos do romancista [1].
Tal qual se supõe uma biografia, Schwarcz sobrevoa toda a vida e trajetória do romancista, que viveu na passagem do século XIX para o XX e por meio de suas palavras, assumiu uma postura crítica diante da situação que o Brasil se encontrava. Desta forma, é logo na introdução que a autora realiza um trabalho cuidadoso, ao se postar, como pesquisadora, diante de seu objeto. Com uma linguagem capaz de transportar o leitor para o período em questão, Schwarcz narra as primeiras relações com Lima Barreto, tecendo os caminhos que levaram ela a querer escrever a obra. A maneira com a qual a mesma se coloca é quase que uma relação de amizade, pelo simples fato de querer entender a figura de Lima Barreto em todas as suas facetas. Não obstante, a pesquisadora deixa claro saber da existência da primeira e uma das principais biografias existente sobre Lima Barreto, publicada em 1952 com a autoria de Francisco de Assis. Nesse sentido, coloca o seu trabalho como fruto de suas indagações contemporâneas, em virtude da eclosão dos direitos civis e diferença na igualdade, além da presença de raça, questões já presentes nos escritos de Barreto em sua época. Consequentemente, faz uma relação com o fazer historiográfico, dizendo que o historiador desenvolve suas pesquisas com base nas perguntas de seu presente, tal qual afirmação de Lucien Febvre, citado por Schwarcz [2], onde o mesmo diz que a História é filha do seu tempo.
Triste e visionário: são os termos utilizados pela autora para caracterizar Barreto, e é nessa dualidade que a mesma vai desenvolvendo sua escrita. Utilizando-se de uma linguagem de fácil entendimento, possível de ser compreendida por estudiosos da área, mas também por leitores não acadêmicos, Schwarcz constrói a figura de Barreto como contraditória. Desse modo, afasta-o de uma possível heroicização, tornando-o apenas um homem de seu tempo. Narrando desde o seu nascimento até sua morte, a autora destaca, ao longo de dezessete capítulos, momentos e fases da vida do carioca. E nesse processo explora a atuação de Barreto nos mais diversos campos: desde a vida pessoal até mesmo a literatura e a política. Juntamente a isso, a historiadora procura tecer um contexto histórico, sempre partindo do cotidiano do autor, de tal modo a poder embasar o seu papel em meio a tudo aquilo. Logo, o leitor é convidado a realizar uma viagem pelo Brasil na passagem do século XIX para o século, num período de queda da monarquia e instauração de um novo regime. Por um lado, toda a expectativa pelo que um novo governo poderia trazer, incluindo mudanças na estrutura das cidades e o surgimento de novas práticas sociais e culturais. Mas, ao mesmo tempo, os problemas que a monarquia colocara e ainda persistiam no período republicano, dentre eles a própria questão dos sujeitos livres, mas que até pouco tempo eram escravizados.
Todo esse panorama é acompanhado de imagens e trechos de fontes da época, como jornais, incluindo crônicas, notícias, dando destaque muitas vezes aquelas escritas por Barreto. Deste modo, ao invés de tecer longos comentários e análises sobre, Schwarcz opta que o romancista fale, com suas próprias palavras, em momentos que julga necessário e relevante. Para facilitar ainda mais a leitura, cabe ressaltar o esforço no que tange o trabalho gráfico por parte da edição do livro, tornando a leitura ainda mais fluida e aprazível para o leitor.
A atuação de Lima Barreto, como já foi citado anteriormente, se deu por meio de colunas, romances e até a criação de periódicos, como é o caso do Floreal, que chegou às mãos de público carioca em outubro de 1907 e cujo diretor era Lima Barreto. Apresentava um formato pequeno e vinha com o objetivo de disputar o gosto dos leitores da cidade. O periódico refletia a postura crítica de seus membros, incluindo o próprio Barreto, diante da imprensa do período. Para os mesmos, os jornais em circulação no período atendiam a um público específico, sendo ele a burguesia, logo eram sensacionalistas. Dessa forma, não tinha preocupações mercantis e procurava apresentar as notícias de modo mais isento e próximo da população em geral. Isso acabou refletindo na trajetória do periódico, uma vez que não conseguia disputar espaço com os grandes impressos, sendo eles mais bem diagramados e que possuíam fotos, ilustrações, caricaturas e um projeto gráfico bem produzido. Outro alvo declarado era a Academia Brasileira de Letras, criada no período e que respeitava apenas uma “literatura muito pautada por regras gramaticais distantes da linguagem do povo” [3]. Apesar disso, é importante destacar que Lima Barreto tentara entrar algumas vezes na sociedade, não tendo sucesso em nenhuma delas.
A literatura foi outro ponto forte de sua atuação. Segundo Lilia Schwarcz, e que segue as análises de Francisco de Assis Barbosa, Lima Barreto tinha outros livros em preparo, mas decidiu lançar Recordações do escrivão Isaías Caminha com o objetivo de escandalizar. O romance narra a história do jovem Isaías, que chega à cidade grande cheio de esperanças de tornar-se doutor, mas acaba se deparando com o preconceito, a humilhação e a tristeza. É na narrativa que o autor representa algo que ele chamava de “’negrismo’: qual seja, uma projeção para o Brasil do movimento internacional de pan-africanos que, naquele momento, internacionalmente lidava com as dificuldades enfrentadas pela população negra no pós-abolição”[4]. Dessa forma, expõe com detalhes a cor de seus personagens, bem como o universo de constrangimentos que fazia parte do dia-a-dia dessas populações. Apesar do argumento envolvido no livro ser forte, o texto não foi recebido como era o esperado, também não se tornando um sucesso de crítica. Em vez de se deter na forte denúncia racial, presente em diversos momentos da obra, os críticos da época preferiram abordar a maneira como o livro tratou o jornalismo e as formas de sociabilidades literárias, e mais nitidamente, os periódicos. Tal postura “do contra”[5] acabou se repetindo ao longo de seus outros livros, sempre com um mesmo cunho: romance de crítica social. Lima Barreto queria provocar a intelectualidade carioca do período, e conseguiu tal feito.
Um terceiro campo de atuação que influenciou alguns outros foi a política, quando Lima Barreto se aproximou do anarquismo e das novas correntes libertárias, presentes no Brasil nas décadas de 1900 e 1910. Apesar de não ter se filiado, abertamente, a grupos ou clubes anarquistas, Barreto demonstrou interesse com as teorias que influenciavam colegas de geração e passou a veiculá-las em muitos de seus artigos. É nesse período que surge a tão lembrada sátira à Primeira República: Bruzundanga, que deu origem a um livro de mesmo nome, publicado após a morte de Lima Barreto. Na narrativa, o autor constrói um país fictício com diversos problemas sociais, culturais e econômicos, em que os ricos e incautos acumulam títulos acadêmicos e têm fama de eruditos.
Lilia Schwarcz sobrevoa a vida do escritor, destacando seus altos e baixos, seus feitos e suas polêmicas. A relação com a bebida, com os modernistas que vieram no mesmo período, com Monteiro Lobato e Machado de Assis e indo além até o seu triste fim, conforme palavras da própria historiadora, mostrando toda a construção posterior em torno de sua figura, o papel de Francisco de Assis Barbosa, primeiro biógrafo de Barreto são todos pontos destacados no desenrolar da escrita. Dessa maneira, dá um enfoque especial entre a relação entre Assis e Barreto, que se torna próxima, onde a imagem de ambos acaba se misturando. Isso se dá após a morte de Assis, quando sua esposa, d. Yolanda, doa a coleção de seu marido a José Mindlin, um grande bibliófilo brasileiro, e que por meio dela que Schwarcz tem acesso a boa parcela dos documentos de Barreto. É aqui que a autora traz a discussão de Pierre Nora, sobre lugares de memória, quando afirma que “qualquer objeto, qualquer documento, (…) só ganham sentido se incluirmos neles nossas lembranças e afetos”[6]. E de tal modo em que se teve o ganho de sentido entre Francisco de Assis Barbosa e Lima Barreto, teve-se o mesmo para com Lilia Schwarcz e seus protagonistas. Escrever um livro desses em tempos de discussões sobre preconceito e racismo levanta questionamentos que começaram no início do século XX e que permeiam a nossa sociedade atual. E que a partir da tomada de uma reflexão crítica sobre alguns pontos, podem dizer muito sobre nosso futuro. Desse modo, a impressão que se tem ao ler o livro é que a autora presta uma homenagem a um personagem tão importante na História de nosso país, deixando que o mesmo tenha um protagonismo e um reconhecimento tal qual deveria ser: triste e visionário.
Notas
1. Para ver mais: Acesso em: 16 nov 2017.
2. SCHWARCZ, Lilia. Lima Barreto: triste visionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p.16
3. Ibid., p.195.
4. Ibid., p.218.
5. Ibid., p.2345.
6. Ibid., p.508.
Lucas Krammer Orsi – Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina. E-mail: lucaskorsi@gmail.com
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste Visionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Resenha de: ORSI, Lucas Krammer. Lima Barreto em três tempos: passado, presente e futuro. Cantareira. Niterói, n.28, p. 231 – 234, jan./jun., 2018. Acessar publicação original [DR]
What is Global History?
Um dos temas mais discutidos nos departamentos de humanidades ultimamente é a História Global. Nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxão em geral, tem havido uma proliferação de trabalhos que procuram adotar a história global seja como uma perspectiva, seja como um objeto de estudo. Centros de pesquisa como o Center for Global history na Universidade de Oxford, o Institute for Global and Transnational History na Universidade de Shandong (China) e o centro para História global da Freie Universitat Berlin; publicações como o Global History Journal e o New Global Studies Journal [1] e ainda redes de pesquisadores tal qual a Global History Collaborative e a European Network in Universal and Global History demonstram o crescente interesse pela temática que aqui tratamos [2].
Para o historiador Sebastian Conrad, a História global nasceu da convicção de que os instrumentos que os historiadores vinham utilizando para explicar o passado já não eram mais suficientes. Há duas razões para isso, dois pecados originais das ciências humanas que foram formadas no século XIX. Primeiro, elas foram fundadas a partir de uma ideia de estado-nação, de um “nacionalismo metodológico”, isto é, uma tendência a considerar o Estado-Nação como unidade fundamental de análise. E o segundo pecado original seria o eurocentrismo, ou seja, a tendência das ciências humanas de ver a Europa como o motor da história mundial.
No entanto, não é possível dizer que os historiadores globais foram os primeiros a reagirem a essas limitações. Modelos de História-Mundo já existiam desde Heródoto, Sima Qian e Ibn Khaldun, pois eles produziram narrativas que pensavam a história de seus próprios povos mas também a de outros, mesmo que fossem para constratar civilização com barbárie. Mais recentemente, a História comparada, as teorias de sistema-mundo e os estudos pós-coloniais já desafiavam a compartimentalização arbitrária do passado.
Assim, se temos consciência das origens remotas das formas de pensar globalmente o passado, resta saber o que distingue a Global History dessas outras abordagens? O que, afinal, é a História Global? Essa é a questão que o livro de Sebastian Conrad busca responder.
Sebastian Conrad é professor de História na Freie Universität Berlin, interessado em abordagens de História global e transnacional, em História da Europa Ocidental, da Alemanha e do Japão. Outras publicações conhecidas suas são German Colonialism: A Short History e Globalisation and the Nation in Imperial Germany. Desde 2006, ao menos, o autor vêm publicando artigos, capítulos e livros de cunho teórico-metodológico sobre História global, como o que aqui tratamos, What is Global History?.
No primeiro e introdutório capítulo deste livro, o autor contextualiza brevemente o surgimento dessa abordagem, afinal, provavelmente não haveria História global sem globalização, e disserta sobre o por quê a maneira como os historiadores reconstrõem o passado está mudando, na medida da crescente integração do mundo presente. Além disso, ele aponta três variedades de História Global, a ver: História de Tudo, História das Conexões e História baseada no conceito de Integração.
Na sequência, em “A short history of thinking globally”, ele reconstitui a trajetória das formas de pensar a história para além das fronteiras nacionais, desde as narrativas ecumênicas na Antiguidade e Idade Média, na Época Moderna, a partir da hegemonia ocidental no século XIX, chegando até a World History do Pós-Guerra.
No terceiro capítulo, Conrad mostra como diferentes abordagens mais recentes contribuiram para construir visões do passado que ultrapassam a fronteira do Estado-Nação. Uma delas, a História Comparada, que busca olhar para similitudes e diferenças entre dois ou mais casos, bem como estabelecer conexões entre eles sempre que possível. Ainda, há a História Transnacional, surgida na década de 90, e que pode ser considerada uma mãe da Global History, pois já procurava abertamente transcender a o Estado-Nação. Adicionamos a teoria dos sistemas-mundo que não busca ver a nação, mas blocos regionais e sistemas como unidades primeiras de análise, enfatizando a integração de mercados (economia-mundo) e a integração política em extensos territórios (império-mundo). E, enfim, os estudos pós-coloniais e as modernidades múltiplas que contribuiram, cada um a sua maneira, para crítica ao eurocentrismo.
No capítulo 4, Sebastian Conrad finalmente oferece ao leitor uma definição de História Global enquanto uma perspectiva particular, distinta dos estudos pós-coloniais, da História Comparada e das modernidades múltiplas. Para ele, há um foco nos contatos e interações que marcam os trabalhos dessa corrente. A palavra-chave mais associada a essa linha é a “conexão”, porém a busca por redes e nexos globais não é suficiente para delimitar o que é História global. A Global History, além disso, explora espacialidades alternativas (parte de uma “spatial turn”), busca entender unidades históricas (civilização, nação, família, etc) sempre em relação a outras e é crítica, ou pelo menos auto-reflexiva, quanto à questão do eurocentrismo. No mais, os historiadores globais se distinguem pelo exame de transformações estruturais em larga escala e pela tentativa de rastrear cadeias causais a nível global. Essas são algumas mudança heurísticas que marcam a passagem dos antigos modelos de História-mundo para a atual História Global.
No quinto capítulo, o autor trata da relação entre História e integração global. Deve-se lembrar que História Global não é uma história da globalização, mas a integração global é o contexto em que o historiador, com essa perspectiva, trabalhará. Obviamente, o impacto das conexões a serem estudadas depende do grau de integração de sua época.
Na parte seguinte, Conrad disserta, em dois capítulos, a respeito do espaço e do tempo. Em primeiro lugar, existem algumas espacialidades privilegiadas para historiadores globais. Os oceanos, por exemplo, permitiram interconexões econômicas, políticas e culturais por toda história humana e as redes, enquanto partes amplas de estruturas de poder, são objetos comuns nesses estudos. Mas nem sempre história global quer dizer narrativas planetárias, é possível fazer uma micro- história do global, se quisermos olhar como processos amplos se manifestam localmente. Dessa maneira, uma consequência imediata de se transcender as fronteiras nacionais é ter que adotar uma outra periodização, é preciso periodizar o passado não só localmente, como também globalmente.
Nos três últimos capítulos, o autor se debruça sobre a questão dos “lugares de fala”, ao observar que, mesmo que historiadores queiram contar uma história global, eles sempre o fazem de uma origem geográfica em particular. Além disso, ele mergulha na noção de “world-making” do filósofo Nelson Goodman. E conclui, num dos capítulos mais interessantes do livro, fazendo uma sociologia da Global History, ponderando os seus impactos políticos, seus desafios e horizontes.
Um dos méritos do trabalho de Sebastian Conrad é encontrar a originalidade de cada abordagem que ele trata, sem perder de vista as semelhanças entre cada uma delas. Como é comum nos bons trabalhos de historiografia e História intelectual, ele consegue estabelecer a relação entre os objetivos de cada escolha metodológica (seu programa) e seus resultados nas obras mais representativas de cada uma, às vezes lançando mão de críticas e apontando os limites de algumas perspectivas.
Ademais, Conrad faz um percurso que coloca a História Global ao lado de suas antecessoras, a insere em seu contexto acadêmico e político e a distingue de outras correntes históricas também avessas ao “nacionalismo metodológico”. Neste sentido, podemos dizer que o autor responde a pergunta do livro “ O que é História Global?” tanto diacronicamente, ao investigar as raízes da Global History até as narrativas ecumênicas de Heródoto e de outros, bem como sincronicamente, ao destaca-la de outras formas contemporâneas de narrativas transnacionais.
Por fim, o autor considera e analisa as diferente maneiras de se fazer História Global, na longa e curta duração, na ampla e pequena espacialidade. Ele enxerga a Global History não como uma tentativa de se fazer uma história de tudo, em escala planetária, mas como um perspectiva que não necessariamente exclui outras abordagens históricas como a marxista, a micro- história, os estudos pós-coloniais, etc. Justamente por ser um paradigma abrangente, talvez a História Global possa se consolidar nos meios acadêmicos do Brasil e do mundo. Como Conrad afirmou em tom otimista no final de seu livro: “O gradual desaparecimento da retórica do global irá então, paradoxalmente, assinalar a vitória da História Global como um paradigma” (p.235).
Notas
1. Além disso, revistas importantes como a American Historical Review e a Past & Present têm cada vez mais publicado artigos nesse campo.
2. Nos Estados Unidos, por exemplo, a História global vem respondendo a demandas de inclusão étnica no âmbito do ensino de História tanto nos níveis escolares quanto no superior. As tentativas (nem sempre sem reações) de substituição de cursos de “Civilização Ocidental” e “História dos Estados Unidos” por cursos de “História Global” vão no sentido de construir narrativas que dêem voz a todo o conjunto de imigrantes que construiram o país. Para um panorama desse debate, ver: ÁVILA, A. L. “A quem pertence o passado norte-americano?: A controvérsia sobre os National History Standards nos Estados Unidos (1994-1996)”, Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p.29-53, jul. 2015.
Filipe Robles – Graduando em História pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: filiperobles@id.uff.br
CONRAD, Sebastian. What is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016. Resenha de: ROBLES, Filipe. Escrevendo e pensando a História globalmente. Cantareira. Niterói, n.28, p. 235-237, jan./jun., 2018. Acessar publicação original [DR]
A Redemocratização Brasileira e o Seu Processo Constituinte / Cantareira / 2017
No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo
voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição.
(Machado de Assis)
O encerramento dos anos 1980, dando lugar a última década do século, consagrou um marco para a história brasileira, servindo de palco para a retomada, pela sociedade, de uma série de movimentos sociais e culturais. As campanhas em torno de uma Anistia Ampla Geral e Irrestrita e pelas Diretas Já! são exemplos evidentes desse estado de mobilização transformadora – e essa mesma participação popular culminou na luta por uma Assembleia Nacional Constituinte (ANC), desaguando em uma etapa inédita na vida dos brasileiros. O processo constituinte trouxe reflexos de cunho cultural, social, político e jurídico, chegando ao seu ápice na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB / 88) – considerada, segundo expressão do constituinte Ulysses Guimarães, uma “Constituição Cidadã”.
Durante seus 18 meses de funcionamento, a ANC ocupou o centro do cenário político, mobilizando forças e atenções de agentes nas escalas políticas e populares. Os 584 dias que se seguiram à instalação da ANC de 1987-88 foram marcados por disputas e acordos, bem como por uma relação, sem precedentes, entre atores parlamentares e extraparlamentares. Segundo o cientista político Antônio Sérgio Rocha, estima-se que nove milhões de pessoas tenham passado pelo Congresso Nacional naqueles dois anos [2]. Porém, as mobilizações não ocorreram apenas durante a ANC; começaram bem antes, dentro e fora do Congresso, por meio do envio de cartas, telegramas e sugestões e caravanas, entre outras manifestações.
Uma série de desconhecidos se comprometeu com a Constituinte, ampliando a rede de atores que, até então, era composta quase que apenas por líderes políticos. Além dos partidos, inúmeras organizações da sociedade, como sindicatos e associações, dialogaram com a população acerca da Constituinte. O debate político incluía palavras de ordem e uma luta por um espaço visual para que permitisse colocar em evidência as mais diversas reivindicações. Neste contexto, foi criado o slogan “Constituinte sem povo não cria nada de novo”[3].
A compreensão de um fenômeno cultural só pode ser entendida em prisma histórico através da reconstrução do ambiente social e político onde ocorreu o debate. Logo, é preciso registrar que este período de transformações no cenário político foi marcado pela junção de duas forças: centrífuga, de dentro para fora, notadamente por meio da transição política conservadora, lenta e gradual, firmada através de acordos; e centrípeta, de fora para dentro, principalmente no que diz respeito à feitura da vindoura Carta Magna de 1988, baseada na participação popular. Em termos simbólicos, o processo de redemocratização visava ao equilíbrio da conjuntura, mas não às custas da herança institucional do passado. Contudo, em termos práticos, a mobilização popular foi o “x” da questão, equacionando a seguinte fórmula final: uma nova Constituição, elaborada por uma ANC que fora, por sua vez, pressionada pelas campanhas do próprio destinatário do documento final: o povo. Este, por seu turno, contribuiu fortemente para a confecção do diploma constitucional de 1988, impedindo, por meio da reivindicação de seus direitos, que o texto definitivo revelasse carga ainda mais conservadora.
Tendo em vista a coexistência inevitável, portanto, de forças opostas, contesta-se a ideia de que a transição esteja relacionada exclusivamente à operação do sistema político, que enfatiza as instituições e a negociação entre os parlamentares, deixando de analisar o papel dos movimentos sociais e sua relação com o Estado. É preciso abandonar o enfoque exclusivo da faceta da democratização relacionada às instituições políticas para abarcar, também, as ações sociais.
Faz-se necessário, ainda, calibrar o olhar e projetar a análise para o tempo atual, uma vez que o presente só pode ser compreendido de forma plena por meio de uma investigação do passado, de modo a promover uma síntese da dinâmica destes tempos, que se comunicam em via de mão dupla: “A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente”[4].
Outra citação se faz pertinente: “O meu passado não é mais meu companheiro. Eu desconfio do meu passado”[5]. Se, em seu tempo, o poeta Mário de Andrade encontrou razões para estranhar o passado, que dizer do tempo atual, neste século XXI? Além do passado, o presente também é analisado de forma desconfiada. A recente expansão de ideologias antidemocráticas – tais como o clamor pela volta dos militares ao poder – deixa em evidência o quanto “é preciso estar atento e forte”, como já diziam Caetano Veloso e Gilberto Gil na música Divino, Maravilhoso.
O advento, nestes últimos anos de crise política, de novas medidas normativas voltadas para alterações no panorama da Carta Magna de 1988 endossa o presente apelo. É manifesto que o rumo de supressão de direitos e garantias individuais e coletivas em nome de interesses políticos conservadores, importa na transgressão ao espírito garantista da ANC de 1987-88 e à letra da norma petrificada nos títulos da CRFB / 88, intitulados “Dos Direitos e Das Garantias Fundamentais” e “Da Ordem Social”[6]. Dentre as mudanças mais recentes que acenam para a retirada de direitos, destaca-se a reforma trabalhista, engendrada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Em contraste com o direcionamento adotado rumo à ANC de 1987-88, por meio do qual se buscava consolidar uma nova e relativamente ampla gama de direitos no seio constitucional, a tônica que hoje se desvela traz um cunho predominantemente autoritário. Dentro deste entrelace do ontem com o hoje, os acontecimentos do passado constituinte atravessaram os anos, perpetuando-se nos dias atuais. Por que, afinal, apesar de registrarem aspectos específicos de seu momento, seus embates e expectativas persistem? Frente a esse novo cenário, muito mais complexo e desafiador, a população não espera concessões da parte dos poderes estabelecidos – o que, curiosamente, evidencia o entrelace entre tempos idos e presentes e remete aos versos de Geraldo Vandré, na música “Pra não dizer que não falei das flores”, que traduzem a inquietude e a necessidade de ação: Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Esta edição tem por objetivo elucidar a redemocratização brasileira e a importância do processo constituinte para o entendimento dos movimentos sociais no Brasil contemporâneo, cujas políticas públicas, em grande parte, possuem fundamento nas reivindicações daquele período. A redução da distância entre o processo constitucional e as práticas cotidianas fomentou o amadurecimento das experiências e de novas iniciativas rumo ao fortalecimento da identidade do povo brasileiro. O novo diploma legal incorporou ideias comprometidas com os direitos sociais e individuais, corroborando a noção de que o processo constituinte democrático estabelece novas bases de fortalecimento popular à medida em que investiga o passado com o intuito de ascender a um novo patamar na emancipação social.
Quatro artigos abordam temas relacionados à temática deste dossiê. O primeiro, intitulado Um Olhar Histórico-Jurídico da Liberdade Religiosa no Brasil: do Império à Constituição Cidadã (1824 a 1988), de autoria de Walber da Silva Gevu, faz um apanhado histórico que visa compreender o avanço do instituto da liberdade religiosa ao longo das Constituições brasileiras de 1824 até 1988 – enfatizando os avanços nesta última e a preocupação com os tempos presentes que, segundo o autor, “parecerem sombrios e de retrocesso”.
O segundo, por sua vez, foi escrito por Aílla Kássia de Lemos Santos, tendo como título Movimentos Negros em Pernambuco e a Imprensa Negra como estratégia de luta (1980-1990). O artigo examina o Movimento Negro Unificado de Pernambuco no período de redemocratização do país entre os anos de 1980 e 1990, suas estratégias de luta e sua relevância para a sociedade, notadamente nas suas ações voltadas para o combate ao racismo e ao mito da democracia racial.
As Diretas Já foram analisadas no terceiro artigo, intitulado Indiretamente pelas Diretas. A Democracia Corinthiana no Conjunto das Manifestações pelas Diretas Já!, de coautoria de Ana Cláudia Accorsi, Gabriel Félix Tavares, Mateus Henriques de Souza e Nathália Fernandes Pessanha. Neste texto, a Democracia Corinthiana é considerada como um movimento da década de 1980 que lutava não apenas pelas demandas do futebol, mas também pelo voto. Os autores procuram entender a inserção de tal movimento no contexto das Diretas Já, ilustrando a transformação do estádio esportivo em espaço de manifestação política.
O quarto e último artigo do dossiê – Mídia e Democracia: a Atuação dos Jornais na Ruptura da Ordem Constitucional de 1964 e no Cenário de Reabertura Política, de Matheus Guimarães Silva de Souza – está centrado no debate acerca da mídia e da democracia, por meio da análise de fontes de jornais. O autor aponta que a mídia contribuiu para a subida e consolidação dos militares ao poder político, elaborando um panorama do golpe de 1964 enquanto mostra a participação das principais publicações brasileiras como responsáveis pelo curso da história. O autor visa não somente alicerçar o regime autoritário, mas também a ação de tais veículos de comunicação, almejando “reaver a atuação da mídia durante o processo de redemocratização do país”.
Também constam quatro artigos da seção livre, a saber: o primeiro, de autoria de Robson Williams Barbosa dos Santos, aborda o papel desempenhado pelos escravos do rio Poxim na Vila Real de São José do Poxim, atual município de Coruripe (Alagoas), sendo intitulado Fragmentos da Escravidão em Alagoas: Escravos, Sociedade na Villa Real de São José do Poxim – 1774 a 1854; o segundo, intitulado O instrumento da Correição Geral na São Paulo Setecentista: o Caso do Juízo dos Órfãos (1744), de autoria de Amanda da Silva Brito, trata do “papel da correição geral enquanto mecanismo de disciplinamento da ação do juiz de órfãos”, no século XVIII; o terceiro, por sua vez, escrito por Denilson de Cássio Silva, chama-se O ‘Afeto das Palavras’: Pátria, Nação e Estado em Fernando Pessoa, Mário de Andrade e Cecília Meireles (Lisboa, São Paulo, Rio de Janeiro, Primeira Metade do Século XX), e tem por objetivo abordar, nos textos de Fernando Pessoa, Mário de Andrade e Cecília Meireles, os conceitos de “pátria”, de “nação” e de “Estado”; e o quarto e último possui como título Cultura em Campo: Entre o Elitismo e a Popularização do Futebol (1897-1938), de autoria de Lucas de Carvalho Cheibub, e tem por foco o exame do “processo de popularização do futebol na sociedade do Rio de Janeiro, durante a Primeira República”.
Encerrando esta edição, apresenta-se entrevista com a parlamentar constituinte de 1987-88 e atual Deputada Federal Benedita da Silva. Independentemente de bandeira partidária, é necessário ter acesso à perspectiva de quem participou diretamente do processo, de modo a evidenciar, sob o olhar de um dos Constituintes, a trajetória daquele momento histórico e expor alguns dos resultados das dinâmicas de enfrentamento, das disputas de poder e das resoluções de interesse entre parlamentares e extraparlamentares.
Tendo em vista os 30 anos da inauguração da ANC, em 1º de fevereiro de 1987, e da própria promulgação da Constituição Federal, em 2018, as questões abordadas neste dossiê assumem dimensões de destaque, invocadas que são por estas datas comemorativas. O desenvolvimento de uma análise sobre as relações entre a sociedade brasileira e o seu processo de redemocratização, pela via constitucional, tem sua importância, assim, amplificada.
Boa Leitura!
Notas
- ROCHA, Antônio Sérgio. “Genealogia da Constituinte. Do autoritarismo à Redemocratização”, Lua Nova: Revista de Cultura e Política, Dossiê “Constituição e Processo Constituinte”, nº88, 2013, p.74.
- BRANDÃO, Lucas Coelho. Os movimentos sociais e a Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988: entre a política institucional e a participação popular. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 2011, p.217
- BLOCH, Marc. Apologia da História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001, p.65.
- ANDRADE, Mário de. O movimento modernista. Aspectos da literatura brasileira. São Paulo: Livraria Martins / INL, 1978, p.254.
- Títulos II e VIII da Carta Magna, respectivamente
Aimée Schneider Duarte – Doutoranda em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: schneider_aimee@hotmail.com
DUARTE, Aimée Schneider. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.27, jul / dez, 2017. Acessar publicação original [DR]
Intelectualidade Latino-americana, Cultura e Política no Século XX / Cantareira / 2017
Ao longo do século XX, a figura do intelectual tanto no Brasil quanto na América Latina em geral, foi moldando-se através das décadas. O chamado intelectual circulava entre os meios políticos e culturais, produzindo, criando e recriando através do lugar onde considerava estar e suas relações com a sociedade. Entre as décadas de 1920 e 1940, ocorreu um determinado esforço dos meios intelectuais em construir e afirmar uma identidade nacional no nosso país e pela América. A ideia era definir o que seria a cultura nacional, noção que foi fortalecida após 1930, momento em que essa intelectualidade flertou com os movimentos autoritários, muitas vezes apoiando o fortalecimento das funções do Estado e rejeitando a noção de democracia representativa em todo continente, como vemos claramente no Brasil, Argentina, etc. Por mais que se falasse em nação e sociedade, as formas de ação vinham de “cima para baixo”, tendo a elite à frente dos processos e não as camadas mais baixas, a partir de uma visão hierárquica da ordem social.
Os anos de 1950 modificam essa noção, transformando a visão de mundo e as ideias dessa intelectualidade a partir de um processo de modernização iniciado em décadas anteriores e que ganhou maior impulso nesse período, abrangendo diversos países latino-americanos. Povo e nação tornaram-se indissociáveis, pois as massas populares eram a garantia da unidade nacional, tornando essas noções tanto panfletos da intelectualidade quanto de grupos políticos, principalmente os de cunho populista.
A intelectualidade de esquerda começa a ganhar força a partir das décadas de 1950 e 1960. Muitos desses intelectuais acreditavam ter como missão atuar como interpretes desse povo, ajudando-os na tomada de consciência de sua vocação revolucionária. Estava em curso um projeto que visava ao desenvolvimento econômico e à emancipação das classes populares, o que levaria à independência das noções que se envolvessem nesse plano. Os intelectuais de esquerda desse período, de modo geral, sofreram a influência do marxismo e de ideologias vinculadas aos partidos comunistas espalhados pela América Latina. No Brasil, o Partido Comunista Brasileiro auxiliou na construção de uma cultura política e a identidade do grupo. Havia a existência de um lugar que esses intelectuais atribuíram a si e uma necessidade de reconhecimento de seu lugar e importância dentro da sociedade presente neste processo.
Com o fim das ditaduras militares e governos autoritários, juntamente com o processo de redemocratização política em curso em diversas nações latino-americanas, houve uma transformação na posição dos intelectuais na sociedade. Nessa dança das cadeiras, a intelectualidade abandonava uma determina posição de superioridade em relação às demais categorias sociais. Se durante muitos anos as noções diferenciadas da realidade desses países e a heterogeneidade social desses grupos haviam sido deixadas de lado em prol de uma oposição aos regimes autoritários, o retorno a democracia escancarou os limites dessa, até então, união, abrindo as portas para conflitos de identidade.
Foi a partir de fins dos anos de 1970 e na década de 1980, no novo contexto político e social que se apresentou nesses países latino-americanos, que intelectuais renomados e atuantes foram gradativamente perdendo seus espaços na sociedade, dentro da política, dos meios culturais, onde quer que fossem seus meios de atuação. Aos intelectuais atuantes e engajados das décadas anteriores se propunha um novo dilema: a hora era de adaptação, sendo momento de reinventar-se ou sair de cena. As últimas duas décadas do século XX marcaram um período de transição política, econômica e social no Brasil e no mundo, além de mudanças e buscas por novos espaços pela intelectualidade. O colapso dos regimes comunistas na Europa, a crise do marxismo, o início do desgaste de modelos alternativos de esquerda como o caso da China, levaram a intelectualidade nos moldes que eram até então estabelecidos a diminuir sua influência e credibilidade na sociedade, levando a uma crise política no interior desse grupo.
Dentro desse processo de instabilidade ocorreu uma crise de caráter identitário, principalmente pelo surgimento de novos formadores de opinião, com quem essa intelectualidade característica do século XX veio a disputar lugar. Com a perda de espaço para personalidades midiáticas, paulatinamente, os intelectuais foram perdendo seu locus como porta-vozes das questões nacionais, o que os guiou e reforçou uma crise ideológica que pode ser percebida tanto na América Latina como em outros lugares do mundo. As novas vozes começaram a se levantar da mídia, sendo alçadas ao papel de formadores de opinião e tendo presença marcante nos meios de comunicação. Com isso, aquela intelectualidade identificada com os modelos que vinham desde a década de 1920 ia gradativamente perdendo seus espaços anteriormente conquistados.
As arenas que nas décadas do século XX foram ocupadas por uma determinada intelectualidade através dos livros, passando pelos palcos teatrais e chegando às telas de tevê durante a segunda metade do século XX com o fim do milênio e entrada no século XXI tiveram suas definições foram atualizadas. Hoje, onde a internet com seus canais de vídeos, blogs, vlogs e etc. – através de computadores, tablets e smartphones – ocupa um acentuado papel junto a outras mídias como televisão, cinema e rádio, houve uma ampliação dos ambientes para ver, ouvir e falar. Personagens ligadas à televisão, ao meio musical, à internet, e atividades intelectuais foram ganhando espaço dentro dessas diferentes mídias. Num mundo cada vez mais tecnológico, no qual os livros feitos de “papel e tinta” disputam atenção com os hipertextoscom gadgets, algumas personagens como os astros de futebol mantêm sua importância, juntamente com as novas personalidades. Ocorre também uma tendência de pessoas cada vez mais jovens exporem suas opiniões e ideias para um público igualmente jovem. Esses chamados influenciadores por vezes tornaram-se vozes das novas gerações, que estão cada vez mais conectadas e influenciadas pelas plataformas digitais. Dos ídolos adolescentes a filósofos reconhecidos, esses grupos foram ocupando locais de diálogo que décadas atrás eram vinculados a uma intelectualidade que tinha bases nas definições feitas ainda no século XX.
Esta edição teve como objetivo estimular uma reflexão e debate sobre a intelectualidade através das conexões entre história, política e cultura, essa vista como uma convergência de métodos e interesses diversos, relacionada às atividades culturais e as atividades sociais, estabelecendo uma conexão estreita entre cultura e política.
Esses intelectuais eram, em geral, ideólogos de um projeto que primava pelo desenvolvimento econômico, pela emancipação das classes populares e pela independência nacional. Havia a crença de serem conscientizadores do povo e uma ideia de que a proximidade da revolução, tanto social, política, ou socialista, era latente, movimento esse sentido em diversos países latino-americanos.
As relações entre cultura e política e as discussões sobre o papel da intelectualidade – seus ideais, transformações e permanências – foram os eixos centrais das discussões aqui apresentadas. Os debates sobre a noção de cultura e intelectualidade, oferecendo um panorama geral sobre a cultura latino-americana na primeira metade do século XX; a cultura em tempos de exceção, o papel dos intelectuais – tanto os de direita, quanto os de esquerda – e as formas de engajamento; argumentações acerca da cultura, do papel dos intelectuais e dos seus meios de atuação à partir da redemocratização no Brasil e em outros países da América Latina.
Três artigos articulam as questões levantadas seguindo a temática do dossiê. O primeiro – Literatura e(m) movimento (negro): debates e embates sobre cultura, política e organização entre a intelectualidade negra brasileira (1978-2000) –, de autoria de Bárbara Araújo Machado, analisa os debates e as estratégias políticas, culturais e de organização da intelectualidade – a partir da concepção de intelectuais orgânicos de Antonio Gramsci – dentro do movimento negro contemporâneo. Nele está apontado as mudanças ocorridas dos anos de 1970 até o início do século XXI. Rachel de Queiroz e seu engajamento político dentro de jornais e revistas durante a primeira metade dos anos de 1960, das eleições de Jânio Quadros ao início do governo militar, é o tema do segundo texto – “Jornalismo de combate” nas páginas da revista O Cruzeiro: o engajamento político de Rachel de Queiroz (1960-1964) –, de autoria de Fernanda Mendes. Amanda Bastos da Silva é a autora do terceiro artigo do dossiê – Euclides da Cunha, Manoel Bonfim e a complexidade do século XX. Seu trabalho está centrado nas relações entre intelectualidade, a partir das figuras de Euclides da Cunha e Manoel Bonfim, suas concepções e ideias de Brasil e suas influências na cultura nacional, com foco no cinema, mais especificamente nos filmes O Pagador de Promessas e Deus e o Diabo na Terra do Sol.
Na seção livre, temos o artigo de Paula de Souza Valle Justen – A palavra escrita do rei: chancelaria e poder régio através de uma carta plomada –, que refere-se à análise de um diploma régio emitido por Afonso X, por seu caráter excepcional, além de suas condições e seu lugar de produção, pensando sobre a sua função dentro no contexto da segunda metade do século XIII. Bárbara Benevides, em seu texto Implantação e Normatização da Pena Última no Brasil Colonial (1530-1652), reflete sobre a normatização e estabelecimento da pena de morte no Brasil durante os anos de 1530 e 1652. Limites das Administrações Ibéricas: e Conflitos Sociais no Rio da Prata de Inícios do Século XVIII: Um Estudo de Caso, de Matheus de Oliveira Vieira, se debruça sobre questões concernentes à administração portuguesa e o escoamento de produtos em região de fronteira na Colônia de Sacramento.
Daniel Schneider Bastos trata das polêmicas dentro dos grupos liberais e conservadores em torno da utilização e exploração do trabalho infantil dentro das indústrias da Inglaterra, além da introdução de leis trabalhistas que também beneficiassem a burguesia industrial, durante as décadas de 1830 e 1840 no texto A Questão dos Pequenos Operários: Liberalismo, Conservadorismo e Trabalho Infantil Durante a Fase Final da Revolução Industrial na Inglaterra. O artigo de Fabiane Cristina de Freitas Assaf Bastos – A Crise do Capitalismo e o Mundo Imperialista (1870-1920) – estabelece um debate sobre as relações entre o Imperialismo e as modificações em relação a globalização do mundo a partir da crise do Capitalismo inglês a partir de 1870, além da transição de um antigo para um moderno capitalismo. Finalizando os artigos desta edição, temos o texto de Pedro Sousa da Silva – A Trajetória da Revista Municipal de Engenharia: Planejamento Urbano e Influência do Urbanismo Norte-Americano no Rio de Janeiro (1930-1945) –, que aborda as mudanças dentro dos debates sobre o planejamento urbanístico durante as décadas de 1930 e 1940 através da Revista Municipal de Engenharia, que foram analisados entre os anos de 1932 e 1945.
Fechando esta edição, temos uma entrevista com Paulo César Gomes Bezerra, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e editor / criador do site História da Ditadura2 , que produz e divulga conteúdos sobre a história recente de nosso país. Nela, apresentam-se aspectos de suas pesquisas recentes, focadas nas relações diplomáticas entre Brasil e França durante as décadas de 1960 e 1970, além de reflexões sobre a produção de conteúdo historiográfico em mídias digitais e a chamada História Pública.
Boa Leitura!
Nota
1. http: / / historiadaditadura.com.br / sobre /
Aline Monteiro de C. Silva – Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: alinemsc@gmail.com
SILVA, Aline Monteiro de C. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.26, jan / jun, 2017. Acessar publicação original [DR]
Áfricas / Cantareira / 2016
A fase de escolha para a temática que irá compor um dossiê perpassa uma série de questões que visam dialogar com as constantes demandas sociais, acadêmicas e de ensino que circundam o nosso meio. Nesse sentido, ganhar mais esse espaço para o debate acerca dos estudos africanos, principalmente ao considerarmos que esse espaço é produzido por estudantes que transitam entre a graduação, pós-graduação e magistério de ensino básico, vem comprovar o quanto os estudos sobre a África cresceram e vêm se consolidando no Brasil. Embora muito tenhamos para percorrer, aos poucos a África mitificada e ocidentalizada vai ficando para trás. Em diálogo com os novos debates historiográficos, o estudo das tradições e a valorização da oralidade permitem novas significações para a história do continente.
No Brasil, essa temática vem sendo fortalecida desde a obrigatoriedade do ensino de África nos bancos escolares com a lei 10.639 / 2003. De lá pra cá, muito se avançou. A História da África vem sendo pensada, sobretudo, a partir de uma perspectiva do africano como sujeito de sua história, o que abriu novas possibilidades para construirmos a historicidade das sociedades africanas. À medida que o objetivo passa a ser romper com os esteriótipos que marcaram a visão sobre o continente desde a Antiguidade, passamos a enxergar no “lugar das essências, os processos históricos, dinâmicas sociais e culturas em movimentos”, em que as identidades passam a ser vistas a partir da sua pluralidade.
Dessa forma, é interessante notarmos que os artigos que integram o presente dossiê buscam repensar a história do continente a partir da perspectiva do africano como sujeito, ampliando a imensa diversidade cultural desse povos. A multiplicidade dos significados que se abrem com a generalização do termo africano vai, aos poucos, dando lugar às especificidades dos grupos locais que compõem o continente.
Ao iniciarmos o dossiê nos voltamos para os artigos de Fabiane Miriam Furquim, “A Permanência do Lobolo e a Organização Social no Sul de Moçambique”, e de Fernanda Bianca Gonçalves Gallo: “Para Poderes Viver Como Gente: Reflexões Sobre o Persistente Combate ao Modo de Vida Disperso de Moçambique”. Os debates acerca das tradições africanas aparecem sobre uma nova perspectiva, que traz como proposta se afastar das simplificações existentes e problematizar as relações de poder locais, as formas de organização e legitimação que envolvem essas populações. Dessa forma, ampliamos o nosso olhar para as dinâmicas e conflitos particulares que fazem parte do dia a dia dos diferentes povos existentes e buscamos conhecer, a partir das questões internas, os processos históricos que nos conduzem a uma África sem essencialismos. A prática do Lobolo no artigo de Furquim nos conduzem a novas conceituações de tradição e modernidade, em que um não exclui o outro mas se modificam constantemente, trazendo à baila a complexidade existente. Da mesma maneira, Fernanda Gallo aponta para as resistências locais às imposições de uma política de Estado que via suas práticas como um atraso à modernidade.
Em seguida, o artigo de Rodrigo Hotta “Juízo de Inconfidência em Angola: A Conspiração dos Degredados em Luanda, 1763” traz como proposta repensarmos as trocas culturais existentes entre os africanos e portugueses a partir de uma prática política comum à época: os degredados. Ainda pouco estudado, o cumprimento do degredo em Luanda é problematizado a partir de uma conjuração que busca aterrorizar a administração local. Um importante trabalho para nos atentarmos para as fissuras coloniais existentes no período e as trocas existentes entre o colono e o colonizador, que estão muito além dos binarismos impostos. Essas tensões coloniais também estão presentes no artigo de Jéssica Evelyn Pereira dos Santos, “Guerra e Sangue Para uma Colônia Pacificada: A Revolta do Bailundo e o Projeto Imperial Português para o Planalto Central do Ndongo (1902-1904)”, em que a ocupação dos portugueses sobre o território angolano se coloca como complexa à medida que também se propõe mostrar a participação dos povos locais nessa empreitada, marcada pelas disputas de memória sobre o evento.
Ainda dentro do diálogo colonial entre angolanos e portugueses, Marilda dos Santos Monteiro das Flores em “Angola: Rememorando as Idas e Vindas de um Lugar Desconhecido” traz como proposta, a partir dos debates teóricos que cercam a memória, refletirmos sobre a saída de portugueses para a Angola no contexto da guerra colonial na década de 1970. Ressaltando um novo contexto das migrações portuguesas para Angola, a chegada em terras angolanas representa um novo começo, cercado de disputas.
Já no texto de Patrício Batsîkama “A Mulher na Luta de Libertação e na Construção de Estado-Nação em Angola”, as lutas pela independência de Angola são repensadas a partir de uma perspectiva interna, que parte dos atores sociais angolanos para problematizar os meios de resistência à política colonial no território. A participação das mulheres é colocada em evidência a partir de um estudo de caso: Luzia Inglês, o que ressalta uma abordagem que aos poucos vem se fazendo presente nas pesquisas acadêmicas.
O crescimento dos estudos culturais na historiografia também vem contribuindo para novas problematizações sobre a história do continente africano. Com o artigo intitulado “Safi Faye: Cinema e Autorepresentação”, Evelyn dos Santos Sacramento traz uma abordagem da cineasta senegalesa que envolve uma reflexão sobre intelectualidade e diáspora a partir da produção cinematográfica abordada. Ainda dentro de um debate diaspórico, Paola Vargas em “Aka de Camarões, Cazumbá do Maranhão e Marimonda de Barranquilla: Diálogos Entre História e Culturas Sul-Atlânticas” nos brinda com um trabalho comparativo sobre as expressões culturais de grupos que se constituíram no processo da diáspora atlântica.
Para finalizarmos o dossiê, três trabalhos trazem como proposta refletir sobre os debates e desafios teóricos e metodológicos que cercam a pesquisa e o ensino de África. Álvaro Ribeiro Regiani e Kênia Érica Gusmão Medeiros refletem sobre a obrigatoriedade do ensino de História da África e da Cultura afro-brasileira em “A Negação da Filosofia Africana no Currículo Escolar: Origens e Desafios”. O diálogo interdisciplinar aí presente tem como objetivo abordar como o ensino de África está sendo aplicado nos livros didáticos de História e Filosofia, contribuindo para os debates contemporâneos. Dentro de um mesmo diálogo, Lucival Fraga dos Santos em “Que África se Inscreve e se Ensina no Brasil?”, contempla os impactos do ensino de África na cultura brasileira, principalmente a partir da obrigatoriedade do seu ensino com a lei 10.639 / 2003, ressaltando de que modo ela vem contribuir com a quebra de esteriótipos. Por último, o artigo de Fabrício Cardoso de Mello “Reflexões Críticas sobre o Debate em torno dos Movimentos Sociais na África”, traz uma discussão de âmbito acadêmico acerca dos processos de mobilização social no continente africano. Para isso, o autor dialoga com diferentes vertentes teóricas a fim de colocar os movimentos sociais da África dentro dos debates conceituais presentes sobre o tema.
Compõe ainda o dossiê a seção artigos livres, composto pelas pesquisas de Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa, Tomás de Almeida Pessoa, Marcus Castro Nunes Maia, Cláudia de Andrade Rezende e José Ernesto Moura Knust. A partir de diferentes temáticas, suas pesquisas contribuem para enriquecer nossas análises historiográficas. Da mesma forma, recebemos a contribuição de Michel Ehrlich com a resenha do livro do Prof. Dr. Daniel Aarão Reis Filho (UFF) “Ditadura e Democracia”, dialogando com o cenário político atual.
Por fim, é com grande prazer que agradecemos a participação da professora Flávia Maria de Carvalho da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A jovem pesquisadora e professora universitária traz um pouco da sua história na entrevista que nos concedeu, ressaltando os caminhos que lhe levaram à História da África e como os seus anos de estudante na Universidade Federal Fluminense (UFF), contribuíram para o seu amadurecimento na pesquisa do tema.
Espero que a publicação do dossiê venha colaborar para a abertura de novos caminhos para os estudos africanos. Foi um prazer poder dialogar com os autores e pareceristas que participaram dessa produção. Agradeço à equipe da Revista Cantareira todo o carinho e dedicação para colocarmos mais um número no ar.
Boa leitura a todos.
Carolina Bezerra Machado – Doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense. Bolsista Capes e pesquisadora do grupo Interinstitucional Áfricas. E-mail: lowbezerra@gmail.com
MACHADO, Carolina Bezerra. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.25, jul / dez, 2016. Acessar publicação original [DR]
Ditadura e Democracia no Brasil: do Golpe de 1964 à Constituição de 1988 | Daniel Aarão Reis Filho
Daniel Aarão Reis é professor titular de História Contemporânea na UFF. Suas principais pesquisas são sobre a ditadura no Brasil e as experiências das esquerdas no Brasil e no mundo [1]. Além disso, foi ativo na resistência à ditadura civil-militar brasileira, especificamente no Movimento Revolucionário 8 de Outubro, um dos grupos que organizou a captura do embaixador do EUA Charles Burke Elbrick em 1969.
Ditadura e Democracia no Brasil se insere em uma série de obras lançadas em 2014 que, no marco dos 50 anos do golpe de 1964 procuram apresentar novos olhares sobre o período. O livro em questão é constituído por sete capítulos e um posfácio.
O primeiro capítulo serve de introdução ao livro e são as páginas nas quais Reis apresenta alguns dos princípios através do quais ele pretende diferenciar sua obra da historiografia anterior sobre o tema, especialmente aquela produzida nos primeiros anos de redemocratização. Segundo o autor, construiu-se uma memória de que os valores democráticos sempre teriam feito parte da consciência nacional. Assim, o país teria sido
subjugado e reprimido por um regime ditatorial denunciado agora como uma espécie de força estranha e externa […] Assim, em vez de abrir amplo debate sobre as bases sociais da ditadura, escolheu-se um outro caminho, mais tranquilo e seguro, avaliado politicamente mais eficaz, o de valorizar versões memoriais apaziguadoras onde todos possam encontrar um lugar [2].
Essa visão procuraria uma conciliação nacional após a ditadura, como se esta não houvesse contado com apoio de setores civis da sociedade:
Entretanto, essas versões, saturadas de memória, não explicam nem conseguem compreender as raízes, as bases e os fundamentos históricos da ditadura, as complexas relações que se estabeleceram entre ela e a sociedade e, em contraponto, o papel desempenhado pelas esquerdas no período. Também não explicam, nem conseguem compreender, a ditadura no contexto das relações internacionais e na história mais ampla deste país – as tradições em que se apoiou e o legado de seus feitos e realizações que perdura até hoje [3].
Nesse sentido, Reis se insere numa perspectiva que vem ganhando espaço na produção historiográfica, de procurar compreender o regime autoritário observando também as bases sociais que o constituíam. A título de exemplo, a coletânea organizada por Denise Rollemberg e Samantha Quadrat, A construção social dos regimes autoritários [4], é outra obra que procura analisar os mecanismos de legitimação social desses regimes. É nessa direção que também argumenta a defesa de que se chame o período de ditadura civil-militar, e não somente militar.
Nos capítulos seguintes, Reis procura elucidar o desenrolar dos acontecimentos do período. Ele destaca que o período 1945-64 foi de democracia limitada. O autoritarismo se manifestava em muitos aspectos que remontam à primeira república e principalmente à ditadura varguista. É nesta que ele localiza um importante elemento para compreender a ditadura que se seguiu: o nacional-estatismo, caracterizado por um Estado forte tanto no que diz respeito ao desenvolvimento econômico (ainda que não necessariamente na distribuição de renda) como no controle social. Apesar de ter perdido fôlego na década de 1950 o nacional-estatismo ainda tinha adeptos tanto à esquerda como à direita.
Ao assumir o poder, João Goulart “poderia […] numa frente popular que se esboçara na resistência ao golpe [do parlamentarismo], dispor de condições para retomar o nacional-estatismo popular já entrevisto no último governo Vargas” [5]. As greves e movimentações populares que haviam crescido na campanha legalista (movimento para assegurar o direito de Goulart assumir a presidência) incorporavam ao nacional-estatismo uma até então inédita participação popular – o que também radicalizou o discurso, exigindo reformas mais profundas e deixando mais de lado o tom conciliatório varguista.
Reis descreve, contudo, que Jango estava nos primeiros meses de governo apegado à tradição conciliatória, mantendo a desconfiança da direita e ao mesmo tempo decepcionando a esquerda. “Depois de longos meses de hesitação, armadilhando no impasse de uma correlação de forças equilibrada, Jango [em março de 64] resolveu aceitar os conselhos de partir para a ofensiva” [6], em meio ao aumento da pressão pelas reformas de base. A resposta conservadora não tardou com as marchas da Família com Deus pela liberdade e finalmente com o golpe de Estado.
O autor então lança uma ideia polêmica, contestando a tese da inevitabilidade da resistência ao golpe. Segundo ele, Jango era bastante popular e as forças de que dispunham as esquerdas, nas instituições, sindicatos, movimentos populares e nas próprias Forças Armadas não eram desprezíveis. Para ele, a esquerda que apoiava Jango se rendeu por não saber o que fazer quando a tática conciliatória não funcionou mais. No capítulo seguinte, o autor inclusive aponta que essa paralisia poderia ser motivada por até parte das lideranças reformistas estarem contaminadas pelo medo de uma revolução. Por isso também que Reis observa que ainda que de fato tenha havido apoio dos EUA ao golpe, não se deve superestimar sua participação sob risco de minimizar a importância das forças golpistas internas. A influência externa se dava, de acordo com o autor, mais no sentido de um medo por parte das forças golpistas de que os recentes movimentos socialistas e nacionalistas na África, Ásia e principalmente em Cuba pudessem inspirar ações mais radicais dentro do Brasil.
Dando prosseguimento, Reis descreve como nos primeiros anos da ditadura procurou-se romper com o nacional-estatismo, estratégia que fracassou, indicando que este elemento da cultura política perpassava todo o espectro político.
No campo da oposição começaram a se formar três grandes correntes: a moderada, formada pelo MDB, apoiada pelo PCB clandestino e setores golpistas agora insatisfeitos, defendendo uma transição pacífica à democracia nos moldes pré-64; movimento estudantil, mais radical, queria o fim imediato da ditadura, mas sem maiores definições; organizações revolucionárias clandestinas, se entrelaçavam com os estudantes, viam a luta armada como a única saída e não queriam só a derrubada da ditadura, mas do capitalismo.
Porém, Reis destaca que se houve de fato resistência, também houve muita indiferença ou até apoio ao regime, de modo que a oposição não era, para ele, de fato tão poderosa. Ainda assim, para evitar que se organizassem, o governo emitiu em 1968 o AI-5.
Assim, chega-se ao quarto capítulo. Com a repressão a níveis extremos, a esquerda revolucionária considerou que se concretizava o que Reis denominou “utopia do impasse”, chegando a hora de radicalizar a luta. De acordo com essa lógica, o impasse se refere à uma situação na qual políticas conciliatórias não seriam mais uma opção viável, restando às esquerdas somente a revolução – por isso, segundo o autor, muitos desses grupos revolucionários viam até com certo otimismo a conjuntura, pois teria eliminado a via conciliatória. Reis, contudo, apesar de ter sido em sua juventude parte dessas organizações, as critica por estarem distantes da população e se mostrarem incapazes de fazer uma leitura mais precisa da sociedade. Esta “assistiu a todo esse processo como se fosse uma plateia de jogo de futebol” [7]. Podiam até torcer para um ou para outro lado, mas não eram participantes. Efetivamente, o crescimento econômico do que viria a ser o chamado “milagre econômico” aliado a propaganda, fazia do governo muito popular junto a população, especialmente no interior. Por isso ele destaca que, se de fato a primeira metade da década de 1970 pode ser descrita como os “anos de chumbo”, foi para muitos também os “anos de ouro” [8]. Ainda que o crescimento tenha sido desigual, ele agradava a setores médios influentes suficientes para amortecer uma possível insatisfação popular. A maioria da população parecia disposta a ignorar a tortura, desde que que ela atingisse somente àqueles que considerassem marginais e ocorresse longe da vista da sociedade.
Nem todos, certamente, apreciavam a ditadura e seus métodos truculentos, considerados “excessivos”, e muitos deles tomariam parte, em momentos seguintes, da onda oposicionista que varreria as metrópoles. Mas é provável que considerassem uma exigência alta demais arriscar suas posições num enfrentamento de vida ou morte com o regime, como queriam as esquerdas radicais [9].
O quinto capítulo do livro analisa o governo Geisel (1974-79). No plano econômico, apesar da crise do petróleo, não seria ainda o momento do abandono do nacional-estatismo. “Já no plano político, haveria afinidades com os propósitos do primeiro governo castelista, materializadas na perspectiva de restabelecer um estado de direito autoritário. Tratava-se de institucionalizar e superar o estado de exceção, o regime ditatorial vigente”[10], ação tomada também em função da pressão internacional, ainda que “no interior do bloco que sustentava a ditadura, forças conservadoras e sua expressão mais radical, os aparelhos de segurança, não viam com bons olhos a distensão e se prepararam para combatê-la”[11].
Como resultado, foi um período marcado por ambiguidades. A gradual abertura, (a qual culminaria na revogação do AI-5 na passagem de 1978 para 1979) conviveu com uma brutal repressão ao PCB e PC do B e o emblemático assassinato de Vladmir Herzog.
A segunda metade da década de 1970 também marcou o início da rearticulação dos movimentos sociais, ainda que de início tentassem passar a imagem de reivindicações apolíticas. Essa rearticulação também se deve ao fato da economia já não apresentar resultados tão satisfatórios, com inflação e desvalorização salarial.
Ao final deste capítulo, Reis indica outra ideia controversa. Para ele, com o fim do AI-5 estava revogado o estado de exceção, não constituindo-se mais uma ditadura; “conformara-se um estado de direito autoritário”[12]. Assim, para Reis a ditadura iniciada em 1964 termina em 1979, havendo então um período de transição para um regime democrático que se inaugura com a constituição de 1988. Ele explica melhor os motivos para essa escolha no capítulo seguinte, dedicado à essa transição:
formou-se ampla coligação de interesses e vontades a favor da ideia de que a ditadura teria se encerrado em 1985. Na base dessa verdadeira frente social, política e acadêmica, estava uma ideia – força de modo nenhum respaldada pelas evidências – a de que a ditadura fora obra apenas dos militares [13].
Esse marco, 1985, o momento em que um civil assume a presidência, esconderia, portanto, as bases sociais civis da ditadura. Para Reis, a construção dessa memória que procura esconder o caráter civil da ditadura se deu justamente nesse período.
Aparentemente, a transição lenta e sem rupturas levada pela própria ditadura surtiu o efeito por ela desejada. Nas primeiras eleições diretas para governadores, o PDS (originada da ARENA) venceu em mais estados e teve mais deputados eleitos também, seguido do PMDB, que era a oposição consentida pela ditadura. “Depois de longos anos de ditadura, o país tornara-se mais conservador ainda do que antes. Um banho da água fria na fervura dos que imaginavam possível a existência de hipóteses de ruptura revolucionária. Pelo menos a curto prazo elas não se realizariam”[14]. Talvez nada ilustre melhor o caráter conservador da transição e a construção de uma memória que isente as bases civis do que a chegada a presidência de José Sarney (até pouco antes importante quadro do PDS) concorrendo, ainda que como vice, como opositor ao antigo partido da ditadura.
No sétimo capítulo, Reis descreve sucintamente as discussões em torno da constituição de 1988, destacando como, apesar da pressão contrárias de forças liberais-conservadoras, mesmo nela persistiriam muitas características do nacional-estatismo.
Finalmente, no posfácio, Reis retoma uma de suas teses centrais já apresentadas no início do livro: sem minimizar as diferenças que houveram entre os regimes, há no nacional-estatismo, seja de tendência esquerdista ou direitista, um aspecto de continuidade.
Criaram-se na primeira [estado novo] e se consolidaram na segunda [civil-militar]: o Estado hipertrofiado, a cultura política nacional-estatista, o corporativismo estatal, as concepções produtivistas, a tortura como política de Estado. Quanto à tutela das Forças Armadas, vem de antes, desde a gênese da República, mas as ditaduras, sem dúvida, confirmaram e reforçaram.
O livro de Daniel Aarão Reis procura apresentar um novo olhar sobre a ditadura civil-militar brasileira. Cada capítulo da obra poderia ser expandido ele próprio em um livro. De fato, o livro não entra em muitos detalhes. Tampouco se utiliza de muitas fontes primárias como fundamentação, tratando-se mais de uma obra de síntese. Ainda assim, é de grande valia por apresentar ao menos duas ideias centrais que o diferenciam de ao menos parte da historiografia, e certamente da memória socialmente construída para fora da academia. A primeira, por apontar no nacional-estatismo um elemento de continuidade surgido antes do golpe de 1964 e perdurando durante e para além da ditadura. Isso não significa negar que tenha se tratado de um estado de exceção, mas apontar que a ditadura civil-militar infelizmente não foi um desvio num curso “natural” e “positivo” da história do Brasil, mas se insere perfeitamente em aspectos que transcendem esse período específico. A outra ideia é a de observar a importância das bases sociais civis da ditadura. Desde o golpe, o regime autoritário somente pôde sobreviver por que contou com apoio principalmente de setores empresariais, mas também suporte, consentimento ou no mínimo indiferença de amplos setores sociais. Enfrentar a memória construída da natureza democrática da sociedade brasileira é um desafio difícil e que pode soar inconveniente, mas é importantíssimo para poder lidar com as continuidades autoritárias que ainda persistem hoje.
Conforme já salientado, o livro aqui resenhado se trata de uma obra de síntese. Mas talvez justamente por isso tenha um duplo valor, podendo ser utilizado como material introdutório para historiadores ao mesmo tempo em que também se mostra acessível ao grande público.
Notas
1. Entre suas principais obras se encontram A revolução faltou ao encontro – Os comunistas no Brasil; A Aventura Socialista no Século XX; e Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade.
2. REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, pp. 7-8.
3. Ibid., p. 14
4. ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha (orgs). A Construção Social dos Regimes autoritários: Brasil e América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
5. REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 32.
6. Ibid., p. 39.
7. Ibid., p.77.
8. Ibid., p.91.
9. Ibid., p.88.
10. Ibid., p.98.
11. Ibid., p.101.
12. Ibid., p.123.
13. Ibid., p.127.
14. Ibid., p.140.
Michel Ehrlich – Graduando em História pela UFPR, bolsista do PET-História. E-mail: michelehrlich@gmail.com
REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e Democracia no Brasil: do Golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. Resenha de: EHRLICH, Michel. Ditadura e democracia no Brasil. Cantareira. Niterói, n.25, p. 230 – 234, jul./dez., 2016. Acessar publicação original [DR]
História e gênero / Cantareira / 2016
Desde a década de 80 muito tem sido discutido sobre o conceito de gênero. Hoje, cerca de trinta anos após o boom dos estudos de gênero na pesquisa acadêmica, os debates em torno do tema continuam atuais. No Brasil, desde 2014 houve um crescimento acalorado das discussões relativas ao assunto em decorrência da elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), que culminou com a exclusão do termo gênero do referido documento. Exclusão esta que se verificou igualmente nos Planos Municipais de Educação (PME), implementados em 2015. A retirada do termo do PNE e do PME pode ser considerada como uma tendência em considerar o gênero como um dado natural e, portanto, não passível de discussão. Essa tendência pode ser observada no projeto de lei ligado ao movimento ‘Escola Sem Partido’ que tramita no Senado e incorpora como um de seus motes a proibição da discussão de gênero nas escolas. Como reação a este projeto, setores da sociedade brasileira tem-se manifestado sobre a importância da inclusão do debate no ambiente escolar. Isto porque a adequada compreensão do conceito possibilita o convívio com as diferenças e, consequentemente, o combate à discriminação e ao preconceito.
O gênero, ao contrário do que muitos acreditam, não está naturalmente ligado ao sexo biológico. Apesar da confusão comumente feita entre sexo, gênero e orientação sexual, há distinções que precisam ser ressaltadas. A orientação sexual se refere ao tipo de atração do indivíduo, o sexo ao órgão sexual do corpo humano, enquanto o gênero – de acordo com Judith Butler – “não é nem o resultado causal do sexo nem tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo”3, mas culturalmente construído. Para Butler o gênero é uma performance. Segundo esta definição, o gênero não é visto como inerente ao indivíduo, mas como uma imitação repetitiva de determinados comportamentos e atributos de modo a passar a impressão de que são reais. É por meio dessa performance, realizada por hábito ou por imposição, que os indivíduos são levados a acreditar que o gênero é natural4. A crença nesta naturalidade dá lugar muitas vezes a ações discriminatórias e de violência. Não raro aqueles que não se adequam às normas de gênero impostas pela sociedade sofrem represálias que podem chegar à punição física. Deste modo, vemos um exemplo do que Butler denomina de o poder coercitivo do gênero em policiar, isto é, disciplinar as pessoas, sendo a disciplina – de acordo com Michel Foucault – um mecanismo de dominação e controle dos comportamentos desviantes. Isto posto, a percepção de que o gênero é algo produzido e igualmente fluido é importante para evitar a marginalização de indivíduos, assim como para entender – como ressalta Joan Scott – que a ‘suposta’ hierarquia entre os sexos não é inata. Scott apresenta o gênero como definidor primário das relações de poder, expondo os antagonismos sexuais como gerador de tensões permanentes e indica a necessidade de enxergar a hierarquia entre os sexos como algo construído5.
Por conseguinte, devido à atualidade das discussões relativas à questão de gênero e a importância do entendimento do conceito para o respeito às diversidades apresentamos o Dossiê História e Gênero. Os artigos presentes neste volume abordam o gênero nas diferentes temporalidades e temáticas. Waldir Moreira de Sousa Junior analisa a tragédia de Eurípedes, As Bacantes, através do personagem Penteu, pensando identidades de gênero e sexualidade pelo viés da figura masculina. Lisiana Lawson Terra da Silva e Jussemar Weiss Gonçalves mostram como a sociedade ateniense do V séc. a. C. articulava as necessidades do mundo androcêntrico às possibilidades do feminino e como isso era discutido na tragédia. Thiago de Almeida Lourenço Cardoso Pires trata da construção da figura heróica de Enéias na Eneida de Virgílio como um tipo ideal de gênero masculino para a sociedade romana. Ainda com relação à Antiguidade, Érika Vital Pedreira a partir da análise do triplismo presente nas imagens das Deusas-mães da Britânia Romana (séculos I e II d.C.) atesta a formação de práticas de religiosidade híbridas.
No que se refere à Idade Moderna, Juliana Torres Rodrigues Pereira e Marcus Vinícius Reis refletem sobre a relação entre o temor e o reconhecimento social de que eram alvo as mulheres tidas por suas comunidades como feiticeiras na Arquidiocese de Braga, em Portugal, na segunda metade do século XVI, enquanto Kaíque Moreira Léo Lopes aborda temas como lesbianismo e gênero na Bahia do século XVI através de uma querela judicial envolvendo a primeira Visitação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição portuguesa na Bahia.
Carla Adriana da Silva Barbosa realiza um estudo de famílias da elite no contexto da guerra Farroupilha (1835-1845) através de correspondências trocadas dentro desses núcleos a fim de discutir noções de maternidade e casamento compartilhadas entre seus membros. Raimundo Expedito dos Santos Sousa, por sua vez, investiga formas como a colonização inglesa buscou feminizar os homens irlandeses e como a resistência irlandesa acentuou os aspectos masculinos contra a dominação inglesa. Já Isabelle Cristina da Silva Pires procura analisar as condições do trabalho feminino em fábricas de tecidos no início do século XX, tendo como exemplo um estudo de caso na Companhia de Fiação e Tecidos Aliança, no Rio de Janeiro.
Gilvânia Cândida da Silva e Alcileide Cabral do Nascimento apresentam a liderança da escritora Martha de Hollanda, que recorreu à Rádio Clube de Pernambuco como estratégia da luta pelo direito ao voto em Recife na década de 1930. Sobre o mesmo período, Thiago Pacheco apresenta interessante panorama sobre gênero e espionagem no Estado Novo e na República de 1946 através da ação de mulheres na perspectiva da Polícia Política.
Fernanda Nascimento Crespo inicia as abordagens sobre o gênero no Ensino de História. A autora utiliza as histórias de vida de Laudelina de Campos Mello como um recurso para a construção de conhecimentos relativos à História do Brasil, como meio de superar os entraves a abordagem das questões raciais e de gênero no currículo de história. José Cunha Lima e Isabela Almeida Cunha partem dos Parâmetros Curriculares Nacionais para tocar em questões referentes às relações de gênero e diversidade sexual contemporâneas.
Discutindo a historiografia da ditadura civil militar no Brasil, Tatianne Ellen Cavalcante Silva apresenta um artigo sobre as vivências de mulheres militantes que foram presas políticas durante o período entre 1969-1979, registradas no documentário Vou contar para meus filhos (2011). Dayanny Deyse Leite Rodrigues expõe temas como assistencialismo através da figura da primeira dama Lucia Braga (1983 – 1986), posteriormente deputada federal pelo PFL, pensando esse mesmo assistencialismo enquanto prática e estratégia política.
Denise Machado Cardoso e Ana Patrícia Ferreira Rameiro colheram relatos das trajetórias profissionais de mulheres atuantes nos altos cargos doJudiciário do estado do Pará, bem como as relações de gênero incutidas nesse processo, especialmente aquelas concernentes aos papeis tradicionalmente atribuídos às mulheres, como esposas e mães. O texto de André Pizetta Altoé foca-se no Programa Mulheres Mil: Educação, cidadania e desenvolvimento sustentável e sua implantação dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus Campos–Guarus, também relacionando a formação e inserção de mulheres no mercado de trabalho.
Gênero e violência são as temáticas retratadas por Michelle Silva Borges, que volta sua atenção para as práticas das mulheres submersas à violência conjugal como o outro termo nas relações de poder, enquanto Aline Beatriz Pereira Silva Coutinho e Suzane Mayer Varela da Silva realizam uma análise de questões como o aborto e os direitos reprodutivos da mulher na atualidade.
A Professora Doutora Cristina Wolff (UFSC) discorre brilhantemente sobre as questões de gênero em nosso país na entrevista concedida para esta edição, em que conta um pouco sobre sua trajetória enquanto pesquisadora ligada aos estudos da área. Versando sobre militância, trabalho e feminismo, a pesquisadora apresenta suas reflexões a partir de questões trabalhistas para entender como o sistema de gênero coloca as mulheres em posições subordinadas, levando em conta os aspectos culturais e do imaginário social da sociedade brasileira. A partir da análise da militância das mulheres nas organizações de esquerda no Brasil e no Cone Sul, Cristina Wolff compreende que militância também é um trabalho de articulação e elaboração política continua, através da negociação e resignifcação de sua posição e relação com homens e grupos de pertencimento sociocultural, político e econômico. A pesquisadora atenta também para a abordagem de aspectos da cultura e da religiosidade nacional, compreendo que mulheres brasileiras têm conquistado um espaço grande em diversos setores, da Academia à sociedade em geral, sempre enfrentando o machismo em suas diversas expressões. Machismo esse que precisa ser encarado não como o contrário de feminismo, mas como um fenômeno social e cultural, a partir de uma cultura e uma ideologia que “naturaliza” a subordinação das mulheres. Por tal, defende a importância sobre os estudos de gênero, apontando para o fato que atualmente as pesquisas tendem a focar as interseccionalidades, pensando o gênero ao lado de outros aspectos das relações sociais, ou esses aspectos em seu conjunto. Outra tendência que a ser considerada atualmente é a importância dos estudos de sexualidades de forma conjunta com os estudos de gênero, compartilhando enfoques teóricos e metodológicos, insights e objetos de pesquisa.
Este dossiê buscou através de várias temáticas ao longo dos séculos fazer um mapeamento heterogêneo sobre as questões relativas ao gênero. Entre ser mulher na Elite Farroupilha, a construção do feminino nas tragédias gregas, a vivência de mulheres desembargadoras no Judiciário do Pará a dificuldade de associar a sexualidade feminina para além de uma saúde reprodutiva, lesbianismo e inquisição na Bahia, a construção da concepção de cidadania envolvendo o feminino e o assistencialismo de primeirasdamas como prática marcante da cultura política brasileira, apresentamos um leque amplo de reflexões sobre a construção das concepções de sexualidade, gênero, sexo, representação social e vivência política de homens e mulheres do Brasil e do mundo.
Desta maneira, convidamos aos nossos leitores para apreciar o trabalho de pesquisadores de diversas áreas e temporalidades sobre esta temática tão importante e atual para se compreender e refletir as relações sociais, em seu esplendor versátil, questionador e inovador como as proposições apresentadas pelos estudos de gênero. Boa leitura!
Notas
- BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015, p.26.
- Idem.
- SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. S.O.S. Recife: 1991.
Juliana Magalhães dos Santos – Doutoranda em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Bolsista Capes. E-mail: jumagasantos@gmail.com
Talita Nunes Silva – Doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: talita.nunes@uol.com.br
SANTOS, Juliana Magalhães dos; SILVA, Talita Nunes. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n. 24, jan / jun, 2016. Acessar publicação original [DR]
O Professor de Português e a Literatura | Gabriela Rodella de Oliveira
O Professor de Português e a Literatura originalmente foi a dissertação de mestrado em educação de Gabriela Rodella de Oliveira, bacharel em Letras Português/ Alemão, mestre e doutora em Educação pela USP e professora na Universidade Federal do Sul da Bahia. A obra em questão procura entender o porquê da crônica precariedade do ensino de literatura nas escolas públicas paulistanas e a incapacidade do mesmo em formar leitores assíduos, ou nos termos da autora “leitores literários”. Para tanto, Oliveira analisa o trabalho docente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura e sua capacidade em transformar os discentes em admiradores da arte literária.
A obra inicia-se com um levantamento histórico do ensino de Literatura no Brasil (dos jesuístas até os PCN´s, criados em 1996) e apontando os principais “vícios” no ensino da citada matéria no país. A autora, apoiada em outras pesquisas realizadas desde a década de 1970 até a década de 1990 [1], defende que a disciplina citada é reduzida ao ensino de história literária, biografia dos autores clássicos, a leitura de trechos de algumas obras clássicas da literatura brasileira e a apresentação das diferentes escolas literárias, tudo feito de forma resumida e superficial baseado nas explicações presentes nos livros didáticos. A principal consequência desse quadro é a incapacidade dos professores em apresentar aos alunos as diferentes obras literárias, despertar neles a paixão pelos livros e torná-los bons leitores.
O livro se destina a entender o porquê dessa calamitosa situação. A resposta para tal questionamento perpassa as práticas dos docentes paulistanos, que por sua vez são determinadas por sua realidade de vida e formação, na visão da autora. Para identificá-las, Oliveira realizou uma pesquisa com 87 professores para, segundo a própria, levantar o “perfil médio” do professor de Língua Portuguesa da rede estadual de São Paulo. O levantamento realizado contou com uma parte “quantitativa” e outra “qualitativa”; a primeira parte da pesquisa contou com a elaboração e distribuição de um questionário [2] para os 87 professores citados e a segunda contou com a confecção de uma entrevista feita pela própria autora com quatro professores, que segundo Oliveira se destacaram por sua capacidade intelectual. Embora a mesma reconheça que a pesquisa não tenha um caráter estatístico e que o universo pesquisado seja pequeno, ela procurar traçar o retrato do docente da citada disciplina.
Apoiada em Pierre Bourdieu, e sua noção de habitus, e baseada nos resultados obtidos, Oliveira concebe o “perfil médio” dos docentes de Língua Portuguesa que, com raras exceções, são profissionais originários da camada pobre da população, com pouco ou nenhum acesso à leitura na infância, estudante de escolas públicas e, posteriormente, de cursos noturnos de faculdades particulares, com hábitos literários pobres, que variam entre livros didáticos, leituras de alguns clássicos exigidos em programas/currículos escolares e Best Sellers. Esse docente, por uma mistura de incapacidade e conservadorismo pedagógico, não consegue fugir dos antigos esquemas de ensino de Literatura (recorrência a história literária, biografia dos autores, apresentação das escolas e resumos de livros didáticos) e não é capaz de despertar o gosto pela leitura e formar “leitores literários”, por ele próprio não possuir esse capital cultural. Diante de seu fracasso, o citado docente recorre a culpabilização dos alunos, a quem acusa de “falta de interesse nos estudos”, “pouca capacidade de leitura” e “falta de bons modos”, entre outros problemas.
O conceito da autora de “leitores literários” traz em si a ideia de um leitor que consome a leitura por sua qualidade estética e o caráter artístico da obra, em contraposição a uma “literatura funcional”, que seriam leituras obrigatórias ou profissionais sem valor artístico. Apesar de formada em Letras, Oliveira, em nenhum momento, se apoia em algum conceito da Literatura ou da crítica literária para explicar quais são suas noções de “arte” ou de “estética” literária, assim como não conceitua o que seria uma boa ou uma má Literatura. Aparentemente, sua visão sobre os hábitos de leituras dos professores está carregada de um juízo de valor da autora, que qualifica hábitos e leitores por critérios pessoais e pouco claros.
A obra citada apresenta outro problema quando ignora que os hábitos de leitura dos indivíduos são formados por outras variantes, além das aulas de literatura nas escolas. A autora, nem em sua dissertação, nem em seus questionários e entrevistas com os professores, se preocupou em pesquisar sobre a possibilidade de acesso a livros nas escolas que trabalham ou nos bairros onde ficam as tais escolas. Faltam levantamentos, aparentemente óbvios em uma pesquisa sobre o tema, sobre a existência e funcionamento de bibliotecas, livrarias ou sebos nas regiões do município de São Paulo estudadas ou da existência de outros funcionários, como bibliotecários ou agentes de leitura, nas escolas para fomentar o acesso dos jovens aos livros.
O trabalho em nenhum momento procura questionar ou entender o porquê os cursos de graduação, mesmo alguns cursos reconhecidos, como o de Letras da USP [3], não conseguem formar professores preparados para a educação básica ou mesmo consegue trazer as novas ideias que circulam no meio acadêmico. Aparentemente, os problemas da educação são causados quase que exclusivamente pelo ethos do “professor médio” e não por deficiências em seus diversos estágios de formação inicial e continuada. Assim como não há qualquer discussão sobre o papel das políticas públicas da Secretaria Estadual de Educação (SEE-SP), com seus currículos e suas avaliações, no trabalho docente.
Oliveira, em seu trabalho, busca responder uma questão complexa, com diversos nuances, recorrendo a uma solução simples: a criação de uma imagem resumida e com um embasamento científico frágil [4] do professor da rede pública, que, segundo a autora, perpetua um sistema falido por incompetência, incapacidade e conservadorismo. Mais do que uma imagem ou um perfil, a autora perpetuou um estereótipo do docente público atualmente presente em diversos textos acadêmicos e na imprensa, e que em nada contribui para uma melhora real das escolas e do trabalho docente.
Notas
1. Rodella apoia-se nas pesquisas de Marisa Lajolo, Maria Thereza Fraga Rocco, Alice Vieira, Cyana Leahy-Dios e Willian Roberto Cereja para apontar os citados “vícios”.
2. Onde os professores responderam questões sobre sua origem familiar (renda e escolaridade dos pais), sua formação escolar e acadêmica (se estudaram em escolas públicas ou particulares e quais faculdades frequentaram), suas práticas pedagógicas, sua renda, sua carga horária e sua relação com os alunos.
3. Em seu levantamento, Oliveira calculou que por volta de 40% dos professores entrevistados se formaram em universidades públicas de São Paulo, como a USP ou a Unesp.
4. Embora a autora reconheça a inexistência de pretensões estatísticas ou de criar um perfil exato da docência, uma pesquisa com pretenções a traçar uma imagem de uma categoria com mais de 212.146 profissionais, segundo o Censo Escolar paulista de 2012, a partir de 87 questionários e 4 entrevistas pessoais se mostra frágil e reduzida em termos científicos.
Luís Emílio Gomes – Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e professor de História da Secretaria Estadual de Educação/RJ. E-mail: luisemiliogomes@gmail.com
OLIVEIRA, Gabriela Rodella de. O Professor de Português e a Literatura. São Paulo: Alameda Editorial, 2013. Resenha de: GOMES, Luís Emílio. O professor e seu papel na formação de novos leitores. Cantareira. Niterói, n.24, p. 275- 277, jan./jun., 2016. Acessar publicação original [DR]
Enciclopédia da Floresta – O Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações | Manuela Carneiro da Cunha e Mauro Barbosa de Almeida
“a perda da diversidade genética e específica pela destruição dos ambientes naturais é a estupidez pela qual os nossos descendentes estarão menos dispostos a nos perdoar”
Edward O. Wilson
“Suba!”, lhe diz o seringueiro. A casa é firme graças à maçaranduba, acariquara, murmuru, tarumâ e paracuba, madeiras boas para o barrote, espécie de pilotis sobre o qual se ergue o assoalho de paxiubão. Mas antes de ir entrando, tire os sapatos e lave os pés. Para a parede, paxiubinha, gitó, cumaru e cedro têm preferência. O teto sobre a sua cabeça talvez seja feito de palha de aricuri, que dura até 12 anos se for cortada “no escuro da lua” (lua nova). Admire o asseio e perceba o brilho das panelas areadas pela dona da casa no igarapé mais próximo. Mas só as mulheres serão convidadas a entrar na cozinha antes da hora da refeição. Esta hipotética visita e muito mais é o que nos permite um livro admirável sobre um cantinho de Brasil tão desconhecido quanto fantástico chamado Alto Juruá.
Fica no sudoeste do Acre, em uma região tão isolada que a cidade mais próxima, Marechal Thaumaturgo, até o ano de 2000 não tinha nem correio nem banco, tampouco juiz ou padre e apenas um telefone público. Por outro lado, neste vasto território de 10 mil km2 e apenas 8 mil habitantes, já foram registradas 1620 espécies de borboletas (estima-se que sejam 2000), 616 espécies de pássaros, 113 espécies de anfíbios e 16 espécies de primatas, sem falar em mais de 100 mil espécies de insetos. Estudos realizados por geólogos, ecólogos e botânicos chegaram à conclusão de que a bacia do Alto Juruá “possui uma notável diversidade de sistemas naturais”. Trata-se daquilo que os especialistas chamam de fronteira biológica. Aqui a floresta ainda predomina, embora sejam encontrados mais de dez tipos diferentes de formações florestais, onde se vêem samambaias de até 5 metros de altura. Estes recursos têm sido utilizados – até agora – sem causar impacto destrutivo, de tal modo que os sistemas naturais se encontram em uma situação de “equilíbrio dinâmico”. A baixa densidade demográfica e o estilo de vida extrativista causam alterações de uma ordem que ainda permite à natureza recuperar-se. Um roçado abandonado, volta a ser floresta em 60 anos.
A esta riquíssima biodiversidade, corresponde uma história igualmente complexa e rica, que nos últimos 130 tem tido o seu ritmo ditado pela borracha. Até 1912, a época “de ouro”, marcada pela vinda maciça de nordestinos, logo enredados pelos patrões em dívidas contraídas no nefando sistema do barracão. Tempo das “correrias”, matança organizada e sistemática de índios, assim descrita por um padre francês ainda em 1925:
“Reúnem-se trinta a cinqüenta homens, armados de carabinas de repetição e munidos cada um de uma centena de balas; e, à noite, cerca-se a única cabana, forma de colméia de abelhas, onde todo o clã dorme em paz. À aurora, à hora em que os índios se levantam para fazer sua primeira refeição e seus preparativos de caça, um grito combinado dá o sinal, e os assaltantes fazem fogo todos juntos e à vontade”
O governo brasileiro ainda tentou reviver o auge da borracha durante a 2ª Guerra Mundial, pois o Japão havia cortado aos aliados o suprimento de borracha vindo da Malásia (cujo sistema de produção havia derrubado os preços e causado a falência da região da borracha por décadas). Criou-se a “Batalha da Borracha” e milhares de nordestinos foram atraídos por uma mentirosa campanha de propaganda que lhes prometia prosperidade. Após a 2ª Guerra Mundial a região foi novamente abandonada. Com isto, os seringueiros e os três povos indígenas que habitam estas terras (kaxinawás, ashaninka e katunika), embora tenham mantido costumes e identidades culturais próprias, acabaram por forjar um conjunto de conhecimentos e práticas relativos à floresta que desaguou na “Aliança dos Povos da Floresta”. Acabava-se o “tempo do cativeiro dos patrões” e chegava finalmente o “tempo dos direitos” (kaxinawá) ou “das cooperativas” (seringueiros). O processo culminou com o reconhecimento dos direitos dos indígenas às suas terras na década de 80 e com a criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá em janeiro de 1990, depois de inúmeros conflitos com os patrões para por fim ao monopólio comercial e à cobrança de uma renda anual de 33 kg de borracha por ano, referente ao uso de uma terra que jamais havia sido legalmente deles e de fato sempre havia sido trabalhada pelos seringueiros.
É até difícil explicar em poucas palavras a relevância da Enciclopédia da Floresta. Seu grau de detalhamento é impressionante e nada lhe escapa: os solos, a vegetação, a fauna, os costumes de cada um dos povos, o calendário agrícola, uma descrição passo a passo das atividades (construção de casas, estradas de seringa, alimentação, caça), as formas de classificação do mundo pelos seringueiros, pelos Kaxinawá, pelos Katukina e pelos Ashaninka. Há centenas de fotos e ilustrações, diagramas, mapas, desenhos e dicionários de bichos e plantas. Nem mesmo a mitologia ficou de lado, para o prazer do leitor. Fruto de um trabalho de pesquisa que vem se realizando há mais de uma década, contando com dezenas de especialistas de universidades públicas brasileiras e com uma equipe de pesquisadores “nativos” igualmente importante (todos são devidamente biografados ao final), é uma obra de valor inestimável.
Um dos pontos mais importantes a destacar é a parceria entre o saber científico e aquele proveniente da prática cotidiana, fazendo cair por terra uma perniciosa dicotomia já atacada por Lévi-Strauss em O Pensamento Selvagem. Por último, é preciso lembrar que todo o sistema de entrelaçamento entre os homens e a natureza descrito pela obra repousa sobre um equilíbrio tão frágil quanto ameaçado:
“Não há bolsa de futuros para essa biodiversidade; não há títulos para florestas de máxima diversidade a serem entregues daqui a cem anos. Todas essas árvores e borboletas parecem supérfluas do ponto de vista do mercado.”
Marcos Alvito – Professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Autor de As cores de Acari.
CUNHA, Manuela Carneiro da; ALMEIDA, Mauro Barbosa de (Orgs.). Enciclopédia da Floresta – O Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Companhia das Letras,2002. Resenha de: ALVITO, Marcos. Cantareira. Niterói, n.2, 2002. Acessar publicação original [DR]
História e cinema / Cantareira / 2015
Um escrito do câmera polonês Boleslas Matuszewski, de 1898, é identificado por Mônica Kornis, em um balanço histórico a respeito dos estudos históricos sobre cinema como o primeiro trabalho relativo ao valor do filme como documento histórico. Neste escrito de Mastuszewski, o autor defendia o valor da imagem cinematográfica como testemunho ocular verídico e infalível, sendo que estas observações se referiam ao filme documentário, produção predominante na época, e baseavam-se em um princípio de autenticidade do registro. Somente décadas mais tarde ela seria questionada em um debate acerca do cinema mudo entre os cineastas russos Dziga Vertov e Serguei Eisenstein. No debate, uma nova definição surgiria, e afirmaria que a natureza da imagem cinematográfica é também ela um constructo[2].
O historiador francês Marc Ferro, considerado o principal responsável pela incorporação do cinema na pesquisa histórica, viria a se referir a essa discussão em sua confrontação da ideia de que o documentário seria mais objetivo que a ficção, argumentando que ambos devem ser objetos de uma análise cultural e social. Alinham-se a essa perceptiva sobre as relações entre o cinema e a história, as considerações do escritor alemão Siegfried Kracauer, que contribuiu significativamente para os estudos nesse domínio ao estabelecer ligações entre um filme e seu meio de produção em suas análises, atribuindo aos filmes de ficção a capacidade de refletir a mentalidade de uma nação, revelando uma concepção realista do cinema que se consolidaria no campo da sociologia do cinema.
Tal identidade entre a realidade ou o meio de produção e o filme seria questionada posteriormente, sobretudo pelo crítico francês Pierre Sorlin, ao relativizar a autenticidade conferida à imagem fotográfica e problematizar a relação entre cinema e público. Acompanhando o histórico traçado por Kornis, percebe-se como a discussão sobre a linguagem cinematográfica esteve restrita aos cineastas e teóricos do cinema, em sua fase inicial, sendo que somente a partir da década de 1960 teve lugar um debate metodológico acerca das relações entre cinema e história, focalizando a questão da natureza da imagem cinematográfica.
Nesse sentido, é reconhecida a relevância da reflexão historiográfica francesa promovida nos anos 1960 e 1970 pelo movimento conhecido como Nova História, que destacou a importância da diversificação do uso de fontes na pesquisa histórica, abrindo caminho para a identificação de novos objetos e novos métodos que expandiram os domínios da história tradicional. Nesse campo, Marc Ferro é reconhecido como o principal expoente da incorporação do cinema como fonte aos estudos históricos, apontando para a presença do imaginário no cinema, bem como para o seu caráter de agente social e não apenas produto de uma época; na medida em que nele são expressas as crenças e as intenções de seus realizadores, podendo também servir de instrumento à doutrinação, glorificação ou conscientização de uma sociedade.
Ferro indicava, além disso, a necessidade de se considerar na análise fílmica elementos do filme assim como o que excede seu conteúdo, como as fontes a ele relacionadas. Portanto, sua proposta de análise distingue-se daquela apresentada por Sorlin, conforme bem observa Kornis, na medida em que este se atém à compreensão da linguagem cinematográfica, recusando a homologia estabelecida por Ferro, entre outros, entre um filme e seu contexto histórico, nos moldes de uma análise contextual[3].
Em discussão sobre as relações entre história e cinema nos escritos de Marc Ferro, Eduardo Morettin, retoma o movimento da História Nova ao analisar a incorporação do cinema como fonte documental aos domínios da pesquisa histórica, a partir dos anos de 1970. O autor discute a perspectiva de trabalho de Ferro com a fonte fílmica, segundo a qual o cinema é compreendido como um testemunho de sua época, tendo em vista uma articulação fundamental entre imaginário e cinema, o qual, não estando submetido ao controle das instâncias de produção social, viabilizaria uma contra análise da sociedade, segundo sua natureza histórica, enquanto possibilidade de revelar o inverso da sociedade. Nesse sentido, o filme agiria como um contra poder, revelando lapsos que se referem a uma realidade representada independentemente das intenções do operador. Morettin destaca, também, a marca da busca por uma realidade histórica em toda a obra de Ferro, que se relaciona a uma necessidade de se atingir a compreensão do que exatamente ocorreu no passado representado, orientada pelo princípio de que o fato histórico constitui o referencial da análise.
Contudo, o autor faz ressalvas a essa perspectiva sobre as relações entre cinema e história, recusando as dicotomias esboçadas por Ferro de modo a evitar simplificações no trato com a fonte fílmica, da qual ressalta o caráter polissêmico e aponta para as tensões próprias à sua linguagem. Nas suas palavras, “um filme pode abrigar leituras opostas acerca de um determinado fato, fazendo desta tensão um dado intrínseco à sua própria estrutura interna” [4]. Ele ressalta, ainda, a necessidade de por o cinema em primeiro plano nos trabalhos de história que mobilizem esse tipo de fonte a partir da análise fílmica, a qual, contudo, não deve se identificar às leituras da obra expressas pela crítica ou pelas falas do diretor, mas da qual deve emergir o sentido de sua estrutura.
Os artigos que integram o dossiê tomam por base esses apontamentos, apostando na pertinência da análise da fonte fílmica como realização integral, conforme preconizada por José D’Assunção Barros, para quem o seu exame não pode prescindir de uma metodologia multidisciplinar e pluridiscursiva, tendo em vista que “para compreender tanto as possibilidades formais e estruturais como os conteúdos encaminhados por um filme, faz-se necessário ultrapassar a análise exclusiva dos componentes discursivos associados à escrita (os diálogos e os roteiros, por exemplo)”[5].
Esses artigos são oriundos dos trabalhos de pesquisa apresentados no seminário “Fabulações Históricas: Reinventando o tempo através do cinema” – evento interno à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), coordenado pela Profa. Dra. Ana Paula Spini, do Instituto de História da UFU, vinculado ao Grupo de Pesquisa CNPq “História, literatura e cinema: fronteiras metodológicas, apropriações e diálogos interdisciplinares”, realizado com o objetivo de promover a socialização e o debate das experiências de pesquisa dos alunos. O seminário ocorreu entre 16 de junho e 03 de julho de 2015, com uma mesa de debate por semana, em que foram apresentadas comunicações de seis alunos do curso de graduação em História da UFU, além de dois mestrandos em História, um da mesma instituição e outro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
O dossiê conta também com uma entrevista realizada por alunos da UFU com Eduardo Morettin, professor na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Autor de referência na área de História e Cinema, ele discute na entrevista questões atinentes ao seu envolvimento com esse campo de estudos, bem como aspectos de sua formação e percurso intelectual.
O artigo de Vinícius Alexandre Rocha Piassi, “Memórias no ecrã: os trabalhos de memória da ditadura no cinema de Lúcia Murat” arrola as primeiras observações de sua pesquisa de monografia acerca da filmografia da cineasta. A partir de uma análise transversal dos filmes em que Lúcia Murat aborda temas referentes à ditadura militar brasileira, busca-se identificar, em uma perspectiva de cinema autoral, as representações construídas sobre esse passado no qual estão imbricadas experiências pessoais da diretora. Analisando a mobilização das memórias da cineasta nesses filmes, articula-se à análise fílmica conceitos caros à psicanálise como trauma, luto e elaboração, para compreender os modos como ela lida com esse passado por meio da produção cinematográfica.
“Cuba libre? Laços de poder e jogos de azar na Máfia de Havana: Uma análise do filme O Poderoso Chefão: Parte II” é o desdobramento de um trabalho realizado por João Lucas França Franco Brandão para a disciplina de História da América III na UFU, no primeiro semestre de 2015. O tema desenvolvido alia a proposta da disciplina de abordar questões relativas ao século XX no continente americano, do qual se destaca a Revolução Cubana, e a interface história e cinema, na qual o aluno empreende uma pesquisa de Iniciação Científica vinculada ao CNPq. No presente artigo, o autor analisa no filme de Francis Ford Coppola de 1974 as representações construídas sobre o apogeu e o ocaso da máfia de Havana.
Suelen Caldas de Sousa Simião é mestranda em História na área de Política, Memória e Cidade na Unicamp, egressa do curso de graduação em História da UFU. O mestrado iniciado em 2015 tem como tema “Medianeras no cinema e na cidade: sensibilidades contemporâneas em El hombre de al lado (2009) e Medianeras (2011)”, de cuja pesquisa o presente artigo constitui um produto. Em “(In)visibilidade contemporânea: o olhar e a cena urbana em Medianeras (2011)”, a partir da opção pelo filme argentino de Gustavo Taretto, é desenvolvida uma análise das relações de seus protagonistas com a cidade de Buenos Aires em que se problematiza a prática da flanêrie contemporânea, ao lado do fenômeno da multidão das grandes cidades, como formas de socialização características do que se compreende por hipermodernidade.
Em “Tradição (re)inventada: a desconstrução do mito do cowboy em Crepúsculo de uma raça” Lucas Henrique dos Reis desenvolve o tema abordado em sua monografia detendo-se na análise do último western de John Ford, lançado em 1964, do qual são destacados os papéis representados por seus personagens em relação com os mitos nacionais dos Estados Unidos. Desse modo, é ressaltada uma perspectiva crítica de Ford em sua representação do cowboy no cinema hollywoodiano dos anos de 1960, interpretando uma narrativa fundadora da identidade nacional dos Estados Unidos do século XIX.
O artigo de Lucas Martins Flávio, “Da conquista do espaço às portas do Paraíso: a ficção científica entre utopias e distopias” está relacionado à sua pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em História da UFU, financiada pela CAPES. Da pesquisa iniciada em fevereiro de 2015, intitulada “Reminiscências de uma Contracultura tardia: os filmes de ficção científica de George Lucas da década de 1970”, destaca-se a revisão da história do gênero de ficção científica, desde sua origem literária até suas expressões cinematográficas, com especial atenção para as relações do gênero com as questões da utopia e da distopia, situando nesse campo a produção do cineasta George Lucas nos anos de 1970, nos Estados Unidos.
“Dr. Fantástico, Ironia e Guerra Fria”, de Arthur Rodrigues Carvalho, é fruto de sua pesquisa de Iniciação Científica financiada pelo CNPq, iniciada em agosto de 2015, a qual se relaciona também à temática desenvolvida em sua iniciação científica, ainda em andamento. A partir da análise do filme Dr. Fantástico ou Como aprendi a parar de me preocupar e amar a bomba (1964) de Stanley Kubrick, é explorada a construção narrativa do período da Guerra Fria pelo diretor, com atenção especial para o uso do tropo linguístico da ironia no filme.
Os autores dos textos apresentados devem um agradecimento às professoras Ana Paula Spini e Mônica Brincalepe Campo, do Instituto de História da UFU, pelo apoio na execução das pesquisas e estímulo à publicação. Os artigos que integram o dossiê exemplificam formas diversas de abordagem da interface história e cinema, oferecendo perspectivas distintas sobre o uso da fonte fílmica na pesquisa histórica e expressam, dessa forma, o envolvimento de jovens pesquisadores nesse campo de estudos. Portanto, são convites a uma imersão no universo de relações em que se imbricam o cinema e a história, configurado por trilhas em movimento de sons e imagens
Notas
- KORNIS, Mônica. “História e Cinema: um debate metodológico”, Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992, p.240.
- KORNIS, op. cit., p.245.
- MORETTIN, E. V. “O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro”. História: Questões e Debates. Imagem em Movimento: o cinema na história, ano 20, n. 38, jan. / jun. 2003. p.15.
- BARROS, José D’Assunção. “Cinema e história: considerações sobre os usos historiográficos das fontes fílmicas.” Comunicação & Sociedade, Ano 32, n. 55, jan. / jun. 2011. p.192.
Vinícius Alexandre Rocha Piassi – Aluno do curso de graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
PIASSI, Vinícius Alexandre Rocha. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.23, jul / dez, 2015. Acessar publicação original [DR]
A Antiguidade, o Tempo, Nós e a História / Cantareira / 2015
“(…) a própria ideia de que o passado, enquanto tal, possa ser objeto de ciência é absurda” [2].
Ao escrever essa frase, Marc Bloch construía uma crítica à História tal como era escrita por Langlois e Seignobos, como uma sucessão de fatos ocorridos em tempos antanhos, a famosa histoire événementielle, focada nos grandes eventos e grandes figuras. Bloch concebe a História como a “ciência dos homens no tempo”, enfatizando o “continuum”, a “perpétua mudança”. Quando se debruçam sobre a Antiguidade, tema do presente dossiê, os historiadores buscam justamente o que há de continuidade e o que há de “perpétua mudança” no andejar dos homens nas estradas do tempo. E desse caminhar chegaram até nós as marcas fragmentárias de suas pegadas, suas representações: vestígios materiais de sua cultura ou, como diz Denise Jodelet, conhecimentos partilhados socialmente, que construíam uma noção de realidade comum para uma comunidade [3]. Nesse sentido, a própria História nasceu como representação [4]: Heródoto elabora seu relato sobre as Guerras Greco-Pérsicas a partir do que ouviu, ou seja, das ideias e noções sobre esse fenômeno que circulavam entre os gregos. Ao tornar público o resultado de sua pesquisa -eis o sentido da palavra iστορία na época- o primeiro historiador também criou uma visão da realidade. As representações construídas por Heródoto nos mostram o continuum de que Marc Bloch fala: as tensões entre Oriente e Ocidente, por exemplo, mais que nunca presentes na imprensa do século XXI.
Por falarmos em mídias, os antigos nunca realmente “saem de moda”. Vemos sua presença nos livros para jovens adultos como “Jogos Vorazes”, “Harry Potter”, “Percy Jackson”. Em filmes como “A Múmia”, “Tróia”, “Hércules” (em suas variadas versões) e “Fúria de Titãs”. Nas histórias em quadrinhos com “Asterix”. A série “Roma” foi um sucesso de crítica; em 2014 a vida do faraó Tutankamon foi romantizada na televisão em “O Rei Tut”, exibida neste ano no canal a cabo History Channel. O teatro grego, que exercia verdadeira função educacional na Grécia Antiga, não perdeu seu caráter catártico mesmo hoje: “Ajax”, de Sófocles, é encenada, em 2015, para que veteranos da Guerra do Iraque possam confrontar seus traumas e fantasmas [5]. Spike Lee se inspirou em Lisístrata, de Aristófanes, ao criar o enredo de seu filme “Chi-raq”, no qual perscruta as tensões existentes na Chicago contemporânea. Na época de seu lançamento, o filme “300”, de Zack Snyder, foi objeto de debate de vários classicistas: as relações entre espartanos e persas na película retratavam as hostilidades atuais entre Ocidente e Oriente. Os quadrinhos que o originaram se inspiraram, por sua vez, em outro filme: “300 de Esparta”, de 1962, cujos tons mostravam que a beligerância encenada pelos atores estava mais conectada à Guerra Fria que ao século VI a.C. A Antiguidade, tal como o teatro clássico fazia para os gregos, nos oferece um “espelho” pelo qual podemos enxergar a nós mesmos, contemporâneos, como o Outro. Ela nos obsequia o exercício da alteridade indispensável para compreendermos nosso próprio cotidiano e nossa identidade. Em outras palavras: os antigos ainda são estudados, representados e estão “na moda” porque são bons meios, diríamos, para a construção do pensamento crítico sobre nós, pessoas vivendo em 2015. Não apenas continuamos analisando as representações que eles nos legaram, mas construímos nossas próprias visões do que seria o mundo deles em filmes, séries, livros e etc. Atualmente, os estudos sobre as recepções da Antiguidade estão em expansão no mundo anglófono. Talvez a mesma atenção deva ser dada pelos pesquisadores brasileiros acerca das visões sobre a Antiguidade e como elas, de fato, se referem ao próprio contexto histórico em que são concebidas. Para citar mais um exemplo cinematográfico, o filme “Deuses do Egito”, dirigido por Alex Proyas, será lançado em 2016, mas já está sendo objeto de discussão. A maioria dos atores retratando as divindades egípcias são brancos e europeus, o que não condiz com as representações legadas pelos próprios antigos. Tal fato, claramente, diz muito mais sobre nossa própria sociedade e a falta de diversidade étnica na mídia contemporânea que sobre as crenças engendradas no Antigo Oriente Próximo há mais de 3.000 anos atrás.
Em tempos de discussão da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), cuja proposta retira do Ensino Médio os conteúdos de História Antiga e Medieval, cabe aos historiadores exporem suas pesquisas e demonstrarem como seus objetos dialogam com o seu tempo e sua sociedade. Também na “Apologia da História” Bloch cita o ditado árabe Sociais. “os homens parecem mais com seu tempo que com seus pais” [6]: os temas que interessam os historiadores da Antiguidade são os mesmos que inquietam aqueles que pesquisam temporalidades mais recentes, como podemos perceber pela leitura dos artigos que compõem nosso dossiê. Se historiadores devem ser como ogros, farejemos, pois, a carne humana!
Os primeiros artigos do dossiê tratam da História das Mulheres na Grécia Antiga. Talita Nunes Silva é a autora do texto “A mulher grega como ‘sacrificadora’: ‘transgressão’?”, no qual faz um apanhado das visões acerca da transgressão apresentadas por pensadores do Direito, da Psicanálise e das Ciências Sociais para discutir o uso desse conceito na atuação religiosa feminina através da personagem Clitmnestra tal como construída na trilogia Oréstia, de Ésquilo e também para pensar a possibilidade das mulheres terem agido como sacrificadoras nos ritos religiosos gregos. O artigo de Juliana Magalhães dos Santos, “Eros e a prostituição feminina ateniense no V Século a.C: aproximações e representações”, também reflete sobre a religiosidade helênica ao tratar o banquete (symposion) como ritual de cidadania e amizade. Eros é apresentado como potência geradora e elemento de união e equilíbrio social, necessário para a manutenção dos laços entre os cidadãos. A presença de prostitutas (hetairai) na celebração marca a heterotopia da casa ateniense como espaço religioso e espaço festivo. O âmbito privado tornava-se, no symposion, microcosmo do amor e da amizade que deveriam, segundo Platão em O Banquete, unir a cidade. “Entre ideologia e representação: novos olhares sobre as mulheres atenienses”, por sua vez, trata das divergências entre as representações na cerâmica ateniense e o conteúdo do discurso filosófico e político no que tange à visão sobre as mulheres dessa pólis. Dayanne Dockhorn Seger, a autora, ressalta que os registros literários procuravam evidenciar a reclusão feminina. Contudo, as representações na cerâmica ática mostram que as mulheres gozavam de mais liberdade que as fontes escritas e a historiografia tradicional nos fazem crer.
Luis Henrique Bonifácio Cordeiro e José Maria Gomes de Souza Neto elaboram em “Vingança e arrependimento como parte da concepção do ser trágico do período clássico ateniense na Electra de Eurípides” uma visão sobre o ser trágico ateniense a partir da análise das personagens da peça do título. Os autores defendem que as personagens trágicas estão em situações marcadas pela contradição e pelo questionamento. A tragédia coloca em cena o desequilíbrio da ordem cósmica (social, econômica, política e religiosa) e as personagens euridipianas em Electra apresentam em si relações dialéticas como destino / escolha pessoal, vingança / arrependimento, entre outras.
“Os gregos, os romanos e os celtas: contatos entre culturas e a representação do gaulês no De Bello Gallico de Júlio César”, cuja autoria é de Priscilla Adriane Ferreira de Almeida, aborda como os gauleses foram figurados na literatura greco-romana, buscando focar-se na representação dos gauleses construída na obra do estadista romano. Em De Bello Gallico, Júlio César trata de diferentes níveis civilizacionais dos bárbaros, ao que ele denomina de ferocitas. As condições climáticas do habitat gaulês faziam desse povo inferior aos romanos e, por estarem nas bordas do mundo, sua selvageria era perigosa à ordem representada por Roma. Apesar de serem fortes e corajosos, era preciso dominálos. Litiane Guimarães Mosca traz em seu texto “A construção da imagem de Otávio César Augusto como propaganda política: uma análise das Res Gestae Divi Augusti (séc. I d. C.)” uma discussão dos elementos presentes no Res Gestae que enaltecem a figura de Augusto e que permitem que identifiquemos esse documento como propaganda política. O artigo defende que o imperador utilizou as placas de bronze póstumas a fim de legar para a posteridade uma imagem positiva do governo e de si próprio. Assim, não apenas teria seus feitos reconhecidos, mas a legitimidade do poder de Tibério, seu sucessor, seria atestada.
Nelson de Paiva Bondiolli disserta em “Doados aos Humanos como um Segundo Sol: Uma abordagem póscolonial à História Natural de Plínio, O Velho” acerca das fronteiras e identidades do Império Romano durante o Principado, defendendo que a presença de estereótipos na obra de Plínio, o Velho, permite-nos perceber a construção da identidade romana em oposição ao “Outro”, qual seja, os povos que não comungam da cultura de Roma. As conquistas militares do Império solidificam a identidade romana, enquanto o Outro, bárbaro, é desumanizado. Ser romano, na História Natural é, assim, sinônimo de civilização. “Um estudo da recepção do epicurismo pela elite romana do século I AEC: alguns problemas e revisão crítica”, de Maria de Nazareth Eichler Sant’ Angelo, argumenta que a pesquisa sobre a recepção do epicurismo pela elite romana no primeiro século de nossa era é prejudicada pelo fato dos especialistas não perceberem essa corrente filosófica como parte da identidade da elite romana. Sant´Angelo afirma que os círculos literários romanos eram campos férteis para a circulação das ideias epicuristas, especialmente os banquetes aristocráticos. A prática da filosofia helenística não negava a religiosidade, aberta a influências estrangeiras. “Fontes e representações políticas sobre o polêmico imperador Nero”, de Ygor Klain Belchior, traz um diálogo entre as modernas interpretações historiográficas acerca do imperador romano e suas representações nas fontes clássicas. Enquanto a obra de Suetônio traça uma imagem ambígua sobre Nero, primeiro como um bom governante e depois como um sanguinário, Tácito descreve-o como um político “fantoche”, manipulado por sua mãe Agripina, por Sêneca e Burrus e, posteriormente, por Tigelino. O autor ressalta que as visões negativas sobre Nero que chegaram até nós são consequências das disputas pelo poder em Roma, especialmente após a ascensão da dinastia dos Flávios.
Sobre a religiosidade monoteísta na Antiguidade temos os textos de Vítor Luiz Silva de Almeida e Mariana de Matos Ponte Raimundo. Do primeiro autor é ““Dirigi-vos, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel”: A memória anti-samaritana na literatura neotestamentária”, artigo que perscruta os evangelhos bíblicos a fim de entender a representação negativa dos samaritanos neles contida. Narrativas como a parábola do bom samaritano e o conto dos dez leprosos salientam que não se esperava um comportamento moral ou de amor ao próximo por parte dos habitantes da Samaria. Longe de exaltar as virtudes dos samaritanos, essas historietas mostram as más ações dos judeus uns com os outros. Almeida aponta que os relatos do Novo Testamento, nesse sentido, apontam para divergências religiosas entre samaritanos e judeus, mostrando ainda uma visão de superioridade desse último grupo. Já “A consolidação da identidade cristã no século IV”, da segunda autora, tem como tese a ser defendida a ideia que a construção de uma identidade associada ao cristianismo foi resultado de interações e embates com outros grupos, como pagãos e judeus. As tensões dentro da própria comunidade cristã são ressaltadas, mostrando que a identidade surgida não significou ausência de contradições internas. Todavia, as tentativas de conciliação entre os diversos cristianismos existentes e a reorganização de elementos da cultura romana permitiram que a religião se consolidasse.
Finalizando os artigos do dossiê temos “Os inimigos dos romanos sob o imperium de Graciano no tratado De fide de Ambrósio, bispo de Milão (séc. IV d.C.)”, de Janira Feliciano Pohlmann, no qual desenvolve-se uma discussão sobre as maiores ameaças ao Império Romano e à cristandade no entender de Ambrósio, quais sejam: os bárbaros e os hereges, especialmente os arianos. Em seu relato, o religioso retrata o imperador Graciano como um governante escolhido por Deus, responsável pela guarda do povo cristão.
A resenha de Mateus Mello de Araújo Silva sobre o recém-lançado livro de Emma Bridges contribui para a divulgação de trabalhos bem recentes sobre as interações entre gregos e persas. De fato, os helenistas de língua inglesa nos últimos anos têm se dedicado à pesquisa dos governos autocráticos, especialmente das monarquias helenísticas e persas, renovando os estudos sobre Cultura Política na Antiguidade.
A entrevista realizada com Professor Doutor Alexandre Carneiro Cerqueira Lima (UFF) ressalta que o olhar do historiador, seja qual for a temporalidade que ele pesquisa, está sempre guiado por questões do seu próprio cotidiano. Segundo ele, suas vivências e sua identidade carioca influenciaram sobremaneira as temáticas de seus trabalhos sobre a Grécia Antiga. Questionado sobre as implicações da BNCC nos rumos da História Antiga no Brasil, o professor deixou claro que, em seu entender, as propostas não prejudicariam apenas o estudo desse eixo temporal, mas a própria ideia de que a História se trata de análises sobre as experiências humanas.
Na seção de artigos livres as temáticas são variadas, tratando desde o Medievo inglês ao Brasil contemporâneo. Os autores são de diferentes áreas das Ciências Humanas, mostrando a importância da Revista Cantareira como um periódico discente que agrega diversos pontos de vista teóricos e metodológicos.
Aos pareceristas que contribuíram com este número enfatizamos o nosso agradecimento. E a você desejamos uma leitura prazenteira!
Notas
- BLOCH, M. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p.52-53.
- JODELET, D. “Representações Sociais: um domínio em expansão” In: JODELET, D. (org.). As Representações Sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2001, p.22.
- Ideia defendida por François Hartog. Ver: HARTOG, F. O Espelho de Heródoto: Ensaio sobre a Representação do Outro. Belo Horizonte: Editor UFMG, 2014, p.336-393.
- CLARK, Nick. “Harry Potter star Jason Isaacs joins ‘extraordinary’ project using Ancient Greek plays to help veterans”, 2015. Disponível em: . Acesso em 8 dez 2015.
- BLOCH, op.cit., p.60.
Mariana Figueiredo Virgolino – outoranda em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora do NEREIDA / UFF. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
VIRGOLINO, Mariana Figueiredo. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n. 22, jan-jul, 2015. Acessar publicação original [DR]
Imagining Xerxes: Ancient Perspectives on a Persian King | Emma Bridges
A classicista Emma Bridges, sob orientação de Edith Hall e Peter Rhodes, empreendeu uma tese de doutorado na Universidade de Durham que gerou, posteriormente, o livro Imagining Xerxes. Com a premissa ousada de analisar a construção das representações sociais do monarca persa Xerxes durante toda a Antiguidade, a autora passa pelas mais diferentes fontes, contextos sociais, temporais e espaciais. Publicação recente da editora inglesa Bloomsbury e sob supervisão de dois acadêmicos conhecidos na área dos estudos clássicos, a obra ainda não é vendida no Brasil, tampouco possui tradução para a língua portuguesa.
Imagining Xerxes insere-se no panorama de produção historiográfica anglófona da última década que tem abordado governos autocráticos não só entre os helenos, mas também entre os povos com quem tinham contato. Esses estudos não tomam os helenos como um grupo isolado, mas sempre em relação, seja pacífica ou conflituosa, com os demais povos. Pode-se incluir nessa tendência, entre outros, os classicistas Lynette Mitchell, Jonathan Hall e Edith Hall. Dentre aqueles que são considerados pelos helenos como bárbaros e analisados pelos acadêmicos, os persas possuem uma maior visibilidade.
O monarca persa da dinastia Aquemênida é quase sempre lembrado nas fontes gregas e romanas pela sua tentativa falha de conquistar a porção continental da Hélade, apesar de aparentemente apresentar a vantagem de ter à sua disposição um exército esmagadoramente maior que de seus oponentes, formados por uma união de pólis que se negaram à submissão ao poder dito despótico e bárbaro. É exatamente nesse ponto no qual a autora inicia sua análise das fontes antigas.
A invasão persa gerou respostas rapidamente no imaginário ateniense, iniciando-se uma longa série de construções e reconstruções das representações sociais acerca desse personagem. É importante frisar que a autora não visa alcançar uma imagem única e verdadeira, para chegar a algo como o Xerxes histórico. A preocupação ao longo dessa obra é analisar “as abordagens literárias à figura desse rei visando considerar as formas em que essas adaptações e deformações das tradições de Xerxes (…) foram conformadas pelos diversos contextos em que foram produzidas.”[1]
Sempre atenta aos contextos em que foram produzidas essas representações do rei persa, a autora empreende a análise da primeira fonte conhecida que trata do mesmo. É a tragédia Os Persas, de Ésquilo. Tal obra teria iniciado o repertório de imagens que seriam retomadas por uma série de autores durante toda Antiguidade e também nos períodos históricos posteriores, até a contemporaneidade. A face de um invasor estrangeiro, poderoso, confiante, irreverente aos deuses e insolente que se transforma, após a derrota na batalha naval de Salamina, em um homem humilhado, ridicularizado e desmoralizado é abordada por Ésquilo ao longo da encenação trágica. A mudança nos rumos de sua fortuna é acentuada pela diferença entre o princípio da encenação, onde o coro canta a visão formidável do rei e de seu exército, e a entrada do personagem de Xerxes em cena, já maltrapilho e em fuga após a grande derrota naval frente aos gregos. Xerxes já não aparenta ser a sombra do que era anteriormente à invasão da Hélade. Ésquilo não é o único autor a dar voz a um rei persa derrotado e lamentador de sua desventura, o poeta ditirâmbico Timóteo de Mileto também apresenta seu próprio Os Persas, focando no infortúnio do monarca.
As representações não permanecem só no campo artístico, mas logo se expandem para o campo da pesquisa histórica. Heródoto de Halicarnasso, apesar de também ter como foco de sua obra Histórias a campanha persa contra os gregos, aborda Xerxes de uma maneira diferente de Ésquilo e Timóteo. O monarca asiático, assim como muitos outros personagens caracterizados como bárbaros, não é visto por Heródoto somente como um invasor estrangeiro e radicalmente oposto à helenicidade. Ele é posto em uma imagem mais humana, sujeita às dúvidas e à fortuna. Segundo a autora, a principal diferença entre Heródoto e a maioria das fontes gregas e romanas é que a polaridade entre gregos e bárbaros é transcendida pelo historiador. A representação de Xerxes construída por Heródoto é complexa e vai além do arquétipo de um déspota bárbaro invasor.
Mais adiante, Emma Bridges trata da literatura ateniense do século IV, onde as Guerras Greco-Pérsicas ainda estão pulsantes no imaginário dos oradores atenienses, como Lísias e Isócrates. Xenofonte também está profundamente ligado ao império persa de seu tempo e dos monarcas aquemênidas anteriores, como fica demonstrado em suas obras Anábase e Ciropédia. Apesar de Xerxes não ser mais o rei, sua imagem é constantemente evocada como uma figura exótica que causa curiosidade ou que assume o papel de inimiga dos helenos, sendo usada para a defesa de um sentimento pan-helenístico. Neste momento é possível ver que a caracterização negativa do persa, marcado principalmente por sua desmedida, já se torna um lugar comum no repertório dos oradores atenienses. A vinculação do império persa com Xerxes também é visível a partir das obras dos autores do século IV.
Quase sempre associado à expedição militar falha de conquista da Hélade, ainda há espaço para outras versões de Xerxes, que tratam das intrigas palacianas e conspirações da corte. Abordando a vida do monarca de dentro de seu próprio palácio, essas narrativas focam principalmente no clima de intriga, excessos, corrupção e decadência do Oriente. Como os autores atenienses do século IV, predomina a imagem negativa do povo persa e de seu monarca. Porém seu foco não é no campo de batalha, mas no interior da corte asiática. Emma Bridges coloca dentro desse grupo um grande número de obras, como as de Ctésias de Cnido, Chariton, e também o Livro de Ester, presente no Antigo Testamento.
O Livro de Ester, que trata da vida da jovem judia em meio às intrigas da corte do imperador persa, não é a única fonte fora do mundo greco-romano a ser analisada em Imagining Xerxes. Inscrições, evidências materiais e esculturas são analisadas para oferecer uma imagem dos monarcas aquemênidas de dentro de seu próprio império. Apesar de diferentes das narrativas ocidentais, essas fontes também não são isentas, pois foram produzidas em um contexto social, cultural e político específicos, sendo profundamente influenciadas pelo mesmo. É importante notar que essas fontes tiveram um caráter oficial, sendo feitas por ordem dos próprios monarcas retratados nelas ou por seus sucessores. Não há, em nenhuma das fontes persas sobreviventes, qualquer menção à campanha militar de conquista da Hélade, quanto mais à sua derrota e seus possíveis reflexos. Não há aspecto mais evidente que esse para demonstrar a diferença entre o olhar persa e grego acerca do reinado de Xerxes.
Já Flávio Josefo, judeu vivendo no período de hegemonia romana, apresenta uma visão peculiar sobre o rei. Apresentado como uma figura benevolente e piedosa com seus súditos, adquire traços claramente opostos àqueles construídos pela tradição greco-romana, profundamente marcada pela memória e pelo trauma da invasão persa. Mas Josefo não é o único a citar Xerxes durante a hegemonia romana. A figura de Xerxes e a campanha sempre atrelada à sua imagem pelo lugar comum literário ocidental adquirem novos usos durante o Império Romano. Torna-se um paradigma moral geralmente negativo, sendo exemplo do que não deve ser feito, mas também um personagem privilegiado para o tema da mutabilidade da fortuna humana.
No mundo dominado pelos imperadores romanos, a figura do déspota oriental também adquire um lado contestatório ao poder exercido de forma excessiva, injusta e arrogante. Mas como os gregos vivendo como súditos de um poder estrangeiro viam Xerxes? Sua imagem poderia adquirir um caráter subversivo ao poder imperial romano, sendo muitas vezes perigoso traçar analogias entre os conquistadores do leste e do oeste. Existiam dois modos de fazê-lo, enfrentar Roma como fez Pausânias ou seguir uma postura mais cautelosa, assim como foi feito por Plutarco. Pode-se concluir que a pesquisa realizada por Emma Bridges leva à uma série de constatações. A primeira é que, na Antiguidade, existia um complexo de representações sociais acerca de Xerxes. Tais representações têm diferentes focos e intenções, seja na campanha militar de conquista da Hélade ou nas intrigas palacianas, assim tendo uma visão depreciativa ou amistosa e respeitosa em relação ao rei persa.
Porém uma série de traços se tornou mais ou menos difundidos ao ponto de serem lugares comuns literários. Tais características são possíveis de serem visualizadas já nas primeiras obras gregas acerca das Guerras Greco-Pérsicas, como nas obras de Ésquilo e Heródoto. A imagem de um poder despótico regido pela desmedida bárbara começa a ser traçado amplamente pelo tragediógrafo ateniense e, em certa medida, pelo historiador de Halicarnasso. Tornaram-se já difundidas no século IV, continuando assim em boa parte das obras greco-romanas da Antiguidade.
Visões alternativas estão até certo ponto presentes na obra herodoteana. Mas as maiores alternativas aos lugares comuns ocidentais está nas próprias fontes judias e persas, trazendo representações radicalmente diferentes daquelas construídas por Ésquilo ou Lísias.
Emma Bridges tem o mérito de empreender uma pesquisa de fôlego e ter um grande conhecimento de fontes vindas de contextos temporais e espaciais distintos, para alcançar uma visão mais ampla acerca das múltiplas representações de Xerxes na Antiguidade, sempre levando em conta os contextos nos quais estão inseridas cada obra.
Nota
1. Bridges, Emma. Imagining Xerxes: Ancient Perspectives on a Persian King. Londres: Bloomsbury Publishing Plc, 2015, p.3.
Mateus Mello Araujo da Silva – Graduando em História da Universidade Federal Fluminense. Membro do Núcleo de Estudos de Representações e de Imagens da Antiguidade (NEREIDA/UFF). Bolsista de Iniciação Científica/PIBIC-CNPq. E- mail: mateusaraujomello@hotmail.com
BRIDGES, Emma. Imagining Xerxes: Ancient Perspectives on a Persian King. Londres: Bloomsbury Publishing, 2015. Resenha de: SILVA, Mateus Mello Araujo da. As várias faces de um rei persa: muito além do déspota bárbaro. Cantareira. Niterói, n.22, p. 217 – 219, jan./jul., 2015. Acessar publicação original [DR]
A historicidade da fronteira nos tempos passados e presentes / Cantareira / 2014
Pensar a constituição dos chamados Estados Nacionais têm sido uma preocupação constante nas análises historiográficas. A nação foi, enquanto produto do século XIX, uma construção orientada por traços comuns que a sustentavam, tais como a constituição de uma memória comum, de uma trajetória comum e de um porvir comum. Nesse sentido, estabelecer fronteiras entre o “nós” e o “eles” permitiu a consolidação de “comunidades imaginadas” – ainda que em graus variados para cada lugar -, seguindo a expressão usada no livro de Benedict Anderson para pensar o Estado Nação [2´]. Em um período onde as nacionalidades vêm sendo cada vez mais reivindicadas e os limites dos países ocidentais reafirmados, é interessante perceber o lugar destinado às fronteiras e sua ligação com a sociedade que as envolve.
A preparação deste número para a Revista Cantareira dedicado a um estudo que vislumbrasse uma história social das fronteiras tinha por objetivos trazer à cena os agentes sociais que viviam nesses espaços fluidos, indeterminados e por vezes confusos para os que nela transitavam. Nosso maior desafio foi pensar a historicidade do tema na medida em que, cada vez mais, a ideia de fronteira entre Estados Nação distintos têm se fortalecido diante de outras demandas sociais e econômicas como as ondas de imigração no continente europeu e as diferentes ações dos Estados para contê-las. As tentativas de impedir a entrada de imigrantes somadas à uma série de ações de proteção ás fronteiras nacionais têm sido noticiadas na imprensa nacional e internacional. Na era da Internet e do imediatismo das informações, os contornos mundiais vêm ganhando outras dimensões que podem atender a perspectivas e interesses variados, os quais muitas vezes estão associados a ideia de soberania – conceito formulado ao longo do século XVIII para abarcar a defesa dos interesses dos Estados Modernos, onde é possível destacar uma polarização entre a moral e a política para a constituição desta ideia [3]. Nesse sentido, é importante sublinhar que a constituição de espaços de soberania podem, ainda hoje, ser referendados como norteador fundamental para os Estados Nação; embora haja certo paradoxo com a integração e a união, destacadamente econômica.
Muitos jornais têm noticiado o impacto da entrada de estrangeiros na Europa. Esta, por sua vez, vem sendo interpretada como a maior crise de imigração ocorrida desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Países como Áustria, Hungria, Grécia, Espanha, Sérvia, Itália, Alemanha, França e Reino Unido se veem recebendo um número elevado de refugiados oriundos da Síria, de países africanos, da Turquia, entre outros lugares. Isso têm fomentado reações as mais diversas das autoridades e também da sociedade, dentre as quais podemos destacar: 1) a intensificação da segurança nas fronteiras, como no Canal da Mancha, e o uso de linhas de arame farpado numa cerca definitiva que separaria países como Sérvia e Hungria; 2) o aumento da força nas ações policiais e, por conseguinte, de ações de xenofobia nos mais variados estratos sociais e; 3) uma série de pedidos da Organização das Nações Unidas (ONU) em prol de uma postura mais branda por parte das autoridades europeias em relação a estes refugiados [4].
A partir destas linhas de raciocínio, como podemos dar conta de uma realidade tão variada e distinta presente nos espaços fronteiriços? É importante frisar que não falamos apenas das fronteiras coloniais, reflexo do processo de colonização; mas também a constituição destes espaços na contemporaneidade e seus reflexos no que tange as políticas públicas e de assistência social. É nítido que os primeiros debates sobre o tema tiveram sua importância ao perceber a singularidade da fronteira, a qual não pode ser vista apenas enquanto uma linha imaginária que dividia o domínio de duas (ou mais) jurisdições distintas; mas também como um espaço de múltiplos significados cuja experiência precisava ser melhor interpretada e construída. O pensar a vida na fronteira recaía em, pelo menos, dois pólos: um sinalizava o papel do Estado diante das interações sociais, pensando o viés das instituições coloniais para melhor compreendê-las. Já o outro polo sinalizava a ação dos indivíduos frente a um mundo que lhes era hostil, onde predominava o desconhecido, o bárbaro – locus ideal aos chamados excluídos da sociedade [5].
Optamos por pensar este espaço de múltiplos significados através de análises interdisciplinares, na busca da apreensão de diversos elementos para a configuração deste espaço, contemplando questões políticas, culturais, econômicas, tanto dos tempos passados quanto dos tempos atuais. O primeiro artigo, intitulado “O nervo mais forte das fronteiras: dinâmicas sociais dos índios no Paraguai [séculos XVI e XVII]”, de Bruno Castelo Branco, busca mostrar a participação ativa dos povos indígenas da América Meridional nos processos de constituição destes territórios; destacando a ação dos mesmos enquanto força de trabalho através da mita e da encomienda, reiterando a importância de se abordar a “agência histórica indígena” numa perspectiva de negociação, e não somente dentro de uma leitura assimétrica da dominação no decorrer do processo de conquista e de colonização da América.
O segundo artigo, “As fronteiras sociais do nacionalismo alemão: Identidade nacional, etnicidade e os paradoxos da democracia alemã nos dias atuais” já nos remete a questões do tempo presente a partir da discussão sobre os paradoxos da identidade nacional alemã; a qual teve, ao longo de sua história, uma construção baseada num passado de glórias e de guerras. Num país atualmente multiétnico, “ser alemão” têm sido cada vez mais questionado por conta de questões econômicas, sociais e culturais que perpassam a realidade de outros países europeus – tais como a França e o Reino Unido – onde a presença de imigrantes, sobretudo muçulmanos, vem sendo polemizada e questionada.
Já no texto de autoria de Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior aparecem as complexidades das relações diplomáticas entre o Brasil e Guiana Francesa dentre fins do século XIX e inícios do século XX, tomando o espaço do Amapá como local de análise. A partir de publicações do jornal norte-americano Times, o então território do Amapá “surgia” num veículo de comunicação que objetivava retratar uma determinada visão dos fatos e que, por outro lado, acabou por contemplar experiências de outros agentes sociais que viviam naquelas regiões; estabelecendo conexões entre o Brasil, a Guiana Francesa e os Estados Unidos. A ideia de consolidar pesquisas que tratem de temáticas transnacionais nos coloca o desafio de se pensar a multiplicidade das ações e das reações na fronteira no gerenciamento de conflitos e no quanto os mesmos podem impactar a política e a diplomacia tanto no passado quanto em tempos recentes.
Por fim, o artigo intitulado “Vivendo na Bolívia, contudo trabalhando do Brasil: uma discussão acerca de convivência(s) e migrações na Zona de Fronteira Brasil / Bolívia”, envereda por uma questão fundamental nos espaços de fronteira: a relação das pessoas com o trabalho. Num espaço onde uma das principais atividades econômicas é o comércio, constituir determinadas interações sociais poderia fomentar conflitos em torno do que os agentes locais interpretam como uma noção de territorialidade. Nesse ínterim, o diálogo entre as pessoas e o espaço é fundamental a apreensão de um significado econômico da fronteira, de modo que os habitantes de cidades do Mato Grosso confluentes com a Bolívia irão se ater a suas lógicas de apropriação e significação do território.
Ainda na busca por problematizar os temas relativos ao universo das fronteiras, temos uma entrevista com a Profª Drª Keila Grinberg (UNIRIO), que tratou de temas mais recentes de sua pesquisa sobre o papel da escravidão nestas regiões e o peso que ela possuía no relacionamento diplomático do Império Brasileiro com as recém formadas repúblicas do Uruguai, da Argentina e do Peru. Além disso, a historiadora ressaltou as possibilidades de pesquisa dentro de uma perspectiva atlântica, a importância da comparação enquanto método de pesquisa para compreender semelhanças a diferenças nos processos históricos e o papel das chamadas histórias regionais à compreensão de realidades locais e, por que não ousar dizer, nacionais?
Por fim, contamos com uma sessão de artigos livres, onde é possível ver contribuições interessantes ao estudo de histórias regionais e a importância de instituições para garantir o atendimento demandas sociais. Além disso, outros artigos destacam o papel que determinadas fontes têm para o trabalho do historiador e a importância das experiências conectadas no mundo colonial em campos como a cultura e a religiosidade.
Agradecemos aos pareceristas e desejamos, desde já, uma boa leitura!
Notas
- ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Também são obras importantes deste debate os livros de Eric Hobsbawm. Nações e nacionalismos desde 1780. Programa, mito e realidade. 5ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. Do mesmo autor, com organização junto com Terence Ranger. A invenção das tradições. 6ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008.
- KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise. Uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de Janeiro: Ed. Uerj / Contraponto, 1999. p. 55-56.
- Ver, dentre outras notícias sobre o tema: Jornal O Globo, 25 / 08 / 2015. Europa militariza fronteiras frente à crise migratória. Disponível em: http: / / oglobo.globo.com / mundo / europa-militariza-fronteiras-frente-crisemigratoria-3-17303595. Folha de São Paulo, 26 / 08 / 2015. Polícia húngara usa gás lacrimogêneo em centro para migrantes. Disponível em: http: / / www1.folha.uol.com.br / mundo / 2015 / 08 / 1673716-policia-hungara-usagas-lacrimogeneo-em-centro-para-migrantes.shtml. RFI Brasil, 27 / 08 / 2015. Áustria e Hungria, em dia fúnebre para os migrantes. Disponível em: http: / / www.portugues.rfi.fr / mundo / 20150827-austria-e-hungria-em-diafunebre-para-os-migrantes.
- TURNER, Frederick Jackson. “O significado da fronteira no Oeste Americano”. KNAUSS, Paulo (org). Oeste Americano: 4 ensaios de História dos Estados Unidos da América de Frederick Jackson Turner. Niterói: EDUFF, 2004. BOLTON, Herbert E. “La misión como institución de la frontera en el septentrion de Nueva España”. Francisco de Solano e Salvador Bernabeu (orgs): Estudios (Nuevos y Viejos) sobre la frontera. Madri: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991. p. 45 – 60. HOLLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 31. RUSSELL-WOOD, John. Histórias do Atlântico português. São Paulo: Editora UNESP, 2014.
Hevelly Ferreira Acruche – Doutoranda pela Universidade Federal Fluminense. Bolsista pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes).
ACRUCHE, Hevelly Ferreira. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n. 21, jul / dez, 2014. Acessar publicação original [DR]
O legado das ditaduras civis-militares / Cantareira / 2014
O que o recente ciclo de ditaduras latino-americanas legou às nossas democracias?
Na esteira das comemorações dos 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, a Cantareira, revista discente de História da Universidade Federal Fluminense, optou por preparar um número que contribuísse para aprofundar os debates que ocorreram ao longo deste ano. Escolhemos um viés que ajuda compreender a herança da ditadura no Brasil, em perspectiva comparada com outros países da América Latina, que passaram por experiências semelhantes. Nossa questão aqui é pensar sobre o que o recente ciclo de ditaduras latino-americanas legou às nossas incipientes democracias.
Há que se ponderar que parte considerável dos legados deixados pelas ditaduras civis –militares na América Latina estão intrinsecamente ligados à forma como ocorreram os processos de transição e como se construíram as relações entre civis e militares após o fim destes regimes. Há uma vasta literatura que trata deste tema e quem vem sendo revisitada, principalmente para que se possa tratar de outro tema: a Justiça de transição, campo de estudo interdisciplinar, cujo número de pesquisadores aumenta no Brasil.
Existem várias especificidades que diferenciam o modo como estas transições ocorreram em cada um destes países. Na perspectiva de uma literatura clássica sobre as transições, na Argentina, o processo de transição teria se dado “por colapso”, ou seja, o regime passava por um processo de desgaste por crise econômica, divergências internas dentro das três Forças Armadas e o ápice da crise, que levou ao fim do regime, foi a derrota para a Inglaterra na Guerra das Malvinas. Dentro deste quadro, a saída dos militares se deu sem uma organização ou tutela das próprias Forças Armadas. Por outro lado, os civis não assumiram de imediato esta situação de crise e se dividiram sobre como deveria ser tratado o poder militar e como seriam tratados os crimes cometidos pelo regime.
Alguns pesquisadores questionam esta visão clássica do “colapso”, e consideram a transição como “contingencial”, tendo em vista que o governo permaneceu por mais 13 meses no poder, tempo suficiente para definir uma agenda política para o país, assegurando os rumos da transição e as eleições em 1983, evitando uma saída do poder desqualificada [2].
O governo Alfonsinista limitou-se, de acordo com Marcelo Saín, à revisão judicial das violações aos direitos humanos, sem que se reformasse e democratizasse as Forças Armadas. A lógica presidencial era de punição dos militares de alta patente envolvidos em violações de direitos humanos e de livrar a maioria dos outros participantes, dentro da lógica da obediência devida. O governo seguinte, de Carlos Menen, caracterizou-se, neste campo, por haver sucateado as Forças Armadas, tirando a obrigatoriedade do alistamento e cortando os investimentos. Com a transição, desenha-se um novo tipo de relação civil-militar: o histórico protagonismo militar cedeu espaço a um outro papel, do militar subordinado, passivo e perdido dentro da burocracia do Estado[3].
O caso uruguaio se configura como uma transição tutelada pelos militares. Tutela esta, exercida em vários âmbitos da vida política: os partidos políticos foram proscritos, e antigos desafetos do regime continuavam proibidos de voltar ao país. A censura não foi desarticulada e as prisões continuavam com presos políticos. Das peculiaridades deste processo, estão a falta de influências externas, ou seja, não houve, como no caso argentino, uma “aventura militar” internacional, tampouco houve grande pressão internacional para o fim da ditadura [4]. Há três hipóteses levantadas acerca do processo de transição uruguaio:
a)As forças armadas eram permeáveis à cultura democrática precedente, pelo que a posição oficial não aceitou um discurso autoritário e continuísta. b) O processo autoritário não foi capaz de dar soluções aos problemas estruturais do país e teve cada vez mais dificuldades de conduzir o Estado e a sociedade. c) As forças armadas foram perdendo seu poder de distribuição, na medida em que sua política econômica foi revelando seu fracasso [5].
Mesmo assim, no apagar das luzes do governo civil-militar, foi aprovada a Lei de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que propunha a não punição dos delitos cometidos por militares e policiais até março de 1985 por mando do governo. Somente em 2011 o Congresso aprovou uma lei que considera delito de lesa-humanidade os crimes ocorridos na ditadura, viabilizando a punição dos agentes do sistema repressivo.
Já no caso brasileiro, tivemos a “transição por transação”, ou transação compactuada. Como muito bem apontou Maria Celina D´Araújo, um dos legados da ditadura civil-militar brasileira, que a distingue de outras ditaduras como a Argentina foi, sem dúvida, a não punição de agentes do Estado que cometeram crimes contra a humanidade, devido à lei de Anistia de 1979, que contemplou tanto os crimes cometidos pelos opositores do regime, mas também os agentes torturadores e envolvidos em desaparecimentos. A forma em que a Lei de Anistia foi cuidadosamente articulada pelos setores governistas, criou uma outra situação também atípica nos demais países do Cone Sul: o Brasil é o país em que estes mesmos agentes de Estados que cometeram crimes de lesa-humanidade tiveram mais sucesso como veto players, quando o assunto em questão se relacionava à revisão do passado. Isto pode ser comprovado pelo fato de até o corrente ano sermos o único país da região que não julgou algum policial ou militar envolvido neste tipo de crime. Segundo a autora, isto se deve à existência de uma autonomia militar que vem de antes da ditadura e se mantem até os dias atuais, aliada à baixa cultura de respeito aos direitos humanos na sociedade brasileira e ainda ao desinteresse dos governos, em geral, pelo tema das Forças Armadas.
Parte-se da premissa de que desde 1979 as Forças Armadas fizeram da Lei da Anistia um assunto tabu e atuaram com poder de veto sempre que o tema entrou na agenda política. Contaram para tanto, com o apoio velado ou explícito do Poder Executivo, com a morosidade da Justiça, a inapetência do Legislativo para com os temas dos militares e dos direitos humanos. Tiveram a seu favor, especialmente, o fato de que a sociedade brasileira nunca se mobilizou em defesa de uma política de direitos [6].
Este protagonismo dos militares como veto players pode ser percebido sensivelmente se observarmos a nossa Comissão Nacional da Verdade. Criada em 2012, após uma série de negociações, estabeleceu-se que não teria caráter punitivo. Mesmo uma vez identificados os crimes e seus autores, eles não seriam passíveis de punição. Em toda demanda por justiça dentro desta perspectiva de crimes cometidos por militares, a autonomia castrense veta qualquer avanço.
Mas o problema não se restringe à atuação dos militares. Maria Celina D´Araujo e Sue Ellen Souza realizaram um balanço da posição da imprensa em relação à CNV, quando da sua criação [7]. Entre 2011 e 2012, o argumento mais forte era o da conciliação. De certa forma, como conclui D´Araújo, evidenciava-se um temor de risco do processo democrático e “não raro a Comissão é tratada como ação extemporânea, desprovida de sentido prático, e movida por ação raivosa”. Já a ação militar no combate à violência é vista positivamente. Ou seja, uma baixa cultura de direitos humanos aliada a esta visão “nos colocam num patamar vergonhoso nos rankings internacionais” [8]
Às vésperas do encerramento do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que será realizado em dezembro próximo, foi noticiado que a Comissão defenderá a responsabilização criminal de agentes da ditadura acusados de tortura e morte de militantes de esquerda. Falta decidir se pedirão abertamente a revogação da Lei de Anistia, que protege os acusados, ou se deixará esta tarefa para os partidos e movimentos sociais [9].
Tendo em vista estas considerações sobre relações civis-militares pós-ditaduras e as consequências das transições no modo como se trata este passado presente, buscamos uma leitura dos artigos aqui reunidos, desenhando um panorama da questão: Quais os legados das ditaduras no Brasil e na América Latina?
Optamos pela interdisciplinaridade, para termos uma amostra de como determinados temas são tratados em outras áreas que dialogam com a História. Assim sendo, o artigo que abre nosso dossiê é: “O que resta das ditaduras e o que havia de nós: história e memória nos mecanismos de justiça de transição no Brasil”, de Pedro Ivo Teixeirense. O autor faz algumas reflexões sobre História e Memória quando se trata da temática da justiça de transição no Brasil, bem como apresenta algumas reflexões acerca dos limites que a configuração de dado gênero narrativo impõe a quem produz narrativa inserida nesse contexto. Ainda, Teixeirense apresenta o processo de configuração do gênero narrativo mencionado, que surge por meio da definição de um modelo para a apresentação das demandas de justiça, história e memória no Brasil, em análise restrita ao modelo adotado pela Comissão de Anistia criada no ano de 2001.
O segundo artigo, “Ditadura militar brasileira e produção ideológica: Um estudo de caso com militares que atuaram no período ditatorial”, de Thiago Vieira Pires, analisa a produção ideológica da ditadura civil-militar brasileira, a partir de um estudo de caso. O autor busca compreender como os militares produzem e reproduzem uma determinada ideologia – a da segurança nacional –, que de modo algum os exime das responsabilidades dos crimes por eles cometidos em nome do Estado. Por meio de depoimentos, o autor evidencia a atualidade deste pensamento em determinados setores militares e como persiste uma cultura de desconfiança e monitoramento da sociedade.
O terceiro texto traz novamente a perspectiva comparada. “Fuerzas Armadas y gobierno en Argentina y Brasil: Tres décadas en perspectiva comparada”, de Gregorio J. Dolce Battistessa e María Delicia Zurita problematizam o papel delegado / assumido pelos militares após o fim das ditaduras. Passaram a ser convocados não para ir contra a população, ao contrário, passaram a ser convocados em momentos de tragédias, trabalhos de assistência, desenvolvimento tecnológico e luta contra o tráfico de drogas. Claro que esta mudança no papel das Forças Armadas não ocorreu sem tensões, sobretudo no que diz respeito ao passado ditatorial.
Na sequência, “Do banimento à luta pela Anistia: a Associação dos Anistiados Políticos e Militares da Aeronáutica– GEUAr”, de Esther Itaborahy Costa, traz outro estudo de caso, dos integrantes que lutam por direitos políticos suspensos, por terem perdido suas funções militares na instituição que serviram, perda esta que se deu a partir de uma portaria de 12 de outubro de 1964. Esses ex-militares alegam em seus processos, enviados à Comissão de Anistia, que essa portaria teve caráter exclusivamente político, já que com dez anos de serviço o militar alcançava estabilidade e poderia progredir na carreira chegando a postos superiores. O artigo mostra uma batalha pela memória e por direitos e os limites da justiça para casos como estes.
Por fim, Maria Soledad Lastra contribuiu com o artigo: “Semillas de la recepción a los retornados del exilio argentino y uruguayo”, que analisa as formas de criação de redes de solidariedade e auxílio aos exilados retornados à Argentina e Uruguai. O artigo evidencia as distintas formas de recepção em ambos países, as distintas formas de atuação dos organismos de direitos humanos em torno das agendas criadas no pós-ditadura. A análise comparada mostrou como os processos de transição e o tema do retorno foram inscritas de forma diferente em cada caso: no Uruguai se tornou um dos pilares políticos centrais, que permitiram que se confluísse em partidos políticos e movimentos de direitos humanos, já na Argentina, esta questão foi atendida por organizações muito próximas às de direitos humanos, mas apesar disto, esta questão se tornou politicamente isolada. Ou seja, houve maior integração dos exilados à política no Uruguai e maior exclusão na Argentina.
Ainda visando aprofundar a questão da luta por direitos humanos e exílio, temos: “Explorando las redes transnacionales de derechos humanos en América Latina: los orígenes de la Federación de Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Una entrevista con Patrick Rice”. Mario Ayala apresenta o primeiro secretário da Federacion Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (1981-1985), localizada na Venezuela.
Agradecemos aos pareceristas que ajudaram a viabilizar este trabalho e desejamos uma boa leitura!
Notas
- Cf. BRANDÃO, Priscila. Argentina, Brasil e Chile e o desafio da reconstrução das agências nacionais civis de inteligencia no contexto no contexto de democratização. Tese de Doutorado. Ciências Sociais. UNICAMP. 2005.
- Cf. SAIN, Marcelo. Democracia e Forças Armadas: entre a subordinação militar e os “defeitos civis”. In: D´ARAUJO, Maria Celina & CASTRO, Celso. Democracia e Forças Armadas no Cone Sul. Rio de Janeiro. FGV, 2000. P.21-55; D´ARAUJO, Maria Celina & CASTRO, Celso. Apresentação. In: D´ARAUJO, Maria Celina & CASTRO, Celso. Democracia e Forças Armadas no Cone Sul. Rio de Janeiro. FGV, 2000.
- CABRAL, João Pedro. A recuperação democrática uruguaia, 1982-1984: Transição via concertação tutelada. http: / / www.historia.uff.br / estadoepoder / 7snep / docs / 026.pdf . Acesso em 21 / 10 / 2014.
- AGUIAR, Cesar citado por CABRAL. op.cit. p.2.
- D´ARAÚJO, Maria Celina. O estável poder de veto Forças Armadas sobre o tema da anistia política no Brasil. In: Varia História. Vol.28 no.48. UFMG. Belo Horizonte. Jul / Dez 2012. Retirado de: http: / / www.scielo.br / scielo. php?pid=S0104-87752012000200006&script=sci_arttext .Acesso em 25 / 10 / 2014
- SOUZA, Sue Ellen. Forças Armadas, Transição e “Verdade”: Brasil e Cone Sul. Departamento de Ciências Sociais. PUC / RJ. 2012. http: / / www.puc-rio.br / pibic / relatorio_resumo2013 / relatorios_pdf / ccs / SOC / CSOCSue%20Ellen%20de%20Souza.pdf . Acesso em 20 / 10 / 2014.
- D´ARAUJO. op. cit. 2012.
- Comissão defenderá responsabilização criminal de agentes da ditadura. Painel. Folha de São Paulo. 02 / 11 / 2014
Isabel Cristina Leite – Doutoranda em História Social pela UFRJ. Bolsista FAPERJ nota 10. Co-organizadora dos livros: À sombra das ditaduras: Brasil e América Latina. (Mauad, 2014) e Questões da América Latina contemporânea. (Fino Traço. No prelo.)
LEITE, Isabel Cristina. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n. 20, jan / jun, 2014. Acessar publicação original [DR]
O fato e a fábula: o Ceará na escrita da história | Francisco Réges Lopes Ramos
O estudo do historiador Francisco Régis Lopes Ramos intitulado de O fato e a Fábula: O Ceará na escrita da História, publicado em 2012, trata da construção de uma determinada visão da História do Ceará, que vai se modificando ao longo do tempo. A partir de um recorte temporal de 1860 até 1970 – o objetivo de Régis Lopes é tomar a História do Ceará como objeto “que foi se legitimando na medida em que foi se constituindo”. O historiador Régis Lopes, atualmente Professor da Universidade Federal do Ceará, pós-doutor pela Universidade Federal Fluminense, tem estudos acerca da religiosidade, memória, ensino e teoria da História. No entanto, neste trabalho deve-se esclarecer que seu interesse não é privilegiar os autores estudados “já feitos”, mas esses autores em seus “fazer-se”, que vão “aperfeiçoando” seus conhecimentos “na medida em que o tempo vai passando”. Esses autores são José de Alencar, Alencar Araripe, Cruz Filho, Raimundo Girão, Filgueira Sampaio, Pedro Théberge, Senador Pompeu, entre outros. Ao se centrar na “cultura letrada” (na ilha dos letrados), analisa o tema da História do Ceará através de autores, livros e obras de História do Ceará, especificamente de autores cearenses, ‘partindo’ de José de Alencar – literato cearense. Iracema, Sertanejo, Troco do Ipê entre outras, são obras (assim como outras de outros escritores) que perpassam boa parte do livro, possibilitando ao historiador pesar historicamente concepção do “passado” do Ceará. Até mesmo a percepção de uma construção da imagem de autores que se deu como fundamental para composição desse “passado” – muitas vezes imaginado – do Ceará. José de Alencar, o “filho ilustre da terra”, não por acaso, entra na obra de Cruz e Souza, História do Ceará – resumo didático (1931), como um cearense de (merecido) destaque. Uma certa interação entre a escrita sobre o Ceará e a escrita de livros didáticos no Estado é perceptível.
No entanto, a análise histórica de Régis não se trata de uma “perspectiva tradicional de história das ideias”, como ele mesmo destaca, como se o passado cearense fosse “algo dado” pela natureza e ao pesquisado resta-lhe “apenas descobri-lo”; trata-se, entretanto, de uma “inexistência do objeto em si mesmo”, de modo que legitime-se a “crença” no passado cearense. Régis Lopes inicia sua análise do ponto que diz respeito “a parte e o todo”. A partir da orientação pioneira, a escrita da História do Brasil não deveria desprezar as singularidades das províncias, pois estas deveriam se manter unidas (fazendo parte do “todo”). Contudo, o norte do trabalho parte da preocupação em como escrever a História do Brasil levando em consideração as particularidades de cada parte (províncias) relevantes e fundamentais para o todo (Brasil); de modo que essa História do Brasil não pareça um aglomerado “de histórias especiais de cada uma das províncias”, como afirma Régis citando Martius. Desse modo, a presente obra direciona-se para o papel de autores cearenses, “na história e na literatura”, que buscaram evidenciar a importância do Ceará para a História do Brasil, no interesse de, no presente, construir a ideia de um Ceará “louvável e correto.”
No estudo de obras como Iracema (1865), de José de Alencar, e História da Província do Ceará (1867), de Alencar Araripe, o autor parte da ideia de que essas obras são exemplos de “escrita militante”, pela qual seus autores buscaram “figurações do passado” na tentativa de imaginar um passado para o Ceará, destacando o intuito de construção de uma “nacionalidade”, pelos intelectuais do século XIX, através da qual procuraria efetivar um passado cearense que seria “transladado ao presente, (…) filtrado, digerido e transformado em força.”Isto está explicito no material didático organizado por Joaquim Nogueira publicado em 1921, no seu livro Ano Escolar. Nesta, Nogueira indicava orientações pedagógicas entre as quais havia o intuito de o trabalho do professor seguir o pressuposto de um tempo linear, pontuando os feitos ilustres na lógica de causa e consequência – precisava-se, portanto, “criar” fundadores para o Ceará. Nessa disputa e trânsito de valores, permeado de escolhas, elaboram-se datas e fatos (célebres) através de uma “narrativa sedutora (…), com uma trama bem urdida para atrair a atenção do leitor e (…) torna-lo cúmplice partícipe da história que ele lê e da qual participa como cearense que procura conhecer o passado para amar o presente.”
Assim, o que s destaca na oba é o interesse de modelar um determinado discurso para a História do Ceará que atendeu às demandas específicas do espaço-tempo em que os intelectuais cearenses estavam inseridos. É importante salientar em O Fato e a Fábula a necessidade que esses intelectuais tinham de legitimar tais considerações para com o passado do Ceará através do ensino, pois se acreditava na importância dos estudantes saberem terma e autores que trataram do Ceará. Dessa forma, tais operações historiográficas se davam no sentido de “civilizar” o povo através do ensino da história, uma verdadeira “missão” que as “ilhas de letrados” detinham. O capítulo XIX “Começo, meio e fim” é destacável para perceber a dimensão do ensino, neste capítulo Régis destaca os quatro livros didáticos mais usados, de algum modo, nas escolas cearenses. Os livros são: História da Província do Ceará (1867) de Alencar Araripe, a já citada de Cruz Filho, uma de Raimundo Girão, Pequena História do Ceará (1953), e História do Ceará de Filgueira de Sampaio; Lopes procura entender na análise dessas obras como se constitui “o enquadramento do tempo para dar conta do espaço delimitado como o Ceará”. O final de cada livro é o presente de cada autor, por isso observam-se temas como o pioneirismo cearense na Abolição, as secas, a migração ao Acre, e mesmo figuras tidas como importante, como Humberto Castello Branco – o “bravo cearense” – no capitulo “O Ceará na Presidência.” é destacável, pois esse se dedicou aos livros didáticos.
Além de destacar a importância que o ensino de História do Ceará teve para tais autores, Régis também ressalta a importância que esses autores deram à escrita da História cearense. De forma geral “estava em jogo a legitimidade tanto da História do Ceará quanto do historiador cearense”. A obra do historiador é pontual quando procura conceber que o passado cearense não é “algo dado” de modo que os autores e as obras vão se constituindo, construindo o conhecimento de acordo como passar do tempo. Por isso, afirma que tal “objeto”: o passado do Ceará em si inexiste, havendo apenas uma “crença” nesse passado, pois “se não fosse o objeto da crença, a própria crença nem poderia sonhar em existir”. Publicado em 2012, quando é evidente o debate atual acerca do trabalho docente, do conhecimento histórico, do conhecimento escolar, dos métodos de exames (ENEM, por exemplo), o livro possibilita uma reflexão acerca do próprio fazer historiográfico e do ser historiador, principalmente quando se percebe a discussão entre o “local” e o “nacional”, o “cearense” e o “brasileiro”.
Raul Victor Vieira Ávila de Agrela.
RAMOS, Francisco Régis Lopes. O fato e a fábula: o Ceará na escrita da história. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora, 2012. Resenha de: AGRELA, Raul Victor Vieira Ávila de. Sobre o fato Ceará: acerca da fábula cearense. Cantareira. Niterói, n.20, p. 129- 131, jan./jul., 2014. Acessar publicação original [DR]
História e meio-ambiente / Cantareira / 2013
A partir de uma abordagem interdisciplinar as pesquisas que investigam as relações entre a História e a natureza, em seu sentido mais amplo, ganharam força nos últimos anos. Motivada por esse impulso a Revista Cantareira recebeu contribuições com essa proposta.
Desde o final do século XIX e princípios do século XX, o chamado “determinismo geográfico” era uma corrente científica influente em vários países da Europa, com repercussões também no Brasil. “Os Sertões” (1902) de Euclides da Cunha talvez seja o exemplo mais marcante dessa influência entre os intelectuais brasileiros. Nas primeiras décadas do século XX esse determinismo também começava a ser revisto. Os estudiosos fizeram uma releitura passando a destacar não como o meio determinava o desenvolvimento das sociedades, mas o quanto ele influenciava. A publicação de “O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Filipe II” de Fernand Braudel em 1946 foi um passo importante nessa releitura, mas antes dele Marc Bloch e Lucien Febvre já haviam dado contribuições nesse sentido. Mais uma vez, os historiadores brasileiros acompanhariam de perto esse processo ainda que, neste momento, não se possa estabelecer uma relação direta entre a produção intelectual na França e no Brasil. Gilberto Freyre com “Nordeste” (1937) tratava do impacto da cana de açúcar na destruição do meio ambiente e suas implicações sociais, assim como Sérgio Buarque de Holanda alguns anos mais tarde abordaria com “Monções” (1945), como a expansão das bandeiras paulistas também esteve condicionada aos regimes fluviais.
A partir de meados do século XX as investigações sobre o tema ganharam grande sofisticação com os trabalhos de Emmanuel Le Roy Ladurie – “L’Histoire du climat depuis l’na mil” (1967) – na França e de Keith Thomas – “O homem e o mundo natural” (1983) – na Inglaterra. O historiador francês procurou relacionar o surgimento das doenças, como pestes, e as transformações de ordem natural, enquanto Thomas demonstrou o surgimento de novas sensibilidades do homem em relação as plantas e os animais na época moderna.
Ainda relacionada a esta temática é preciso se referir ao livro “A Ferro e Fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira” (1996) de Warren Dean que tratou da história das relações entre o homem e a Mata Atlântica e da devastação desse ecossistema único no mundo.
Todas essas questões foram debatidas com argúcia por uma das principais referências quando se fala em História Ambiental no Brasil atualmente, o professor José Augusto Pádua da UFRJ em entrevista concedida nessa edição. Como se trata de um campo, por essência, interdisciplinar, constituiu um bom exemplo disso o artigo de Ana Marcela França sobre as percepções da natureza na História da Arte, a partir de um olhar da História ambiental. Essa abordagem aparece plural também aparece no artigo de Catarina de Oliveira Buriti, José Otávio Aguiar e de Bread Soares Estevam em análise do clássico “Vidas Secas” (1938) de Graciliano Ramos, em que os autores discutem as imagens atribuídas aos animais presentes na obra, como uma forma de representação do modo de vida dos sertanejos.
Entre os artigos livres, mas de alguma maneira tangenciando o tema do dossiê, Patrícia Govaski investigou o padre português Teodoro de Almeida e a defesa que fez da filosofia Natural Moderna em Portugal na segunda metade do século XVIII que, segundo o religioso, sobressaía a filosofia dos seguidores de Aristóteles.
Nessa edição o leitor ainda irá encontrar o artigo de Maurício Dezordi que discutiu o fluxo migratório em meados do século XX no Paraná baseado na agricultura familiar. A história da historiografia das teorias raciais no Brasil é apresentada por Diego Uchoa de Amorim. Também apresentamos um interessante debate sobre a historiografia relacionada as teorias raciais no Brasil, no artigo de Diego Uchoa de Amorim.
A tradução feita por Luís R. A. Costa do artigo “Mera crônica e história apropriada” do norte americano Arthur Danto, não deixa de ser uma forma de homenagem a esse importante crítico de arte, recentemente desaparecido.
Como de praxe, a revista ainda traz a resenha feita por Douglas de Freitas A. Martins do livro “Santos e pregadores nas cidades medievais italianas: retórica cívica e hagiografia” de autoria de André Luís Pereira Miatllo.
Com a expectativa de que esta publicação seja não apenas um meio de divulgação do conhecimento, mas também de debate, colocamos a disposição do público mais uma edição da Cantareira.
Editores. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.19, jul / dez, 2013. Acessar publicação original [DR]
Santos e pregadores nas cidades medievais italianas: retórica cívica e hagiografi | André Luis Pereira Miatello
O universo temático referente à Ordem Minorita [1] é amplo. A importância computada historicamente aos franciscanos como um dos movimentos espirituais, culturais e sociais de maior difusão e transcendência na História da Igreja e da espiritualidade explica a abundancia do material produzido sobre este tema. Como afirma o teólogo Daniel de Pablo Maroto [2]:
Retém como óbvio historicamente que o movimento espiritual dos “frades”, os mendicantes, nas primeiras décadas do século XIII, constitui uma verdadeira revolução religiosa como resposta as necessidades pastorais da Igreja em plenitude de seus poderes, especialmente durante o pontificado de Inocêncio III (1198- 1216).
O livro de André Luís Pereira Miatello insere-se precisamente neste universo. Contudo, as afirmações lançadas pelo autor contradizem boa parte da tradicional historiografia, frequentemente apologética, e que faz das Ordens Mendicantes e de seus fundadores os criadores de uma nova cultura cristã no Ocidente Medieval. Não se trata de contar a história dos santos do período medieval, nem tampouco seus exemplos de virtudes. A perspectiva aqui é outra: a partir da memória póstuma, ou mais precisamente do momento em que as obras hagiográficas fazem propaganda da santidade de seus respectivos fundadores, Miatello procura discutir – e propor – algumas questões fundamentais para a temática em questão.
A experiência religiosa mendicante é abordada a partir de como os acontecimentos da vida de Francisco de Assis e de Antônio de Pádua eram retratados pelos hagiógrafos dos movimentos. Miatello propõe pensar tanto as palavras e ações dos pregadores, articulando os efeitos imediatos da pregação, quanto aos efeitos que podem ser qualificados como de “longa duração”, reavivados pelo culto a memória.
A relação entre as Ordens Mendicantes e as cidades em que atuavam é também um dos temas mais interessantes do qual os historiadores se debruçaram ao longo dos anos. No entanto, longe das conclusões obtidas pela historiografia, Miatello inverte a equação: os espaços urbanos bem como as redes de sociabilidades e de poder não são derivadas das ações empreendidas pelos frades, mas sim frutos de um contexto conturbado e tenso no qual as comunas italianas estavam se afirmando como entidades autônomas independentes. Em outras palavras, “não é o santo que funda a cidade, é a cidade que, a partir de certos santos, dá novo sentido a sua trajetória, projetando-se em um futuro, incerto, mas promissor” (p. 12). Claro que esta relação não pode ser traduzida em via de mão única. Assim como as cidades se apropriam do corpo e da lembrança de um santo para se promover, os frades minoritas usam as biografias como parte de seu repertório discursivo para atuarem politicamente nas cidades italianas medievais.
Esta relação é possível devido à especificidade da história italiana. Como bem nos lembra Patrick Gilli [3], as cidades da Itália setentrional viviam desde o século XII imersas em um contexto de inconstâncias políticas e tensões envolvendo duas autoridades de vocação universal: o papado e o império. Faltavam a elas modelos de estruturas de governo e de conduta para legitimar sua condição e que servissem de norteadores da vida politica. Tais fundamentos foram tirados em parte das hagiografias que se tornaram “uma espécie de arma ideológica nas mãos dos mendicantes, do papado e das cidades, todos estes envolvidos num projeto de controle das populações e instituições urbanas da Itália centro-setentrional” (p. 18). Devolvendo, desta forma, os frades à dinâmica social. Não trata-los como seres excepcionais significa enxerga-los a partir das relações de poder tecidas pelos diversos grupos.
A pregação e a penitência são elementos centrais para compreender as bases em que se operavam as ações destes agentes históricos. A paz buscada não é entendida em termos sociologizados, mas como resultado de uma realização espiritual e moral e que esta estritamente vinculada com a vida prática, econômica e política. Assim como os pregadores exortavam as multidões para alcançar a pacificação e a coesão das cidades, os hagiógrafos construíram uma memória da obra desses pregadores. Desta forma, reside mais uma contribuição dada pelo autor para renovar as abordagens do tema: as Vitas mendicantes, enquanto obra de edificação e de oratória, não são novidades. Elas dialogam com o passado e são devedoras de uma trajetória que remonta a Gregório Magno.
É este o objetivo do primeiro capítulo: procurando apresentar as engrenagens da oratória do gênero hagiográfico, o autor lança ao estudo dos prólogos das principais Vitas de santos no Ocidente, para de certo modo, “obedecer aos mecanismos do gênero hagiográfico a fim de entender o seu proprium a despeito da almejada facticidade historiográfica” (p. 23). A partir de uma notável erudição, Miatello nos convida a um passeio pelos mecanismos discursivos que forjaram o culto de santos há pelo menos 6 séculos. Segundo o autor, não devemos tomar como parâmetros para investigar tais documentos as modernas concepções de “verdade”, “fato histórico” ou “historicidade”. Os ditames aqui são teológicos-retóricos e não historiográficos. Se não atentarmos para este detalhe, a composição hagiográfica se torna um repositório de “crenças ou de sentimentos religiosos” pertencentes a um comportamento pejorativamente qualificado como sendo pré-lógico.
Entender a hagiografia como retórica nos leva a interpretá-la como sendo parte de um conjunto maior de práticas letradas que, por sua vez, obedecem a cânones precisos de composição, elaborados ao longo de séculos por autoridades consagradas pela arte e pela erudição; tudo isso constituiu uma verdadeira jurisprudência das belas letras segundo a qual os textos eram pensados, escritos e lidos antes do século XIX (p.27).
Já no segundo capítulo o autor se aprofunda no debate citado na introdução sobre as relações causais entre as intenções políticas do papado com relação à Lombardia do século XIII e o empenho dos frades menores em “converter” as cidades. Aqui – indiretamente – Miatello repensa um dos argumentos chaves para a historiografia temática sobre o processo de institucionalização da Ordem. Tradicionalmente concebida como sendo resultado direto da intervenção do papado romano em assuntos internos do movimento, o autor salienta a aproximação que Gregório IX manteve com os Menores, por exemplo. Fato este que condiciona os frades aos intentos pontifícios e, vice-versa, impossibilitando uma análise puramente maniqueísta do processo. A relação é muito mais complexa do que simplesmente reduzi-la a dois polos de poder: um sendo positivo claramente identificado aos minoritas e outro, negativo, associado ao papa.
O terceiro capítulo avança na análise da “retórica religiosa” em suas relações com a “retórica cívica”. Desde Aristóteles, a vida política supõe o uso de palavras como “instrumentos de poder e de ordenamento social”. Ora, a Ordem dos Menores se constitui como uma Ordem pregadora, embora não sejam todos os seus membros que estejam investidos do ofício de pregação. A participação da matéria hagiográfica foi fundamental nas lidas urbanas do século XIII.
O modelo do santo pregador, associado ao modelo do santo taumaturgo, propiciou as frades uma dupla via inserção no tecido urbano e nas políticas cívicas. Tais frades valiam-se do estereótipo da santidade que as populações lhes atribuíam e da santidade que os fundadores e confrades de suas Ordens desfrutavam no interior da fama pública para levarem ás últimas consequências a aplicação dos preceitos espirituais e políticos defendidos por sua instituição. Na ausência de estabilidade sociopolítica, como acontecia na Itália centro-setentrional, os fardes pregadores despontaram como o canal de coesão dos mais variados anseios de paz (p. 132).
O quarto e último capítulo é dedicado a investigar o alcance social do vocabulário empregado pelos hagiógrafos. Em outras palavras, a efetivação concreta dos conteúdos semânticos dos termos empregados. Entender a gramática sociomoral dos hagiógrafos significa transcender os textos e atingir o cerne do pensamento mendicante. As hagiografias oferecem pequenos exemplos, passagens furtivas de exemplos de governo.
Pensando pelo lado moral com que arquitetavam a vida civil, é possível relacionar os preceitos de governança, presentes no costumeiro da ordem, com um suposto preceituário politico mendicante. De imediato, convém ter presente que governar, segundo os textos hagiográficos estudados, é exercer o poder sobre alguém e, mais do que isso, é assegurar ao grupo aquilo que é conveniente para sua manutenção (p. 162).
André Miatello oferece ao longo das páginas de seu livro uma inestimável contribuição para repensar a História Politica e Social de um dos agentes mais conhecidos do Ocidente medieval. As palavras que compõe o livro revelam toda a preocupação de dessacralizar à imagem da Ordem e voltar à atenção para o zelo pastoral e o projeto de moralização das cidades e das politicas urbanas italianas. Para finalizar penso que nada melhor do que as palavras do próprio autor:
No jogo do poder, que acontecia no campo da política cívica , as Vidas de santos e seu respectivo culto ocuparam um lugar de tão grande eminência que todos aqueles que podiam, papa, bispos, frades, cidades, aproveitaram-se deles para sedimentar a própria força politica e, com isso, manterem e expandirem a sua dominação, ideológica ou concreta (p. 177).
Notas
1. A Ordem recebe esta designação em virtude do posicionamento dos frades frente à autoridade papal: em nenhum momento, frei Francisco e seus seguidores se voltaram contra a figura do papa. Mesmo adotando uma postura de “revitalização” da fé cristã, sempre se colocaram hierarquicamente abaixo aos membros da Cúria Romana. Sua postura os define como menores, ou simplesmente, minoritas.
2. MAROTO, Daniel de Pablo. Espiritualidad de la Baja Edad Media: siglos XIII-XV. Madri. Editorial de Espiritualidad, 2000, p. 17-18.
3. GILLI, Patrick. Cidades e sociedades urbanas na Itália Medieval. Campinas: Editora Unicamp, 2011.
Douglas de Freitas Almeida Martins
MIATELLO, André Luis Pereira. Santos e pregadores nas cidades medievais italianas: retórica cívica e hagiografia. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012. Resenha de: MARTINS, Douglas de Freitas Almeida. Cantareira. Niterói, n.19, p. 79- 81, jul./dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
História Econômica: tradições historiográficas e tendências atuais / Cantareira / 2013
Futebol e colonialismo: corpo e cultura popular em Moçambique | Nuno Domingos
Começo pelo autor, pouco conhecido no meio acadêmico brasileiro. Nuno Domingos possui uma trajetória que demonstra uma curiosidade intelectual diversificada. Licenciado e mestre em sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, desenvolveu importantes pesquisas a respeito das políticas sociais do Estado Novo Português. Sua dissertação de mestrado sobre a Companhia Portuguesa de Ópera do Trindade foi um marco nas pesquisas a respeito da relação entre Estado e sociedade nos estudos do período salazarista. Atualmente, no pós-doutorado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, desenvolve pesquisa na área da antropologia da alimentação sobre a produção e os usos sociais do vinho português.
Apesar da pluralidade temática, é possível traçar uma linha teórico/ metodológica que perpassa suas investigações. A sociologia e a antropologia histórica são referências assíduas nos textos de Nuno Domingos, assim como o estudo de práticas culturais com o desenvolvimento de investigações que abarquem temáticas sobre as práticas corporais e as culturas populares. São exatamente dentro desse escopo que suas pesquisas a respeito das práticas desportivas, em Portugal e em Moçambique, podem ser inseridas, assim como o livro Futebol e colonialismo: corpo e cultura popular em Moçambique.
Publicado em abril de 2012, Futebol e colonialismo é o resultado do doutorado defendido pelo autor em antropologia social na School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres, com a tese Football in Colonial Lourenço Marques, Bodily Practices and Social Rituals. A mudança do título da tese em relação ao do livro provavelmente estão relacionadas à dificuldade em localizar espacialmente Lourenço Marques – atual Maputo, capital de Moçambique – e o diminuto número de pesquisas sobre cultura popular numa perspectiva histórica, especialmente para espaços urbanos em África. No entanto, essa transformação produziu um descompasso entre nome e conteúdo. Efetivamente, o recorte espacial da pesquisa centra-se na cidade de Lourenço Marques e apenas nela. Ou seja, um leitor desprevenido que resolva ler o livro com o intuito de compreender numa perspectiva nacional acerca do futebol em Moçambique, certamente não será contemplado.
Algo semelhante se encontra na mudança do subtítulo de “social rituals” para “cultura popular”. Mais uma vez a transformação do enunciado faz com que ocorra um descompasso em relação ao seu conteúdo. Efetivamente, Nuno Domingos não aborda o futebol através de um olhar baseado num arcabouço teórico da “cultura popular”. Em determinados momentos suas preocupações estão diretamente relacionadas com a prática do esporte pelos habitantes do subúrbio de Lourenço Marques, local conhecido como a “cidade de caniço”,[1] o processo de circulação das práticas desportivas entre o caniço e o cimento, as transformações dessas práticas provocadas por esse processo ou os mecanismos de poder elaborados para controlar o futebol desenvolvido nas áreas negras da cidade. Porém, não acredito que estes tópicos, tão importantes para as pesquisas que trabalham com o conceito de cultura popular, sejam a preocupação central do livro. Portanto, o título do livro não condiz completamente com o seu teor.
Passo, então, para o interior de Futebol e Colonialismo. Primeiramente uma análise da própria estrutura do livro. A partir dela será possível perceber algumas das escolhas do autor e como, apesar dos problemas listados anteriormente, a obra é um exemplo de pesquisa que mescla com maestria um rico arcabouço teórico com uma minuciosa pesquisa empírica.
Dividido em doze capítulos, cada um deles com diversos subtítulos (excetuando-se o décimo segundo que é uma conclusão da obra), acrescido de um prefácio do antropólogo Harry G. West, a leitura de Futebol e Colonialismo vai se tornando mais e mais prazerosa com o avançar dos capítulos. Esta sensação pode ser explicada pela escolha de manter uma estrutura típica de teses de doutorado para a publicação. Apesar de não ficar explicito, os três primeiros capítulos são puramente teóricos. Sua função aqui é evidente: é uma apresentação das bases acadêmicos de onde parte Nuno Domingos. Para ser mais exato, no primeiro capítulo (“Da etnografia do futebol suburbano em Lourenço Marques, por José Craveirinha, a uma ciência das obras”) o autor nos oferece as diferentes dimensões do problema que pretende explorar. Para dar o pontapé inicial na investigação, Nuno Domingos utiliza-se do que chamou de uma “etnografia dos subúrbios laurentino” produzida pelo poeta e jornalista moçambicano José Craveirinha, em dois textos publicados em 1955 no jornal O Brado Africano. Neles o futebol aparecia como tema central. A intenção de Craveirinha era a de descrever o choque cultural entre um esporte inventado por europeus e a reapropriação dos jogadores suburbanos africanos. O humor e o improviso, segundo o poeta, seriam características intrínsecas desse jogo futebolístico da periferia, e a valorização desses aspectos estava relacionada à contra argumentação combativa das “imagens do africano enquanto ser incivilizado, grosseiro e instintivo, forte, mas pouco inteligente” (p.22).
Desse encontro nem um pouco sereno e harmonioso, outras questões fundamentais para a investigação são colocadas, como o de pensar a multiplicidade das relações entre o colonizador e o colonizado, os espaços segregados e as trocas desiguais existentes nas cidades coloniais e as práticas culturais, assim como os gestos e movimentos dos jogadores, nesses espaços como locais de reivindicação, cooperação, conflitos e formas de ver o mundo. O ineditismo de se investigar o esporte em contextos coloniais africanos é justificado por Nuno Domingos exatamente como um esforço para se entender esses processos como algo que vai além da dominação hegemônicam sobre os colonizados, sendo possível evidenciar os subordinados como agentes históricos do processo de urbanização na África oriental portuguesa.
O que designei como sendo a primeira parte do livro se encerra com o segundo e terceiro capítulos, onde é apresentado o cardápio do arcabouço teórico usado por Nuno Domingos em sua pesquisa. A seleção feita pelo autor vai de encontro a sua formação nas ciências sociais. Sinceramente, não possuo condições para uma análise da maneira como Nuno Domingos utiliza a vasta bibliografia de cunho teórico. Posso apenas salientar que consiste fundamentalmente da obra de três autores: Erving Goffman, Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Novamente, me sinto pouco a vontade para explorar os conceitos desses autores e sua utilização na obra de Nuno Domingos, porém cabe aqui listar alguns, como o de “ordem da interação” (Goffman), de “processo de desportivização” e de “padrão de jogo” (Elias) e de “habitus” (Bourdieu). Este último conceito está diretamente relacionado a uma preocupação do autor em pensar o drible (ou o improviso, para José Craveirinha) como um repertório motor que é produzido pela interação dos corpos no jogo e que se constitui como um reservatório de conhecimento. Nesse sentido, o futebol aparece como algo para além dos jogadores, ao mesmo tempo em que é “Produto de uma condição urbana, a malícia era a história feita corpo.” (p. 296). Com estes quatro grandes conceitos, temas como os da interação entre o futebol e o restante da sociedade, entre os jogadores e o público, das performances dos jogadores e dos espectadores, a construção de laços sociais, de identidades e de pertencimento, tornam-se problemas para serem explorados pelas ciências sociais.
Na segunda parte do livro, não pretendo abordar separadamente cada capítulo. Isso seria dispendioso e, a meu ver, improdutivo. Para explorar este seguimento tentarei fazer uma junção de características gerais que podem ser encontradas ao longo da obra. É exatamente dos capítulos quatro ao décimo primeiro que Nuno Domingos inicia sua análise propriamente dita do futebol e do colonialismo em Lourenço Marques. Se, na primeira parte temos um bombardeio de teoria, nesta segunda parte esta teoria ganha forma – e crítica – com a análise de um amplo corpo documental. Essa vastidão de fontes – proveniente de diferentes locais e de variada natureza, como a documentação administrativa existente Arquivo Histórico de Moçambique, no Arquivo do Conselho Provincial de Educação Física de Moçambique ou no Arquivo Histórico Ultramarino, a imprensa periódica, quase toda localizada na Biblioteca Nacional de Portugal, e um bom uso de entrevistas que realizou com personalidades do futebol moçambicano – dão a nota principal neste momento.
A soma do arcabouço teórico com a documentação produziu uma segunda parte que pode ser dividida em três tópicos: um primeiro tópico, representado pelos capítulos quatro e cinco, onde Nuno Domingos basicamente apresenta Lourenço Marques e a relação entre o Estado Novo português, a construção da cidade no espaço colonial e o racismo imbuído nos projetos de cidadania para a população africana subordinada ao poderio português e a influência dessas questões sobre o corpo no jogo de futebol. O segundo tópico, que corresponde ao momento auge da obra, vai do capítulo seis até o dez, onde o autor produz uma análise do futebol nos subúrbios de Lourenço Marques. Por último, no capítulo onze se encontra uma interpretação bastante frutífera sobre as narrativas a respeito do futebol e como esse falar sobre o esporte – e, principalmente, sobre os clubes e os jogadores – está conectado a produção de representações e noções de pertencimento.
A escolha pela elaboração de dois capítulos, no início dessa segunda parte, que possuem o claro objetivo de produzir uma apresentação da paisagem social do colonialismo português na África, as características da cidade de Lourenço Marques e as noções do Estado Novo português com relação ao esporte, possuem alguns problemas. Num nível mais abrangente, relacionado a própria elaboração da pesquisa, essa contextualização a priori corre o risco de entender o contexto como algo pré-determinado e modulante – em alguns extremos determinante – dos processos e das ações dos grupos e indivíduos que Nuno Domingo pretende estudar. No entanto, pelo menos no capítulo quatro (“Uma desportivização colonial”) o autor consegue escapar desse problema. Longe de produzir um contexto amplo sobre o colonialismo português em Moçambique com caixinhas explicativas onde as problematizações dos demais capítulos deveriam ser cuidadosamente guardadas, a explanação detalhada das características de Lourenço Marques e do sistema colonial português funcionam como ferramentas para aqueles leitores que desconhecem o tema e o espaço geográfico da pesquisa.
Infelizmente não podemos falar a mesma coisa para o capítulo seguinte (“O corpo e a cidade do Estado Novo”). Ao produzir uma análise do projeto educativo do Estado Novo para controlar e adestrar o “corpo” dos atletas que se encontravam sob escopo desse poder, Nuno Domingos deixa de se perguntar em que medida – como, de que maneira e com que intensidade – os projetos e as políticas elaboradas na metrópole foram implementadas em Moçambique. É interessante constatar que sua problematização a respeito dos múltiplos caminhos que a relação metrópole e colônia esta longe de ser simplista. Isso é evidente quando afirma que o futebol acabou por ser um interiorizador de habitus vistos como nocivos a lógica de ordenamento do corpo dos atletas defendida pelo Estado e jogadores dos subúrbios de Lourenço Marques, com seus dribles e sua malícia, incapazes de produzirem manifestações políticas abertas tiveram em seus gestos corpóreos no futebol a possibilidade de questionamento das lógicas totalizantes do Estado.
No segundo tópico dessa parte, Nuno Domingos aprofunda grandes questões em lugares pequenos. Assim, o futebol praticado nos subúrbios, as associações desportivas criadas pela população africana e as relações dessa população e das formas organizativas criadas por ela com a cidade e o Estado colonial, são destrinchados de maneira detalhada ao longo dos capítulos seis até o dez.
Devido a variedade e a riqueza de temas que vão sendo colocados e concluídos, é muito difícil selecionar o que enfocar nestes capítulos. Porém, alguns pontos chamaram minha atenção. No capítulo seis (“O futebol no subúrbio de Lourenço Marques”), por exemplo, ao estudar o processo de disseminação das práticas desportivas em Lourenço Marques, Nuno Domingos constata que, apesar da presença colonial portuguesa, a esfera de influência nos subúrbios ocorreu principalmente entre Lourenço Marques e a África do Sul, especialmente por conta da circulação de trabalhadores moçambicanos nas minas sul-africanas. Ou seja, existia uma espécie de autonomia da influência do colonialismo português, pelo menos até a década de 1930, sobre as práticas desportivas e a construção do associativismo desportivo entre os africanos viventes em Lourenço Marques (“A consolidação de redes de relações associativas locais ligadas às principais cidades sul-africanas tornar-se-ia a causa maior da institucionalização da sua prática.”, p. 121).
No capítulo sete (“Uma ordem da interação suburbana”) as trocas simbólicas que se materializavam em performances, mais especificamente a questão da malícia na prática do futebol, é o problema a ser enfrentado. Nuno Domingos esforça-se com sucesso para fugir de análises essencialistas e coloca as dinâmicas do futebol que não seguia as regras e que era realizado nos terrenos baldios do subúrbio numa perspectiva dinâmica que respondia “a convenções interaccionais e a uma economia de troca simbólica, cuja interpretação possibilitava a leitura de um processo social em curso, nomeadamente as condições de formação de uma experiência urbana sob o domínio colonial português” (p. 145). Nessa perspectiva, a malícia deixa de ser algo naturalizado como intrinsicamente popular e/ou africano para ser entendida como um capital performativo e simbólico “produto das condições de produção de uma prática desportiva socialmente situada, que estabelecia uma relação entre os jogadores e o público. Os gestos e movimentos mais valorizados no repertório motor dos atletas representavam as células básicas de uma economia da troca simbólica que consagrava formas de agir e de ver o mundo” (p.167).
Exatamente para conseguir pensar a malícia enquanto capital simbólico e produto de trocas simbólicas baseadas em diferentes estratégias que incluíam jogadores e público, que Nuno Domingos regressa ao processo de construção do subúrbio de Lourenço Marques no capítulo oito (“A construção social da malícia e o subúrbio de Lourenço Marques”). Ou seja, seu objetivo é o de tentar dar o salto de uma análise da malícia presente nos jogos do subúrbio para a construção de uma comunidade na periferia de Lourenço Marques. Para isso, Nuno Domingos elabora o que chamou de “genealogia da experiência urbana no subúrbio de Lourenço Marques” (p.174), evidenciando como a construção dessa periferia – fisicamente e identitariamente – esteve inseparável da necessidade colonial em explorar a mão-de-obra africana e das restrições a mobilidade dos africanos com a construção, melhor dizendo, com o desejo da construção de bairros segregados para negros e brancos. Ainda que produza uma bela reflexão a respeito da precarização da existência numa situação urbana colonial para a população africana, determinadas afirmações e/ou conclusões carecem de confirmação mais detalhada, especialmente porque suas principais fontes neste capítulo são as portarias administrativas de regulamentação do espaço urbano e o livro do antropólogo colonial Antônio Rita-Ferreira, Os Africanos de Lourenço Marques, da década de 1960, não sendo capaz de refletir a respeito dos anseios, desejos e projetos desses trabalhadores urbanos africanos. Nesse sentido, ao evidenciar a construção de uma “cidade africana” dentro de Lourenço Marques, erguida pela iniciativa local e relativamente independente para edificar espaços próprios, assim como uma singular organização sociocultural, Nuno Domingos dá preferencia em iluminar os interesses coloniais que se “beneficiaram desta auto-organização” produzida por um aglomerado de mão-de-obra que diminuía os custos de sua reprodução e “adequava-se às próprias carências do modelo de exploração colonial português” (p.188).
Essas características não perduraram todo o período em que Lourenço Marques esteve sob regime colonial, e Nuno Domingos percebe uma transformação significativa no trato do Estado a respeito da “cidade africana” a partir da década de 1950. Contudo, nesta análise sobre o subúrbio laurentino falta um ponto importante: o dos próprios africanos suburbanos. Afinal, a abordagem de Nuno Domingos nas relações hierárquicas sócio- raciais de dominação estipuladas pelo colonialismo, evidentemente fundamentais para se entender esse processo, fazem com que o mesmo não explore até que ponto, mesmo com o governo colonial português se beneficiando dessa auto-organização, a população africana dos subúrbios não tenha agido tão pacificamente nesse processo e, inclusive, tenha defendido esse aspecto de desregulamentação do espaço como um mecanismo de liberdade capaz de subverter as exigências feitas a essa população quando se deslocava para a cidade de cimento. Como o próprio Nuno Domingos salienta: a “permanência de práticas coercivas na captação da força de trabalho […] gerou uma enorme desconfiança nos trabalhadores sobre o vínculo laboral” (p.189). Com isso valeria mais apena para o trabalhador africano no espaço urbano realizar biscates sem a existência de laços legais de trabalho e, assim, correr o risco de ser penalizado. Ou seja, há uma possibilidade aqui para se pensar o comportamento desses indivíduos como estratégias para minorar a desequilibrada relação de poder e a ilegalidade de suas ações – tanto no mercado de trabalho como na própria construção de um espaço criador de um habitus – seria uma forma de responder a uma legalidade em que não se sentiam representados.
O capítulo seguinte (“As práticas feiticistas como elemento de uma economia simbólica”) é um dos mais interessantes. A ideia de Nuno Domingos é de demonstrar como dentro da economia simbólica do futebol suburbano, a feitiçaria possui um papel importante na capacidade de “enriquecimento”. Chamado de “cuchecuche”, “cuxo-cuxo” ou simplesmente de “vovô”, as práticas funcionava como um capital simbólico fundamental para se pensar a capacidade de sucesso ou não de uma equipe e de um jogador específico durante uma parte. A referência ao vovô, que poderia ser o indivíduo responsável por fazer a “preparação” do feitiço ou a prática em si, só foi possível de ser analisada pelo autor graças às inúmeras entrevistas que o mesmo realizou durante seu trabalho de campo em Lourenço Marques. Vinculando a “tradições da África ocidental” dos “espíritos dos mortos” (p.206), o vovô é analisado como mais um demonstrativo de desafio aos intuitos da administração colonial com seu trabalho missionário de destruição dos costumes locais. Sendo as cidades pensadas como principais propagadoras de um modus de vida europeu civilizado, a proximidade dessas práticas a estes centros produziu embaraços, ao mesmo tempo em que corrobora a ideia de Nuno Domingos de pensar o movimento do corpo do jogador suburbano não como uma resposta a ideologias da ginástica moderna, da igreja católica ou do fair-play, mas a “uma espécie de libido mágica, assente em tradições partilhadas e transformadas” (p.226).
No último capítulo da segunda parte (“Doçura e velocidade: a tática como desencantamento do mundo”), Nuno Domingo produz uma reflexão de como o capital simbólico expresso pelo corpo dos jogadores e produzido por eles no subúrbio de Lourenço Marques entrou em conflito com um processo, que já vinha ocorrendo com a institucionalização dos clubes suburbanos, mas que pode ser sentido nos movimentos específicos daquele habitus motor com a implementação de uma “mentalidade tática”. Como o autor explica:
Este condicionamento do corpo sugeria […] a aplicação ao jogo de um conjunto de princípios de ação modernos e de valores sociais impostos em Lourenço Marques pelo colonialismo: sujeitava o jogador a uma cuidada divisão social do trabalho dentro do campo, a uma especialização de funções limitadora da realização dos seus gestos e movimentos, proporcionando uma experiência distinta de deslocação no espaço e uma relação singular com o tempo. (p.232)
A intenção não era de prolongar-me tanto nos capítulos especificamente. Conforme a escrita fluiu, foi se tornando impossível não aprofundar de maneira pormenorizada os diversos problemas que a cada momento Nuno Domingos levanta. Essa minha impossibilidade esta longe de ser algo apenas pessoal. Ela revela como tenho em mãos uma obra vasta, com uma temática muito bem trabalhada e uma ferramenta fundamental para qualquer trabalho futuro a respeito da história do futebol, da relação entre Estado e sociedade numa realidade colonial, da experiência cotidiana vivida no colonialismo português em Moçambique, da interação dinâmica entre tradição e modernidade e da potencialidade do desporto para moldar as subjetividades humanas.
Um detalhe final: tive a oportunidade de jogar futebol com Nuno Domingos no ano passado. Bastante habilidoso, depois de ler seu livro começo a imaginar que o autor soube – ou já sabia? – incorporar um pouco da sabedoria maliciosa do subúrbio de Lourenço Marques.
Nota
1. Com o crescimento da cidade de Lourenço Marques a partir de meados do início do século XX, se construiu uma divisão espacial sócio- racial entre a chamada “cidade de cimento”, ocupada majoritariamente pelos brancos, mas também por chineses e indianos, e a “cidade de caniço”, ocupada pela população negra.
Matheus Serva Pereira.
DOMINGOS, Nuno. Futebol e colonialismo: corpo e cultura popular em Moçambique. Lisboa: ICS; Imprensa de Ciências Sociais, 2012. Resenha de: PEREIRA, Matheus Serva. Cantareira. Niterói, n.18, p. 119- 125, jan./jun., 2013. Acessar publicação original [DR]
Guerras, Conflitos e Tensões / Cantareira / 2012
A Revista Cantareira tem a satisfação de apresentar sua 17ª edição com o dossiê intitulado “Guerras, Conflitos e Tensões”. A história da humanidade foi constantemente marcada por esses três elementos. Buscando explorá-los em suas múltiplas possibilidades, a Revista apresenta artigos que contribuem para o seu conhecimento histórico no âmbito mais convencional, a partir das relações entre Estados, assim como produções acadêmicas que privilegiam as tensões sociais num sentido mais amplo, tais como conflitos étnicos e religiosos. Os temas presentes nesse Dossiê abrangem variados períodos históricos, desde o Brasil Colônia, passando pela Guerra do Vietnã, até chegarmos a Guerra Cibernética, expressão dos conflitos do “tempo presente”. Numa tentativa de tornar mais claras as definições teórico-metodológicas sobre o tema do dossiê, publicamos também uma entrevista exclusiva com o professor Francisco Carlos Teixeira. Através de sua leitura podemos aprender mais profundamente as distinções conceituais entre Guerra, Conflito e Tensão, além de passearmos ao longo da história do Tempo Presente com um dos mais destacados historiadores brasileiros da área.
[Guerras, Conflitos e Tensões]. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.17, jul / dez, 2012. Acessar publicação original [DR] Observação: A apresentação dessa edição está no número 18.
Quando nosso mundo se tornou cristão (312-394) | Paul Veyne
Paul Veyne é um nome proeminente e controverso entre os classicistas. Membro da École Française de Rome, sua eleição para o Collège de France, onde é professor honorário, causou certa surpresa. Pondo-se à margem das correntes historiográficas vigentes, seu trabalho é marcado pela curiosidade intelectual, certa ironia e pela influência da obra de Michel Foucault. Já nos anos 1970 abraça a narrativa e advoga sobre a importância do diálogo da história com a filosofia e a sociologia.
Comecemos pela afirmação que permeará todo o livro e que representa uma quebra a um cânone histórico: a fé do imperador Constantino (272-372 d.C) era verdadeira, e sua opção pelo cristianismo não foi fundamentada em interesses políticos. Os cristãos, durante o século IV, período ao qual o livro se atém, formavam uma parcela muito pequena da população do Império Romano, cerca de 5 a 10% do total. Constantino teria sido pragmático, pois não forçou os pagãos à conversão, o que teria feito com que esses se insurgissem contra sua autoridade. A política cristã do imperador se deu, sobretudo, em suas atitudes para com sua própria pessoa, sua religião foi imposta apenas em sua esfera pessoal.[1[ Todavia, a pessoa do imperador influi também nas questões estatais, como o exército, o fisco e a nomeação dos ocupantes de cargos públicos. Assim, aos poucos o cristianismo adquire cada vez mais força na vida pública romana. O livro relata que, com o decorrer dos anos, o cristianismo se torna a religião da maioria da população, mas se concentra mais na figura de Constantino e nas motivações de que o levaram a promover a fé cristã que nas práticas e doutrinas do cristianismo na antiguidade tardia.
A história da conversão de Constantino é famosa: no século IV de nossa era, o Império romano estava sob o governo de quatro coimperadores, dois governando o Ocidente e dois o Oriente. A porção ocidental se encontrava repartida entre Licínio e Constantino, sendo o último responsável pela administração das províncias da Gália, Inglaterra e Espanha. Maxêncio tomou a Itália, território que cabia a Constantino, que por sua vez declarou-lhe guerra e, na véspera da batalha decisiva, teve um sonho, no qual lhe apareceu o símbolo do crisma. Ordenou que o símbolo fosse pintado nos escudos de seus soldados, e no dia 28 de outubro de 312 derrotou as tropas do rival Maxêncio, episódio conhecido como a vitória de Ponte Mílvio. Entretanto, há questionamentos sobre o relato, pois a principal fonte, Vida de Constantino, de Eusébio de Cesareia, apresenta versões diferentes sobre o que teria sido visto pelo imperador no sonho, uma cruz ou o crisma. Veyne acredita que o sonho foi uma manifestação do inconsciente, revelando o desejo de Constantino em se converter.
O autor esclarece que, a seu ver, Constantino enxergou no cristianismo uma “superioridade” em relação ao paganismo. Seu monismo politeísta e natureza metafísica o faziam superior ao paganismo.[2] O imperador teria promovido uma verdadeira revolução religiosa ao conceder aos cristãos as mesmas benesses que os pagãos desfrutavam, e atribuiu a si o papel de protetor da cristandade. O grande atrativo para as conversões ao cristianismo, visto como vanguarda que atraía a elite, explica Veyne, era sua originalidade: ser uma religião que prega o amor; o “gigantismo de seu deus”, criador de todas as coisas e a vitória de Cristo sobre a morte. A nova sensibilidade a que o cristianismo deu gênese lhe proporcionou sucesso, pois se trata de uma religião que proclama a igualdade de todos (em espírito) e fornece significação existencial. O cristianismo não floresceu e se propagou por ter respondido às necessidades de uma época, e sim porque trazia em si algo novo, o amor da divindade pelos homens. O autor não se coaduna às explicações de natureza psicológica sobre a religião, pondo-se ao lado de Georg Simmel e defendendo que o sentimento religioso é algo inseparável do ser humano.[3] Constantino, no desejo de ser um grande imperador, necessitava de um grande deus. E o deus cristão abraça toda a humanidade. A religião de vanguarda viria a corresponder os desejos do imperador: ao se converter, ele tomou parte em uma “epopeia espiritual”, assumindo as rédeas da cristianização.
Ao tratar da Igreja Católica, Paul Veyne contraria, mais uma vez, a corrente tradicional. Para os marxistas, Constantino valeu-se da Igreja para se estabilizar no poder. Para Veyne, o cristianismo era atrativo ao imperador por seu dinamismo e organização, traços presentes na própria personalidade de Constantino. Tratava-se de uma instituição cuja influência sobre seus membros era notável, pois infundia um modo de vida aos fiéis e possuía uma rígida hierarquia. Todavia, por si mesma a Igreja não tinha meios suficientes para se impor junto à grande maioria pagã. Constantino, ao crer que Deus o havia escolhido para difundir a Sua palavra, promove a construção de igrejas em diversos locais do Império, faz doações vultosas, concede cargos aos cristãos, entre outras benesses, o que amplia a divulgação religiosa. Destarte, não foi Constantino que se apoiou na Igreja: essa foi beneficiada pela ação prosélita do monarca. Segundo o autor: “Constantino instalou a Igreja no Império, deu ao governo central uma função nova, a de ajudar a verdadeira religião…”.[4] Paul Veyne utiliza diversas cartas do próprio Constantino como forma de rebater a historiografia tradicional e não crê que ele tenha utilizado o cristianismo como uma ideologia em seu governo: o monarca mantinha a fachada pagã do Império, não precisava da religião a fim de se legitimar, os cristãos eram uma minoria desprezada. E também porque não eram necessárias motivações de cunho ideológico para que as multidões venerassem o imperador. A obediência à autoridade e o patriotismo são frutos da vivência social. Para os antigos o respeito à lei e a ordem também era algo sagrado. O que ocorre a partir de Constantino é a adoção de uma nova fraseologia legitimante: reina-se pela graça e pela vontade de Deus, e a função do imperador é estar a serviço da religião.
Outra novidade do governo de Constantino é a entrada do sagrado na política. O laicismo não seria uma invenção moderna. O paganismo romano do século IV era como um hábito, respeitado como uma tradição patriótica, mas em crise entre os intelectuais. A questão da verdade religiosa é apontada por Veyne, que afirma que o paganismo não tinha respostas para ela, enquanto o cristianismo se posicionou como a verdadeira religião. Ao se converter, Constantino considera o avanço da Igreja uma questão política, pois cabia a ele, como cristão e como soberano, levar a verdadeira fé a seus súditos e zelar por sua salvação. Apesar disso, não há perseguição aos pagãos e sim aos hereges. A preocupação com a ortodoxia faz com que Constantino se insira nos assuntos da Igreja, agindo como seu “presidente” e essa, no século IV, não interfere no governo secular, ao contrário: se mostra submissa ao imperador. De fato, era pregada a divisão entre “as coisas do céu” e “as coisas da terra”, e a Igreja prezava pela fidelidade ao Império Romano. Constantino uniu ambas as coisas ao portar-se como líder não apenas político, mas também espiritual. A Igreja, antes da conversão do imperador, já era uma instituição independente, mas irá ter proveito com o proselitismo imperial.
Mesmo com o favorecimento do cristianismo o Império continuava pagão, pelo menos em sua fachada. O imperador ainda era o sumo-pontífice da religião politeísta, e não houve uma mudança significativa nos costumes. Havia o foro íntimo do imperador, que era cristão e coexistia com a religião pagã, formando um ‘”Império Bipolar”.[5] Durante o século IV o clima entre as duas religiões é de tolerância, apesar das benesses ao cristianismo. A manutenção da ordem pública era um ideal que devia ser mantido a despeito das convicções religiosas.
O judaísmo não teve a mesma sorte. Durante o período em que o paganismo primava, a religião judaica era rejeitada por suas restrições alimentares e pela exclusividade de seu Deus. Quando o cristianismo começa a se propagar, o judaísmo é rechaçado justamente por conta de sua proximidade com a nova religião. Ambos têm por característica a inventividade. Os judeus não eram nem cristãos, nem pagãos, e essa incerteza, que Paul Veyne relaciona aos estudos de Mary Douglas sobre o puro e o impuro, faz com que a população judia sofra perseguições. No apêndice do livro, onde são analisadas as transformações do judaísmo, de uma monolatria a um monismo e religião nacional, vê-se que o judaísmo, antes da expansão do cristianismo, atraía alguns pagãos e tinha um caráter prosélito.[6] Com as perseguições cristãs, que se iniciaram no período de Constantino, a comunidade judaica fecha-se sobre si mesma, tornando raras as conversões à sua fé. O autor vê na intolerância desses tempos a causa real do antissemitismo atual.
Veyne afirma que, sem o posicionamento de Constantino, o cristianismo estaria fadado ao papel de seita e tenderia a se esvanecer com o tempo. Para ele, a ação do monarca foi crucial para o desenvolvimento e expansão da religião. Com a morte de Constantino funda-se uma tradição de imperadores cristãos, quebrada momentaneamente por Juliano, o Apóstata (331-363 d.C), que tenta restabelecer o paganismo ao seu antigo esplendor. Com sua morte, o exército coloca no poder imperadores cristãos. Arbogast, líder germânico, toma o poder na parte ocidental do Império e põe no trono o imperador-fantoche Eugenio, o que agrada aos pagãos. De fato, durante a primeira metade da década de 390 há um reflorescimento dos cultos pagãos. Teodósio (347-395 d.C), o governante cristão do Oriente, não vê com bons olhos essa manobra, rejeitando Eugenio como coimperador. A proibição dos cultos pagãos em 392 transforma o conflito pelo trono em disputa religiosa, e o paganismo tem fim como religião autorizada em 394. O cristianismo se torna religião de Estado.
Enquanto nos quadros do governo imperial a nova religião avançou rapidamente, a cristianização da população foi um processo que levou séculos, especialmente no campo, onde ocorreu por impregnação progressiva, e não individualmente. A recepção do cristianismo pelas camadas populares provocou a paganização. O fervor cristão dos primeiros séculos de nossa era transforma-se e nos séculos VI e VII o cristianismo, tal como o politeísmo antigo, passa a ser uma religião habitual. Paul Veyne discorda da expressão de Max Weber: para ele não houve um “desencantamento do mundo”, e sim uma especialização 7.[7] Os sincretismos que ocorreram por conta da conversão em massa e que se tornaram a religião popular não são tratados no livro, algo que seria interessante abordar.
No último capítulo o autor nos pergunta sobre as raízes cristãs europeias. Para ele, como uma realidade heterogênea, não é possível que a Europa possua raízes. A formação da Europa atual foi uma epigênese, se fez de etapas imprevisíveis. A religião é apenas um dos muitos traços das sociedades. Um traço que se sobressai, é verdade, mas que sozinho não pode definir uma realidade social. Sendo uma elaboração coletiva e oral, os criadores do cristianismo foram os apóstolos, os primeiros fiéis. O Império Romano, em sua vastidão, significava uma oportunidade maior de expansão dessa nova fé, a qual os judeus não davam crédito. Os valores que hoje são caros às sociedades europeias, tais como a democracia, a liberdade religiosa e sexual, a redução das desigualdades, não são cristãos. O cristianismo não era um programa político: pregava o desligamento das coisas mundanas, uma vivência casta e obediente. Veyne crê que a espiritualidade moderna estaria muito mais ligada á filosofia de Kant e Spinoza que ao Evangelho. As transformações do 7 Ibid., pp.184-185. mundo fizeram com que o catolicismo assumisse algumas posições sociais, porém, os cristãos não estão distantes da moral social vigente. Assim, “não é o cristianismo que está na raiz da Europa, é a Europa atual que inspira o cristianismo ou algumas de suas vertentes”.[8] O cristianismo permanece como um ancestral, mas não se pode dizer que a Europa atual é uma sociedade cristã. O humanitarismo atual não é fruto do cristianismo, mas sim do Iluminismo. Todavia, ele (cristianismo) auxiliou na tarefa de “preparar terreno” para as ideias de igualdade. Mas já não está nas raízes da Europa há muito tempo.
O livro, publicado originalmente em 2007 na França, se tornou um bestseller, e oferece uma visão original sobre os primeiros séculos do cristianismo. Veyne busca as grandes figuras públicas e os eventos, afirmando a importância da ação individual na história.
Notas
1. VEYNE, Paul. Quando nosso mundo se tornou cristão (312-394). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p.28.
2. Id. Ibid., p.40.
3. Id. Ibid., p.47.
4. Id. Ibid., p.138.
5. Id. Ibid., p.143.
6. Id. Ibid., p.273.
7. Ibid., pp.184-185.
8. Ibid., p. 232.
Mariana Figueiredo Virgolino.
VEYNE, Paul. Quando nosso mundo se tornou cristão (312-394). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. Resenha de: VIRGOLINO, Mariana Figueiredo. Constantino, um Imperador de fé. Cantareira. Niterói, n.17, p. 138-141, jul./dez., 2012. Acessar publicação original [DR]
Nzinga Mbandi: mulher, guerra e escravidão | Selma Pantoja
O livro Nzinga Mbandi: mulher, guerra e escravidão de Selma Pantoja, atualmente professora da Universidade de Brasília, é originário da sua dissertação de mestrado, escrita no período de 1984 a 1987. Enfocando Angola do século XVII, evidencia um pioneirismo, já que é uma das primeiras obras sobre história da África com autoria de uma intelectual brasileira, tornando-se item obrigatório nas estantes dos estudiosos sobre o assunto. Entretanto, a obra também declara o silêncio que envolve, ainda na atualidade, as temáticas sobre africanidades. É bem verdade que nos últimos vinte anos muito se fez no Brasil nesse campo de saber. O fomento aos estudos africanos é recorrente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. No restante do país, os trabalhos sobre África engatinham, tendo muito ainda por fazer, tanto nos campos relacionados à história da escravidão – que, muitas vezes, enxerga o negro apenas como escravo, esquecendo que existe um universo muito maior –, quanto nos estudos culturais, muito freqüentados pelos historiadores brasileiros, mas que, por vezes, renegam nossas africanidades.
A obra de Pantoja historiciza de forma empolgante e intrigante para o leitor que, a cada capítulo, quer descobrir mais sobre a vida de uma mulher, da rainha Nzinga Mbandi, referida pela historiografia africana, segundo Marina de Mello e Souza, [1] como a primeira angolana que resiste à dominação portuguesa. Nascendo por volta de 1582 no Ndongo Oriental, filha de Jinga Mbandi Ngola Kiluanji, rei do Ndongo, e de uma escrava Imbundo, Guenguela Cacombe, Nzinga foi preparada para liderar por seu pai, recebendo os princípios de uma educação religiosa e práticas que diziam respeito aos Jagas e aos Imbundos, sendo que a parte Imbundo de sua progênie advinha de sua mãe por herança de seu tataravô. Ou seja, Nzinga não possuía matrilinhagem, [2] o que dificultava sua ascensão ao poder. Contudo, se manteve como líder principal dos reinos de Ndongo e Matamba, articulando com diferentes exércitos empreitadas bélicas contra os portugueses e possuindo traquejo diplomático para corroborar seus propósitos por, pelo menos, cinquenta anos. Essas e outras averiguações estão presentes no decorrer dos capítulos da obra. Por ora, seguimos com uma sucinta descrição dos caracteres mais importantes que compõe a obra de Selma Pantoja, para que possamos ter uma visão geral do livro.
No primeiro capítulo intitulado “A historiografia e o Universo Negro-Africano”, Selma Pantoja vai abordar de forma explicativa apontamentos sobre os estudos relacionados à África e a escravidão africana e atlântica, diferenciando-as e trazendo importantes discussões presentes na historiografia inglesa e francesa. O capítulo de número dois, “Os povos e sociedades da região da África Central Ocidental”, enfoca o predomínio dos povos de língua banto, situados ao norte do rio Zambese, na região de interesse da autora, ou na África Central-litorânea, que compreende além de outros territórios, Congo e Angola. Ainda argumenta sobre as importantes atividades na África Central inseridas pelos bantos, como a agricultura e metalurgia, além do esforço em deslindar algo por demais complexo: as linhas de parentesco e competitividade exercidas na África Central. Esse item é basilar, porém de difícil compreensão para quem recém inicia os estudos sobre África devido à abundância de informações, expostas tanto em fontes primárias quanto pelos autores que trabalham com a temática e ainda não possuem um consenso sobre essa informação, que permite compreender uma tradição e um sistema político engendrado em relações familiares, tornando o entendimento das sucessões dos chefes locais possível.
O título “Angola: aspectos do mundo natural” elucida o terceiro capítulo. Com ele conhecemos um pouco dos caminhos fluviais e oceânicos que escoavam o comércio na região de Angola. Enfatizamos que nos reinos de Ndongo e Matamba, liderados pela Nzinga Mbandi que esteve sempre na mira dos canhões portugueses, se localizava regionalmente como fundamental para que os lusos ampliassem seu domínio escravista. Congo e Luanda estavam em poder dos lusos e, sem adentrar ao território liderado por Nzinga Mbandi, o acesso a outros locais da região Central africana era muito dificultoso. Como uma continuação da temática, o capítulo quatro sugere a leitura sobre “Os Mbundo”, revelando a trajetória desse povo como ligada diretamente aos bantos, e como formadores de diversas confederações ou estados, com variadas organizações políticas. Um exemplo dessas formações é o Ndongo, onde nasceu Nzinga. Ainda no capítulo quatro temos uma descrição das diferentes funções e títulos existentes no Ndongo, Matamba e adjacências, como Ngola (rei), Ngolambole (comandante de guerra), Muenequizoile (responsável pela alimentação dos convidados), além da contextualização histórica do período de liderança de Nzinga, fator que vai embasar a leitura dos próximos capítulos.
São reservadas às análises derivadas da parte central do livro – mais precisamente, o capítulo cinco, “Africanos e portugueses no comércio e escravidão” – os primeiros contatos dos Mbundo com os portugueses, em 1540, até as investidas contra o Ndongo, que permitem entender as manobras políticas, a disseminação de um sentimento anti-português na região, além da articulação para a utilização de dupla linhagem, Mbundo e Jaga, para que Nzinga se mantivesse no poder. No capítulo seis – como o título já permite deduzir, “Nzinga Mbandi no poder” –, discute-se sobre o período de liderança dessa rainha, narrando-o com amplo respaldo documental. Pantoja vale-se de fontes documentais oriundas de arquivos portugueses e angolanos, literaturas de cronistas que estiveram na África Central Litorânea no século XVII e documentos avulsos, como cartas, alvarás, bulas papais, entre outros, para construir seus argumentos.
Por fim, o leitor se depara com a derrocada à resistência aos lusos de Ndongo e Matamba e com a morte da rainha africana. Na realidade, o que as fontes e Pantoja permitem crer é que Nzinga, já com idade avançada, estava debilitada e sem meios para resistir ao exército de Portugal. Essa rendição é associada em “A integração de Nzinga ao tráfico atlântico de escravos”, título do sétimo e último capítulo. Assim, com a velhice da rainha os portugueses finalmente conseguem adentrar em Matamba e plenamente no Ndongo. Entretanto, o nome de Nzinga Mbandi não passa despercebido pelas outras gerações que a sucedem. Ao contrário, nunca foi associado à derrota, exceto pelas fontes documentais escritas por portugueses que atrelam significados pejorativos à rainha em virtude de sua resistência às investidas que primavam pela dominação, seja comercial ou de catequização dos africanos.
Nzinga Mbandi é aclamada, ainda hoje, na África Central e está presente em diversos autos folclóricos brasileiros. Como descreve Câmara Cascudo, nas Congadas pelo nordeste do Brasil “aparece seu nome (Nzinga, Jinga ou Ginga) soberano, dispondo vidas, determinando guerras, vencendo sempre. Reaparece lembrando, não as campanhas contra os portugueses, mas as incursões militares aos sobatos vizinhos, régulos do Congo, Cariongo em Ambaca.” Selma Pantoja escreve sobre uma mulher, líder na África Centro Ocidental Litorânea, sobre uma personalidade que foi mitificada, atravessando os séculos e os oceanos, estando presente em diversas culturas.
A importância de buscar subsídios para o entendimento de quem foi essa mulher, essa rainha africana, comporta entender não só a África, mas também o Brasil. Nesse sentido se encontra a magnitude da obra de Pantoja, que persevera em lucidez intelectual escrevendo uma história que passa longe do tradicional, mobilizando fontes adequadas e ousando em analisar um objeto de estudo muito peculiar. Aproveitamos para comentar que o primeiro passo para uma maior produção intelectual no Brasil sobre a África, independente do objeto que se pretenda estudar, talvez seja admitir que os cativos não desembarcaram nas praias brasileiras sem memória. Eles trouxeram consigo um passado que continua nosso ou, como diria Roger Bastide, os “navios negreiros transportavam a bordo não somente homens, mulheres e crianças, mas ainda seus deuses, suas crenças e seu folclore.”[5]
O negro não se reinventa no Brasil, ao contrário, traz consigo elementos que aqui vão ser significados, hibridizados, construindo uma cultura. Também não reproduz no Brasil tudo que deixa nas suas terras de origem, tampouco os portugueses o fazem, mesmo estando em condição de senhores. Cerimônias, costumes e comportamentos foram modificados, re-significados, incorporando elementos dos portugueses e dos africanos que aqui já estavam. Como diria Alberto da Costa e Silva, no Brasil, “África deveria ser sinônimo de mãe-pátria”. [6] Com isso, pode-se evidenciar que o oceano Atlântico, fronteira entre Brasil e África, não é mais que um riacho, que pode ser atravessado com alguns passos.
Notas
1. SOUZA, Marina de Mello e. A Rainha Jinga – África Central, século XVII. Com ciência, 10 abr. 2008.
2. Alguns reinos africanos utilizavam para sucessão do trono quem estivesse apto por descendência, ou seja, por linhagens com uma particularidade, a linha de filiação deveria considerar a descendência pelas mulheres como ancestral comum ou matrilinhagem. Para informações mais completas sugerimos: THORNTON, John. Elite women in the kingdom of kongo: historical perspectives on women’s political power. Journal of African History, 47 (2006), p. 437–60.
4. CASCUDO, Luís da Câmara. Made in África, 5ª ed. São Paulo: Editora Global, 2003, p.39.
5. BASTIDE, Roger. As Américas negras. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1974, p. 26.
6. SILVA, Alberto da Costa e. Prefácio. In: PANTOJA, Selma. Nzinga Mbandi: mulher, guerra e escravidão. Brasília: Thesaurus, 2000, p. 13.
Priscilla Maria Weber – Graduada em História pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). E-mail: priscilamariaweber@yahoo.com.br
PANTOJA, Selma. Nzinga Mbandi: mulher, guerra e escravidão. Brasília: Thesaurus, 2000. Resenha de: WEBER, Priscilla Maria. Nzinga Mbandi representada através da resistência ao domínio português. Cantareira. Niterói, n.15, jul./dez., 2011. Acessar publicação original [DR]
O Desafio Biográfico – Escrever uma vida | François Dosse
– O historiador é capaz de fazer uma biografia?
Questão aparentemente simples, a julgar pela quantidade de produções biográficas das últimas décadas, muitas delas produzidas ou supervisionadas por historiadores. Todavia, esta mesma questão foi-me dirigida quando da defesa do meu projeto de pesquisa – uma das etapas do processo de seleção para o doutorado. Respondi de pronto e afirmativamente naquela ocasião, embora houvesse momentos de titubeação ao longo do projeto a ser “defendido” (o que, possivelmente, explica o motivo da indagação).
François Dosse, ao contrário, não titubearia frente à tal pergunta; não depois de ter escrito O Desafio Biográfico – Escrever uma vida, uma obra que contribui sobremaneira para o atual status que a empresa biográfica tem alcançado na academia. Conhecido no Brasil sobretudo pelas obras História do Estruturalismo e A História em Migalhas, este professor do Instituto Universitário de Formação de Professores de Créteil e do Instituo de Estudos Políticos de Paris que é Dosse não abre mão de seus posicionamentos acadêmicos ao construir um livro que poderia, à primeira vista, ser taxado “antologista” (suas fontes são, em sua maioria, biografias), mas que numa leitura mais atenta demonstra que seu autor acompanha (além de ser partícipe) das novas e sofisticadas discussões acerca da escrita biográfica.[1]
Localizar, aliás, esse atual status da biografia e contrapô-lo a outras formas sob as quais ela foi tomada pela academia é um dos grandes trunfos d’O Desafio Biográfico, muito embora a riqueza de tal estudo esteja justamente no alargamento que Dosse estabelece para o “ato de escrever uma vida” – que é múltiplo, trans- histórico e pode ser tomado como a construção de um perfil; de uma trajetória; de relatos de vida; de uma autobiografia ou de uma biografia psicológica; de biografemas ou de hagiografias; como a construção de uma biografia jornalística ou como um ensaio biográfico…
A palavra biografia, aliás, no moderno termo que hoje a tomamos, apareceu nos dicionários europeus somente no século XVII (!), o que só ratifica o seu “gênero híbrido”. Isto porque sabemos este “ato” remonta aos primórdios da humanidade e, mesmo se desconsiderarmos a tradição oral, encontraremos provas dele na Antiguidade (via Plutarco e suas “Vidas Paralelas”, por exemplo); na Idade Média (via hagiografias incensadas durante todo este período); na Modernidade (via perfis de heróis e dos “grandes homens” dos cursos de Moral e Cívica) e na Idade Contemporânea (via biografia de personalidades do mundo artístico) – só para continuarmos na eurocêntrica divisão quadripartite da História. Segundo François Dosse:
É hábito nosso distinguir dois gêneros: a biografia e o relato de uma vida. […] Da Antiguidade ao século XVII, seria a época do registro das Vidas, impondo-se depois, quando da ruptura moderna, a biografia. O que mudou, no fundo, foi o método de escolha dos grandes homens, dos sujeitos das biografias. [2]
Entretanto, mais do que definir suas diferentes nomeações, Dosse articula este “ato de escrever uma vida” às também diferentes “funções” que a biografia exerceu durante os séculos (e.g.: Historia Magistra Vitæ) e às diferentes interlocuções que ela manteve com as ciências humanas, de uma forma geral, e com a historiografia, em particular. Este panorama está representado pela divisão dos capítulos d’ O Desafio Biográfico: capítulo 2 (“A Idade Heroica”); [3] (“Biografia Modal”); [4] (“Idade Hermenêutica I – A unidade dominada pelo singular); [5] (“Idade Hermenêutica II – A pluralidade das identidades”) e capítulo [6] (“A biografia intelectual”).
Jogando a Rayuela de Cortázar, os leitores de língua portuguesa desta edição publicada pela Edusp em 2009 (no bojo do “Ano da França no Brasil”) podem perfeitamente pular o prólogo em que François Dosse apresenta um exaustivo panorama editorial, francês, daquilo que chamou de “febre biográfica” pois, a despeito da bem construída análise que envolve projetos editoriais, legitimação acadêmica e publicações biográficas, tal passagem pode desanimar um leitor que não esteja tão familiarizado com as especificidades daquele mercado a ponto de não considerar as disputas entre Fayard, Gallimard ou Flammarion mais do que simples informações de notas de rodapé (e não de 30 páginas, como o livro apresenta!).
Já a introdução e o primeiro capítulo (“A biografia – gênero impuro” ) fornecem excelente ponto de partida para distinguirmos as diferentes escritas biográficas e para associá-la à discussão assaz cara às ciências humanas e à historiografia: justamente a tensão entre verdade e ficção. Tais discussões serão aprofundadas nos demais capítulos, mas residem na introdução e no primeiro capítulo o “lugar de fala” de François Dosse – autor de uma obra de honestidade intelectual para com o estruturalismo (História do Estruturalismo), de algumas biografias intelectuais (sobre Michel de Certeau, o jesuíta-historiador autor de A invenção do cotidiano; e sobre o filósofo, também francês, Paul Ricœur) e de demais obras que dialogam íntima e muitas vezes criticamente com a sofisticação do conceito de verdade, da problematização do sujeito, das fontes e das múltiplas narrativas advindos com a Linguist Turn e com a 3ª Geração dos Annales, por exemplo. Todavia, especificamente com O Desafio Biográfico, Dosse avança justamente num ponto em que estruturalismo e pós-estruturalismo são muito próximos (extremos da ferradura?): a negação da biografia. Em suas palavras:
Hoje já se compreende bem que a História é um fazer levado a cabo pelo próprio historiador e, portanto, até certo ponto depende da ficção. Diga-se o mesmo do biógrafo, o qual ficcionaliza seu objeto e torna-o, por isso mesmo, inalcançável, apesar do efeito do vivido que com isto obtém. […] Em todos os domínios que dependem da transversalidade, a escrita biográfica dá um passo à frente, pois se estriba num entreleçamento de disciplinas que abre caminho para hipóteses não reducionistas.[3]
Não por acaso, residem nesta discussão entre ciências humanas (sobretudo a do século XX) e biografia o grosso das obras e dos autores analisados por François Dosse. Condensando no segundo capítulo (“A idade heroica”) toda a tradição da Historia Magistra Vitæ – que remonta da Antiguidade ao século XIX, mas que Dosse também encontra ecos na contemporaneidade, com as biografias do gênero “grandeza artística” –, O Desafio Biográfico reserva outros quatro capítulos para traçar uma espécie de história do ocaso, da “criptoexistência” e do ressurgimento do gênero biográfico frente à academia, ocorridos no último século. Isto porque, fora dos muros universitários – seja na França, seja no Brasil –, é ponto pacífico que a biografia nunca passou por grandes problemas de legitimação – e, consequentemente, de vendas.
Falar, portanto, de uma “volta” do gênero biográfico como atualmente se admite requer alguns poréns. Mesmo se conjugarmos esse “retorno” à academia (o que parece mais factível) é preciso considerar que mesmo em tempos de “déficit do sujeito” recorreu-se ao indivíduo para exprimir o quinhão demasiadamente humano de qualquer acontecimento histórico. Na “biografia modal”[4], por exemplo, em que “o singular se torna uma entrada no geral, revelando […] o comportamento médio das categorias sociais” e onde há uma verdadeira hipervalorização da estrutura frente ao indivíduo, François Dosse nos faz enxergar a presença de um gênero muito próximo à biografia, que é a prosopografia – grosso modo, e segundo o autor, “um gênero que tem por objeto reposicionar as características de um grupo esmiuçando as informações sobre todos os seus membros”[5].
Outro porém relacionado a esta “volta” da biografia (“boom”, “retorno”, “febre” são outras palavras utilizadas para descrever o fenômeno) reside em consideramos justamente seu caráter histórico, relacionando a atual legitimação conquistada junto a academia às transformações pelo qual este gênero passou nas últimas décadas. Nas palavras de Dosse, “o quadro monista, unitário da biografia foi desfeito, o espelho se quebrou para deixar aflorar mais facilmente a apreensão da unidade pela singularidade e, ao mesmo tempo, a pluralidade das identidades, o plural dos sentidos da vida”. [6]
Em outras palavras, tal legitimação está intimamente ligada ao trabalho de historiadores que avançaram no debate, em muito paralisante, da chamada “crise da história”, mas que também não abriram mão da sofisticação metodológica também fruto daquele debate, como é o caso de François Dosse.
Notas
1. A lista só tem crescido nos últimos anos, mas poderíamos citar o já clássico: BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, J.; FERREIRA, M.M. (Orgs.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV Editora, 1996. O também traduzido: LORIGA, Sabrina. A biografia como problema. In: REVEL, Jacques (Org.). Jogos de escala: a experiência da microanálise. Trad. Dora Rocha. Rio de Janeiro: FGV Editora, 1998, p. 225-249. Além da coletânea: SCHMIDT, Benito B.; GOMES, Angela C. ( Org.) . Memórias e narrativas (auto)biográficas. Porto Alegre/ Rio de Janeiro: Editora da UFRGS/ Editora da FGV, 2009.
2. DOSSE, F. O Desafio Biográfico – Escrever uma vida. Trad.: Gilson César C. Souza. São Paulo: EdUSP, 2009, p. 12.
3. Id. Ibid., pp. 71 e 122.
4. Id. Ibid., p. 195.
5. Id. Ibid., p. 223.
6. Id. Ibid., p. 359.
Eduardo Gomes Silva – Mestre em História pelo PPGH/UFF. Atualmente é doutorando em História pelo PPGH da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: edugomes_sc@yahoo.com.br
DOSSE, François. O Desafio Biográfico – Escrever uma vida. Trad. Gilson César C. Souza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009. Resenha de: SILVA, Eduardo Gomes. A “volta” de um gênero híbrido e assaz historiográfico – Biografia. Cantareira. Niterói, n.15, jul./dez., 2011. Acessar publicação original [DR]
A ingratidão: a relação do homem de hoje com a História | Alain Finkielkraut
Nosso sentimento de superioridade sobre um passado – que, queiramos ou não, nos pertence – de preconceitos, exclusões e crimes, necessariamente nos torna mais livres e abertos do que nossos antepassados? É esta a questão que o filósofo francês Alain Finkielkraut nos apresenta em A ingratidão, obra sobre a postura do homem atual frente à história. Nascido em 1949, participante das rebeliões de maio de 1968, se na juventude Finkielkraut erguia barricadas contra o status quo, na maturidade não hesita em advogar a defesa de valores, tradições ou instituições centrais da cultura ocidental. É o que se depreende da leitura de obras como A memória vã e, sobretudo, A derrota do pensamento, ambas traduzidas para o português há duas décadas [1].
Publicada na França em 1999 (Ed. Gallimard), e no ano seguinte no Brasil, A ingratidão recebeu o Prêmio Aujourd’hui, concedido a obra histórica ou política sobre a atualidade. Apesar de publicado originalmente há quase dez anos, o livro conserva uma atualidade impressionante, o que justifica esta resenha. Fruto de uma entrevista ao jornalista do órgão Devoir Antoine Robitaille, natural de Quebec (província canadense de língua francesa), A ingratidão é como o diagnóstico do pensamento, dado por um filósofo, dos males e perspectivas da inteligência humana no início do século XXI.
Embora praticamente todo o conteúdo seja de autoria de Finkielkraut, dado que as intervenções de Robitaille são bem pontuais, o texto conserva a estrutura de uma entrevista, aliás, muito bem conduzida pelo entrevistador, interado da obra do filósofo e interessado em questões atuais relevantes. No prefácio da obra Finkielkraut destaca seu apoio ao projeto, ao afirmar que “Não existe cabeça bem formada que não seja também uma cabeça repleta de amigos exigentes ou de obsessivos contraditores” (p. 8). Todavia, sabe-se das dificuldades que acompanham o projeto de livro derivado de entrevista. Maria Lúcia Pallares-Burke, que organizou uma coletânea de entrevistas com historiadores, sintetizou-as por meio de uma frase do historiador britânico A. J. P. Taylor, após uma entrevista: “Após viver tanto tempo com livros (…) se começa a preferi-los às pessoas [2] ”. Mas, apesar deste empecilho que, potencialmente, acompanha todo intelectual, Finkielkraut é honesto o bastante para reconhecer que “Para argumentar, não basta (…) possuir toda a razão; é preciso ver-se coagido a usá-la” (p. 8).
A obra é dividida em cinco capítulos – “Os inimigos e os demônios”, “O esquecimento do presente”, “O abandono da língua”, “O impudor dos vivos” e “Por que somos tão morais” –, sendo que os vários temas abordados no livro se entrelaçam numa visão abrangente do diálogo. É difícil, em uma resenha, discorrer sobre todos. Opto por destacar três deles, correlatos com assuntos prementes em nossa época e até nos noticiários: o judaísmo e o Estado de Israel; o paradoxo, num mundo globalizado, da luta das “pequenas nações” por autonomia; e – o que melhor revela a ingratidão para com a história, que intitula o livro – o relativismo cultural.
Em janeiro de 2008, uma polêmica entre a Federação Israelita do Rio de Janeiro e a escola de samba Viradouro a respeito de uma alegoria sobre o genocídio dos judeus pelos nazistas – o “holocausto” – ganhou os tribunais. O carro alegórico, a pedido da FIERJ, foi impedido pela Justiça de desfilar no carnaval. Sérgio Niskier, presidente da entidade, teria afirmado em conversa com o carnavalesco Paulo Barros que a função da entidade é combater o nazismo “24 horas por dia”. Este fato recentíssimo – obviamente, não citado no livro – ilustra um ponto levantado por Finkielkraut (nascido numa família judia): o choque do “holocausto” erigiu os judeus em referência moral do Ocidente, paradigmas do infortúnio e apóstolos contra a catástrofe. Vítimas por excelência, os judeus agora primam pela eterna vigilância sobre a memória do totalitarismo, função por eles aceita. Revelam-no a instrumentalização do anti-semitismo e o aparente monopólio da memória do genocídio nazista.
Há uma expressão utilizada por Finkielkraut sobre algumas minorias étnicas que bem cabe para qualificar tal postura: “mentalidade de credores”. Povos que sofreram no passado agora se sentem isentos de crítica; às vezes, podem até impingir sofrimento, reclamando imunidade para si. Se, para o autor, o paradigma desta mentalidade é a Sérvia (é de lembrar que o texto data de 1999, ano da intervenção das tropas da OTAN na crise entre o governo sérvio e Kosovo), os judeus – ou melhor, o Estado judeu, Israel – não o são menos. Há poucos anos, o pesquisador francês Pascal Boniface publicou um livro intitulado É permitido criticar Israel? (Est-il Permis de Critiquer Israël?, ed. Robert Laffont), que despertou violento debate na França. Ao criticar Israel pela instrumentalização do anti-semitismo – algo como: quem reprova Israel só pode ser anti-semita –, Boniface também alertava para o uso do “holocausto” como justificativa da agressiva política israelense relativa aos palestinos. O que é isto, senão a “mentalidade de credor” denunciada pelo filósofo?
É de notar que Finkielkraut apóia um “dever de memória” especial relativo ao nazismo, alegando a singularidade de fatos como o campo de concentração de Auschwitz. Os crimes hitleristas são paradigmáticos (em primeiro lugar) para o Ocidente por dois motivos: pela fabricação industrial de cadáveres e por ter sido cometido sob a égide de valores caros aos ocidentais, como a racionalização, o objetivo do progresso e a submissão da vontade à lei. A bem da verdade, o autor tem razão em destacar o “holocausto” entre outros genocídios. Como diz Marcos Marguiles, “cada vez menos pessoas entendem que os judeus foram as únicas vítimas ideologicamente predeterminadas e ‘cientificamente’ pré-selecionadas pelo nazismo. As outras (…) tinham fuga – os judeus eram condenados por terem nascido [3] ”. Finkielkraut lembra que o trauma de Auschwitz (metonímia, no livro, do genocídio nazista) é tão grande que levou a Alemanha a renunciar ao nacionalismo. Ainda são nítidas em nossa memória as imagens da Copa do Mundo de 2006, talvez a primeira explosão de patriotismo alemão em muitas décadas, exceto a ocasião especial da queda do Muro de Berlim.
Assumidamente judeu e comprometido com o “dever de memória”, Finkielkraut recusa, todavia, a identificação de tudo que ocorre no presente com Auschwitz. Isto é, a seu ver, uma memória preguiçosa, pois não leva em conta o hoje. Porém – aqui o autor denuncia um viés da ingratidão –, a pretexto de combater este tipo de memória, muitos querem dessacralizar in totum o passado. É o caso de historiadores israelenses que almejam reescrever criticamente a história do Estado. Se estes têm o mérito de refutar uma memória apologética, erram ao subordinar o passado ao presente e pretender uma cidadania “pura”, livre da etnia. Finkielkraut observa que todo país tem seus mitos, seus heróis, seu romance nacional, especialmente “pequenas nações” como Israel. Menosprezar tais traços revela ingratidão com as origens, a herança, com a própria história.
Para o leitor, chamar Israel – Estado poderoso, ponta-de-lança dos EUA no Oriente Médio – de “pequena nação” pode soar irônico. Mas, explica Finkielkraut, o conceito de “pequenas nações” se refere àquelas que têm sua existência posta em dúvida. As “grandes nações” têm uma existência imemorial que dispensa explicações; as pequenas, como Israel, têm de se agarrar ao seu romance nacional. Aliás, o autor afirma que deve a Israel o não ter sucumbido ao desprezo pelas pequenas nações. Não gratuitamente, Finkielkraut assume ser solidário ao Estado judeu, contudo, menos por sua origem étnica do que pelo modo de vida e participação política dos israelenses, pelo menos nas primeiras décadas do Estado. O que o desaponta em Israel é a admissão, pelo Estado, daquela “memória preguiçosa” a partir do fim dos anos 1970, revelada na “orgia analógica” da identificação entre as agressões impostas pelos vizinhos árabes e o “holocausto”. Foi esta postura – encarnada no então general Ariel Sharon – uma das responsáveis pelo assassinato do primeiro-ministro Ytzakh Rabin, em 1995, por um judeu, que não perdoara ao dirigente o “ter-se entendido com Hitler”.
Israel ocupa um lugar especial no livro – o segundo capítulo é quase todo dedicado àquele país e à “nação judaica” –, como se supõe, pelas origens do autor (que também escreveu La réprobation d’Israël, ed. Denoël), a importância do Estado judeu no mundo atual e sua vinculação inegável com o “dever de memória”, construção do século XX imposta pelo trauma do nazismo. Mas a discussão sobre Israel faz parte de um tema mais amplo: o significado das pequenas nações e seu lugar em meio à globalização. Como pode uma nação preservar sua identidade ao mesmo tempo em que participa de grandes blocos políticos e econômicos, em meio à expansão dos mercados e livre fluxo de capitais e sob a pressão de Estados multinacionais indispostos a lhes conceder autonomia ou mesmo reconhecimento?
A presente leitura de A ingratidão remete o leitor à questão do difícil reconhecimento, pela comunidade internacional, da recente proclamação de independência de Kosovo. Pode-se dizer que Finkielkraut antecipa as dificuldades a um projeto de autonomia de Kosovo na comparação que faz com a Bósnia. Esta tem uma composição multiétnica, enquanto o nacionalismo de Kosovo é genuinamente albanês. Como há, hoje, uma obsessiva atração por formações cosmopolitas, as entidades que não o são passam a serem ignoradas e até oprimidas, com a conivência alheia. Isaac Akcelrud, autor de um livro sobre o Oriente Médio, perguntado se uma defesa intransigente das nacionalidades provocaria um “aumento desordenado” de pequenas nações, responde com a pergunta: “que são ‘pequenas nações inexpressivas’[4] ?” Com efeito, Finkielkraut ressalta o perigo que é a má-vontade para com estas nações, observando que o século XX, marcado pela traição e desprezo àquelas entidades, deve servir como lição para o presente. Lição, talvez, não entendida por alguns países, como revela a questão kosovar. O caso de Kosovo remete a uma conclusão de Finkielkraut sobre o panorama ideológico da Europa no final do século XX: venceu o projeto de um continente em que as “grandes nações” hão de absorver os “peixes pequenos”.
Um argumento forte contra o apoio radical ao direito à autonomia das pequenas nações é a vigilância democrática. Afinal, em nome da liberdade, uma destas nações pode se tornar um reduto do despotismo do qual afirmam querer escapar. É nesta intrincada questão que Finkielkraut nos faz pensar ao discorrer – a pedido do entrevistador – sobre o caso de Quebec, província de língua francesa do Canadá que há décadas reclama autonomia política. A recusa da opinião pública ocidental em apoiar o projeto autônomo revela um desprezo clássico pelas nações pequenas ou uma saudável vigilância democrática? O filósofo responde com a afirmação de que o debate revela o choque entre duas idéias de nação – uma (cara a Quebec) baseada na memória, na tradição e na vinculação cultural (língua francesa); outra (cara ao Canadá anglófono), baseada no vínculo racional tecido em torno dos valores democráticos –, sendo que prevalece a que encarna um valor dos nossos dias: o cosmopolitismo. Isto é, vence a idéia de nação capaz de abrigar várias heranças culturais.
No entanto, é contra o cosmopolitismo do início do século XXI que Finkielkraut se coloca. O cosmopolita, de acordo com o significado tradicional da palavra, desfruta do teste do outro, deseja estar com o outro. Já o neocosmopolita não quer testar o diferente, mas ser como todos os outros ao mesmo tempo. Abre mão, assim, da cultura de que é herdeiro – de sua identidade – em prol de um “vir-a-ser turista” permanente. É o caso de homens e mulheres ocidentais que são adeptos de técnicas de relaxamento ou de sexualidade orientais, como a yoga e o kama sutra, mas que não deixam as comodidades do american way of life. Observação semelhante pode ser feita a respeito daqueles que criam sua própria religião, às vezes misturando elementos de várias delas, acabando por não professar nenhuma. Na verdade, trata-se de uma voluntária e radical desvinculação da herança. Para Finkielkraut, o cidadão tradicional, cioso de sua cultura, talvez seja mais benéfico para a democracia, porque lembra a existência e a legitimidade do outro.
Será que o Ocidente está perdendo sua identidade? Talvez sim, se a civilização ocidental preferir se enclausurar em si mesma, se recusando a disseminar suas conquistas. Estas palavras podem provocar a ira dos defensores das sociedades não-ocidentais, especialmente em tempos de exportação pela força de seus valores, encarnados pelos EUA. Só que muitos dos militantes que pretensamente combatem pelo “direito à diferença” contra a arrogância ocidental não percebem que a legitimidade de sua luta se baseia em conquistas tipicamente ocidentais, como a democracia e a liberdade de expressão. Esquecê-lo é “desvincular o ser da herança”, isto é, se portar (da maneira que convém) no hoje como um ocidental descartando todos os pressupostos que o ontem nos legou na construção da civilização. Um sinal desta distorção é a validade concedida ao relativismo e ao subjetivismo, propiciada por uma equivocada radicalização da democracia.
Se “todas as coisas são democráticas”, para que hierarquizar a arte, os estilos, os saberes, os protocolos, a idade? Finkielkraut diagnostica e lamenta um mundo em que todas as maneiras de viver e todos os enunciados se equivalem. O filósofo afirma que a transição para o século XXI testemunha um “niilismo triunfante”, que atinge todas as dimensões da cultura. O termo “niilismo” cai como uma luva no argumento, pois, com efeito, nossa época é a que nada vale mais ou menos do que nada. O valor de uma obra de arte, por exemplo, é relativo, dado por quem queira dar. O autor nota que um dos lugares em que esta tirania do relativismo e subversão dos valores tem mais força é a escola obrigatória, uma conquista do Iluminismo. Como tudo equivale, já não se cultiva a reverência aos grandes autores, às obras clássicas, à língua dos poetas. Finkielkraut justifica o lugar central das obras-primas ocidentais no ensino: se não são as melhores do mundo, são as melhores da nossa cultura. Mas a escola passou a ser ingrata com a história que a precede, em favor da valorização do momento e do gosto da clientela. No ensino da língua, um exemplo claro é o do “internetês”. Chama atenção a quem visita o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que, ao fim de um enorme painel sobre a história e evolução do português, há uma parte dedicada a uma nova forma de escrever o idioma, utilizada principalmente pelos adolescentes e jovens, na internet: “vc naum ta em ksa hj?”.
Será Finkielkraut um conservador, tradicionalista, retrógrado? Do ponto de vista atual, a resposta é afirmativa. Mas o filósofo nos quer levar à conclusão de que um programa “conservador”, que defenda os valores clássicos, as hierarquias, a cultura erudita e a não-equivalência – enfim, que combata o relativismo –, é a verdadeira subversão. Ao lembrar de 1968, quando a palavra de ordem era contra a escola e a favor da vivência de todas as sensações possíveis, o autor – com certa nostalgia inconfessa – alerta que há, na verdade, um “conservadorismo do movimento”. O relativismo cultural revela sua face mais intransigente no multiculturalismo e na escrita da história que o legitima, um ponto de muito interesse para nós, historiadores.
Talvez nenhuma palavra seja mais ouvida nos atuais discursos sobre a “diferença” do que tolerância. Toleram-se todas as opiniões, religiões, manifestações culturais, orientações sexuais, todas as escolhas, desde que não contrariem a tolerância. Finkielkraut observa que este discurso da tolerância é extremamente tirânico: no fundo, só tolera a si mesmo. Não se admite meio-termo: quem não defende o casamento gay é homofóbico ou, no Brasil, quem não apóia as cotas para negros é racista. Tirania que condiciona até o uso da língua. É de notar que Lula da Silva – cujo governo, aliás, tem como símbolo a palavra “Brasil” escrita em várias cores e como slogan a divisa “Um país de todos” – sempre inicia suas saudações televisivas com “a todas e a todos”.
Há vinte anos atrás, em A derrota do pensamento, Finkielkraut já alertava sobre o multiculturalismo no item “Um par de botas vale tanto quanto Shakespeare [5] ”. Ou seja, um simples trabalho artesanal não podia ser considerado “menor” que uma obra-prima da literatura universal. Aliás, perguntarão os multiculturalistas, por que obra-prima? Eis um ponto-chave do relativismo cultural: este se preocupa menos com a disciplina do verdadeiro do que com o reconhecimento mútuo. A história escrita sob a égide da “política do reconhecimento”, ao assumir feições vingativas contra o Ocidente (alegando “reparação”), partilha lógica semelhante. Na política educacional brasileira, temos diante de nós a obrigatoriedade do ensino de história africana nas escolas; na academia, os gays que escrevem a história do homossexualismo. Studies que, em nome de minorias historicamente oprimidas, condenam os white males. Para os representantes daquelas, a historiografia clássica não passa de porta-voz de um grupo desprezível: os machos europeus. Com efeito, se uma outra história tem pontos positivos (expansão dos objetos de estudo, valorização de outros pontos de vista), ela transforma o objeto em sujeito do discurso e é, no limite, preconceituosa: só se admira o que não é branco e ocidental. As tradições são descartadas pelo mero fato de o serem, enquanto os “livros desconcertantes”, que destroem símbolos e tradições herdados, é que são valorizados [6].
Finkielkraut, por tudo o que assume, é polêmico e corajoso, sem dúvida. Suas opiniões são ainda mais legitimadas pela qualidade de Robitaille, que não se furta a questioná-lo, interrompê-lo e mesmo provocá-lo. Por exemplo, quando o jornalista lembra o autor de que há intelectuais que se rejubilam em serem “do contra”, ou quando diz que havia chegado o momento de “pôr as cartas na mesa”: Finkielkraut não defende um programa conservador? Um livro apenas escrito pelo filósofo seria indubitavelmente de grande valor, mas, derivado de uma entrevista, a obra amplia o conhecimento do leitor sobre o intelectual, a ponto de aquele desejar, em alguns momentos, estar no lugar de Robitaille para interpelar o entrevistado.
Apesar do tom incisivo de suas palavras, Finkielkraut passa ao largo da intransigência. Não vê no relativismo cultural o fim da humanidade ou da história. O que o filósofo quer é nos deixar um alerta: escarnecer dos valores tradicionais, da história, enfim, da nossa própria herança, é ato tão corajoso quanto espancar nossa avó. Se uma memória que deplora os males do passado, como o genocídio nazista, é benéfica, nos faz falta outro tipo de memória, que venere o que há de bom no pretérito. Senão, seremos apenas uns ingratos, desmemoriados e intransigentes conservadores de plantão, papel inadvertidamente assumido pelos auto- apregoados arautos do reconhecimento mútuo, das minorias e da “reparação” histórica.
Notas
1. A derrota do pensamento. Trad. Mônica Campos de Almeida. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; A memória vã: do crime contra a humanidade. Trad. Rosa Freire d’Aguiar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
2. Introdução. As muitas faces da história: nove entrevistas. São Paulo: Ed. UNESP, 2000, p. 17.
3. Na contracapa de Hannah Arendt. Origens do totalitarismo, I: o anti-semitismo, instrumento de poder, uma análise dialética. Trad. Roberto Raposo. 2a ed. Rio de Janeiro: Documentário, 1979 (grifo original).
4. Isaac Akcelrud. O Oriente Médio: origem histórica dos conflitos – imperialismo e petróleo; judeus, árabes, curdos e persas. 4a ed. São Paulo/Campinas: Atual/Ed. da Unicamp, 1986, p. 2.
5. Op. cit. (1988), pp. 131-40.
6. Como diz Bronislaw Baczko: “A época das ortodoxias parece, pois, ultrapassada; vivemos, muito felizmente, na época das heresias ecléticas”. Imaginação Social. In: Einaudi. Vol. 5 (Antropos – Homem). Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985, p. 308.
Fernando Gil Portela Vieira – Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo.
FINKIELKRAUT, Alain. A ingratidão: a relação do homem de hoje com a História. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. Resenha de: VIEIRA, Fernando Gil Portela. Um Reencontro com o Ocidente. Cantareira. Niterói, n.13, 2008. Acessar publicação original [DR]
História e Teoria. Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade | José Carlos Reis
Nesta obra, José Carlos Reis transparece, com erudição, a importância da filosofia e de suas construções teóricas. Nas páginas finais do último artigo, ele ressalta: “Filosofia e história são atitudes complementares – toda pesquisa filosófica é inseparável da história da filosofia e da história dos homens e toda pesquisa histórica implica uma filosofia, porque o homem interroga o passado para nele encontrar respostas para as questões atuais” (p. 240). O livro é uma junção de ensaios do próprio autor, cada um com uma especificidade singular e, ao mesmo tempo, contínua, linear: todos tratam de “teoria da história”. Valendo-se de uma abordagem dos principais parâmetros contemporâneos do contexto historiográfico, Reis interroga, instiga, mostra caminhos, posicionamentos. Seu poder de síntese é invejável: diz muito em tão pouco. Para quem já estava cansado ou mesmo entediado com as discussões sobre verdade, modelos epistemológicos, historicismo, além das que envolvem concepções de tempo histórico e das oposições entre modernidade e pós-modernidade, o autor demonstra que ainda é possível um pensamento crítico e um esforço reflexivo.
No primeiro capítulo, o autor traz a “história da história”, analisando desde a metafísica até a pós-modernidade. A preocupação dos historiadores com a “humanidade universal” e o “sentido histórico” pautam sua análise. Ele quer discutir a passagem modernidade/pós-modernidade e suas possíveis repercussões na historiografia. Começa com os gregos, que não teriam construído a idéia de “humanidade universal”, tendo sido formulada com os romanos. Com o Cristianismo, a história esteve dominada pela Providência Divina e o futuro dependia da fé. A partir do século XIII ele perde sua força e surge uma outra representação da história: a “modernidade” e sua busca da racionalização.
A modernidade trouxe uma nova consciência do sentido histórico, uma nova representação da temporalidade histórica e, com ela, o mundo se fragmentou em valores distintos. O espírito capitalista (entenda-se burguês) é moderno, desencantado, secularizado, racional, tenso.
No século XVIII retorna a idéia de história universal. Pensa-se em direitos universais. Nesse momento, a modernidade através das filosofias da história recolocaria à história a questão do sentido histórico: é o desenvolvimento do processo de progresso, revolução, utopia; a idéia de história está dominada pelos conceitos de razão, consciência, sujeito, verdade e universal.
No século XIX , a história-conhecimento torna-se científica, o conhecimento histórico aspira a objetividade científica, a verdade. A eficácia da história está em servir ao Estado e às instituições da sociedade burguesa. Nietzsche seria o primeiro a romper com o conhecimento histórico científico e, a partir do século XX, aprofundariam-se as críticas, passando-se a recusar o determinismo, o reducionismo e o destino inescapável. A pós-modernidade concretizou-se no pós-1945, não acreditando na razão, pois os sentidos são multiplicados – o universal se pulveriza, fragmenta-se – e a história global é descartada. Os interesses voltam-se ao pequenos dados, aos indivíduos, o olhar em migalhas opera por fatos, biografias, múltiplas narrações: é a desaceleração da história. O estruturalismo aprofundou a revolução cultural pós-moderna, desconfiando do sujeito, da consciência, da revolução, da razão. Para Reis, estamos vivendo a pós-modernidade. O novo ambiente cultural é complexo e ambíguo: os historiadores pensam em rupturas, fragmentação, individualismos em plena globalização. O conhecimento histórico prioriza a esfera cultural, as idéias, os valores, as representações, linguagens, e a história torna-se ramo da estética, aproximando-se da arte, da literatura, do cinema, da fotografia, da música.
No segundo capítulo, Reis procura fazer um balanço das possíveis perdas e/ou dos possíveis ganhos do percurso da história do “global” às “migalhas”. Para tal, segue os pressupostos de François Dosse, o crítico francês dos Annales que destacou a descontinuidade presente nos “seguidores” dos “pais fundadores”. Para conseguir um balanço entre perdas e ganhos, Reis conceitua história global e história em migalhas. História global teria dois sentidos: “história de tudo” e “história do todo”. O primeiro sentido seria entendido por “tudo é história”, o segundo seria a intenção de apreender o “todo” de uma época. Este último sentido não teve espaço na terceira geração dos Annales. Já as migalhas, podem significar a multiplicação dos interesses e das curiosidades históricas; a fragmentação, a especialização extrema, a desarticulação dos tempos históricos. Ou, no sentido otimista, as migalhas significaram o amadurecimento do projeto inicial; a história escrita no plural, múltipla, que analisa partes da realidade global. Por fim, nosso autor faz uma enumeração riquíssima em termos de prós e contras dessa passagem do global às migalhas, colocando-se no lugar de quem avalia uma perda ou um ganho.
O terceiro capítulo, intitulado “A especificidade lógica da história”, levanta questões que colocariam em dúvida a possibilidade do conhecimento histórico, entre elas: “A história é um conhecimento possível?”. Salienta a importância da reflexão teórica problematizante, alertando sobre a impossibilidade de ser historiador sem tomar o conhecimento histórico como problema. A questão a ser pensada seria a existência de um conhecimento histórico reconhecível. Esse conhecimento talvez estivesse na recusa da ficção. Nessa luta contra a ficção, a história aproxima-se da ciência. Quanto a possibilidade de história científica, José Reis apresenta quatro modelos: nomológico, compreensivo, conceitual e narrativo. O modelo nomológico, centrado em Hempel, defende a unidade da ciência, as explicações causais; é um modelo neopositivista, que busca encontrar leis gerais, da mesma forma que as ciências naturais. O modelo compreensivo tem dois expoentes: Dilthey e seu método da compreensão e interpretação das ciências do espírito, e Weber com uma visão racionalista da compreensão. A sociologia compreensiva busca interpretação da conduta humana; para compreender, pode-se construir o “tipo ideal” de uma ação racional. Para Reis, Weber ainda sustenta uma visão racional da história. O modelo conceitual está baseado na história científica weberiana: ela é racionalmente conduzida, fundamentada na compreensão e em conceitos. A compreensão e subjetividade incluídas na história não abdicariam a abordagem científica da mesma, presentes através de tipos e conceitos. Paul Veyne, com influência weberiana também defendeu a história conceitual, que para ele estaria entre a ciência e a filosofia. Para o Veyne de “O Inventário das diferenças”, a história conceitual seria científica porque oferece uma inteligibilidade comparativa. Já o Veyne de “Como se escreve a história”, tem a história como “narrativa verdadeira”, mas não científica. François Furet, também influenciado por Weber – e Reis salienta que os Annales “parecem dever mais a Weber do que querem admitir” – percebe a história como oscilação entre arte da narração, inteligência do conceito e rigor das provas, mas não como ciência. Por fim, no modelo narrativo e atual (alguns autores sustentam que o discurso histórico sempre foi narrativa), espera-se uma relação mais estreita com o vivido, o tempo, os homens. A história-problema entrou em crise por afastar-se dos homens e negar a temporalidade. Para Veyne, a história é uma narrativa que explica enquanto narra, é compreensão, é atividade intelectual. Paul Ricoeur esclarece a estrutura de uma nova narrativa histórica, lógica e temporal, ou seja, temporalidade e a narratividade se reforçam. Ricoeur defende o primado da compreensão narrativa em relação à explicação, sendo a narrativa histórica uma representação construída pelo sujeito, que se aproxima da ficção e retorna ao vivido. A história, em última análise é a narrativa do tempo vivido.
No quarto capítulo, Reis discute as posições da verdade sobre o conhecimento histórico. Os céticos em relação à história fazem várias objeções à possibilidade da objetividade e verdade em história, entre elas estaria o fato desse conhecimento estar ligado ao presente (que sempre reinterpreta o passado), à subjetividade, à compreensão e à intuição; ainda ao fato de não produzir explicações causais, de ser conhecimento indireto do passado, de utilizar a mesma linguagem da ficção, de utilizar fontes lacunares, de ser interpretação e construção de um sujeito e ter o conhecimento pós-evento. O conhecimento objetivo seria aquele válido para todos, universal, analítico, problematizante, necessário. Para Reis não há razão para o ceticismo. Ele cita Koselleck, para quem a história precisa sustentar duas exigências: produzir enunciados verdadeiros e admitir a relatividade. Na tentativa de indicar posições para o alcance da verdade histórica, Reis busca as teses de alguns autores. Divide-os em realistas metafísicos e nominalistas. Começando pelos primeiros, tem-se que para Ranke a história produziria verdade através do método crítico. Nesse sentido o sujeito não se anula, apenas se esconde, se autocontrola. Weber não vê a possibilidade de abordar o real em si, apenas aspectos, partes. O sujeito divide-se em esferas lógicas autônomas. Duas subjetividades buscam a verdade, que é conhecimento empírico. Em Marx, o sujeito deve assumir sua subjetividade. A verdade não é universal, mas de um grupo social. O conhecimento histórico produzido é objetivo, mas parcial, relativo, pois o historiador precisa tomar partido. Para Ricoeur, a verdade é traduzida pelo sujeito de forma comunicável a partir de uma objetividade que exige a presença da subjetividade. Na mesma direção, Marrou declara ser a objetividade histórica, específica, subjetiva, através de valores éticos universais. Todos procuram critérios universais para a verdade, todos são construções totalizantes da verdade histórica. Nos nominalistas, a subjetividade é plena, o universal é impensável. Em Foucault a verdade é construção de um sujeito particular e expressa relações de poder: essas relações criam linguagens e saberes para se legitimarem. Michel de Certeau tem a história como fabricação do historiador, um discurso que emerge de uma prática e de um lugar institucional e social. Duby assume a história subjetiva, que estaria próxima da literatura e do cinema, onde a imaginação e o sonho não são proibidos. Por fim, Koselleck sustenta a verdade histórica caleidoscópica, se relaciona com a história da história, examina a historiografia anterior. O passado é selecionado, reconstruído em cada presente. Reis conclui esse capítulo ressaltando que a verdade histórica é obtida com exame exaustivo do objeto, com todas as leituras possíveis.
O quinto capítulo traz a discussão sobre o tempo histórico em Ricoeur, Koselleck e nos Annales. O historiador tem interesse no temporal, na alteridade humana, não deseja conhecer o que está fora do tempo, o que não muda, deseja sim, conhecer a mudança, logo o tempo da história seria um terceiro tempo. Para Ricoeur, o tempo histórico refere-se à vida humana e o calendário é indispensável, pois é ele que numera e em cada marca dessa numeração existiu um homem individual (social). Outro conceito é o de geração, trata-se de vida compartilhada. O tempo histórico representa permanência de gerações e seqüência de gerações. A terceira conexão são os vestígios, os arquivos, pois as gerações deixam sinais, marcas, que são buscadas pelo historiador. Koselleck critica o conceito de tempo calendário, mas não o descarta, advertindo para o conhecimento interior do mundo humano, a idade interna de uma sociedade, ou seja, a relação estabelecida entre seu passado e seu futuro. Na perspectiva dos Annales, o tempo histórico é estrutural – influência das Ciências Sociais que compreendiam o tempo como “estrutura social” – existindo a recusa da mudança, em favor do modelo, da quantidade, da permanência. A influência foi o aparecimento na história do mundo mais durável, mais estrutural (estruturas econômicas, sociais, mentais), de movimentos lentos, com desaceleração das mudanças, e é justamente o conceito de “longa duração” que permitiu maior consistência ao terceiro tempo do historiador.
O sexto e último capítulo é dedicado à contribuição de Dilthey para a história, que, aliás, é considerado como o pensador que “redescobriu a história”. Dilthey é associado ao historicismo, embora seja difícil enquadrá-lo em algum rótulo. Ele estaria entre um historicismo romântico e um epistemológico por buscar compreender o homem enquanto ser histórico, compreender a alteridade e todos os aspectos da vida de um povo; a história em Dilthey é mudança e o que permanece é compreensão, comunicação entre homens diferentes, sendo o homem “experiência vivida” e a verdade, o processo histórico.
No contexto do século XIX, Dilthey apontou o caminho da história, da vida, tendo por missão da história “apreender o mundo dos homens através do estudo das suas experiências no passado” (p. 241). Reis diz que em Dilthey filosofia e história estão unidas. Talvez esse fato tenha cativado nosso autor a ponto de despertar tanto seu interesse por Dilthey.
De fato, Reis cativa o leitor com sua narrativa, sua exposição, sua paixão pela teoria. Este livro é mais uma referência obrigatória a todos que se preocupam em pensar o papel da teoria na contemporaneidade; ele incita os historiadores ao conhecimento dos paradigmas atuais das ciências sociais. Se José Reis pretendia com este livro, “fazer circular, renovar, estimular e transmitir cultura” (p. 13), parece-nos que ele conseguiu!
Mauro Dilmann – Mestrando em História pela Unisinos/RS.
REIS, José Carlos. História e Teoria. Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. Resenha de: DILMANN, Mauro. Cantareira. Niterói, n.9, 2005. Acessar publicação original [DR]
Quem assume esta tarefa? Um documentário de uma igreja em busca de sua identidade | Germano Burger
O MANIFESTO DE CURITIBA DA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL[1]
A IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL, REUNIDA EM SEU VII CONCÍLIO GERAL EM CURITIBA NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, OBEDIENTE À MISSÃO QUE LHE É INERENTE COMO IGREJA DE CRISTO, RESOLVE MANIFESTAR O SEGUINTE:
- TESES SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE A IGREJA E O ESTADO
1.1 – A mensagem da Igreja cristã visa à salvação do homem, salvação que transcende as possibilidades humanas, inclusive as políticas. É mensagem de Deus – não deste mundo. Mas ela é destinada a este mundo e quer testemunhar Jesus Cristo como Senhor e Salvador do mundo. Por isso a Igreja não pode viver uma existência sectária, guardando para si mesma a mensagem que lhe foi confiada. Ela tem o ministério de testemunhar a palavra de Deus, ministério do qual ela não se pode esquivar, a não ser pelo preço da desobediência para com seu Senhor.
A mensagem da Igreja sempre é dirigida ao homem como um todo, não só à sua “alma”. Por isso, ela terá conseqüências e implicações em toda a esfera de sua vivência – inclusive física, cultural, social, econômica e política. Não tenderá apenas a regular as relações entre os cristãos, mas visará igualmente ao diálogo com outros cidadãos ou agrupamentos, sobre todas as questões relacionadas com o bem-comum.
1.2 – A mensagem “pública” da Igreja cristã, no que se refere aos problemas do mundo, não poderá ser divorciada do seu testemunho “interno”, já que este implica naquela. Assim a Igreja não pode condicionar seu testemunho público aos interesses de ideologias políticas momentaneamente em evidência, ou a grupos e facções que aspiram ou mantêm o poder. Em seu testemunho público, não poderá ela usar métodos incompatíveis com o Evangelho.
1.3 – Em princípio, Estado e Igreja são grandezas separadas, como o define também a Constituição do nosso País. Mas em virtude das conseqüências da pregação cristã que se manifestam na esfera secular, e pelo próprio fato de os cristãos serem discípulos de Cristo e simultaneamente cidadãos de seu país, não será possível separar totalmente os campos de responsabilidade do Estado daqueles da Igreja, embora seja necessário distinguí-los. Na esfera onde os respectivos campos se fundem, a Igreja, por sua vez necessitando da crítica do mundo, desempenhará uma função crítica – não de fiscal mas antes de vigia (Ezequiel 33,7) e de consciência da Nação. Ele alertará e lembrará as autoridades de sua responsabilidade em situações definidas, sem espírito faccioso, e sempre com a intenção de encontrar uma solução justa e objetiva.
1.4 – A Igreja busca o diálogo franco e objetivo com o Estado em atmosfera de abertura, de liberdade e de autêntica parceria – diálogo que tem por finalidade encontrar soluções para os problemas que afligem a sociedade. Como parceria co-responsável do governo secular, ela obedece ao preceito do Senhor que diz: “Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” (Marcos 12,17). Baseada nesta premissa fundamental, ela se sente chamada a cooperar com as autoridades governamentais em uma vasta gama de tarefas, como, por exemplo, na educação das novas gerações, na alfabetização de adultos, no apoio a ações sociais do governo, no combate a doenças, à pobreza, à marginalização do homem, e em outras atividades que não sejam de caráter puramente técnico. Esta cooperação implica no constante esforço destinado a eliminar as causas que eventualmente provoquem os males em questão.
1.5 – Em conseqüência da pregação pública da Igreja poderão surgir tensões com autoridades governamentais, seja por equívocos humanos, seja por razões de caráter fundamental. A Igreja, em tais casos, não procurará contestar o poder do Estado, como se ela fosse um partido político, mas proclamará o poder de Cristo. Onde ela sentir-se compelida a contrariar medidas governamentais, antes de tomar qualquer atitude pública, procurará dialogar com as autoridades respectivas. Em todos os casos agirá sem intuitos demagógicos – deixando claro que ela se sabe chamada a advogar em prol de todos os homens que sofrem.
- ASSUNTOS QUE PREOCUPAM A IGREJA
2.1 – O caráter do culto cristão
A Igreja entende que o culto, sendo o evento central da vida do cristão, através do qual se nutre sua vida espiritual, deverá ter resguardado o seu caráter de serviço de Deus, de adoração, de comunhão cristã e de diálogo com Deus. Jesus Cristo é o único Senhor do culto cristão.
O culto terá conseqüências políticas, por despertar responsabilidade política, mas não deverá ser usado como meio para favorecer correntes políticas determinadas. Pátria e governo serão objetos de intercessão da comunidade reunida para que, possam promover justiça e paz entre os homens, e os fiéis darão graças ao seu Senhor por estas preciosas dádivas. A pátria será honrada e amada; seus símbolos serão respeitados e usados com orgulho cívico, no sentido mais legítimo, mas o cristão não poderá falar da pátria em categorias divinizadoras.
O diálogo entre Igreja e Estado poderá resultar numa responsabilização conjunta pela programação dos dias festivos nacionais que rendem homenagem à pátria.
2.2 – Ensino cristão e educação moral e cívica
Embora numa sociedade pluralista e multiconfessional, como a brasileira, o Estado, compreensivelmente, esteja interessado em evitar uma orientação sectária no campo educacional, julgamos ser indispensável que nas escolas seja mantido, inequivocamente, o ensino cristão. Consideramos ser a educação moral e cívica uma matéria necessária para a formação do cidadão, porém não a julgamos uma matéria que possa ou deva suplantar o ensino cristão. O ensino moral e cívico, com bases ideológicas declaradas, para muitos cristãos deixou imprecisos os limites entre a esfera da Igreja e a do Estado. Entendemos que qualquer atitude moral e cívica autêntica tenha as suas raízes em uma confissão autêntica. Um ensino “teista mas aconfessional”, como o define o Decreto-Lei 869/69, pode induzir muitas pessoas a compreendêlo como substitutivo do ensino cristão, e as suas bases ideológicas como sendo alternativa para uma orientação confessional cristã. Tanto professores como educandos serão levados necessariamente a conflitos de consciência, caso estes conceitos se fixarem.
É do interesse da IECLB que esta questão seja objeto de um exame em conjunto de representantes das Igrejas e do Estado.
2.3 – Direitos humanos
Numerosos cristãos sentem-se perturbados pelo fluxo de notícias alarmantes sobre práticas desumanas que estariam ocorrendo em nosso País, com relação principalmente ao tratamento de presos políticos, donde surge uma atmosfera de intranqüilidade, agravada com a carência de informações preciosas e objetivas. Embora as notícias veiculadas no exterior, freqüentemente evidenciem o caráter tendencioso, e embora órgãos oficiais do País seguidamente tenham afirmado a improcedência das mesmas, permanece um clima de intranqüilidade, em virtude das informações não desmentidas da imprensa do País, sobre casos onde se inculcam órgãos policiais de terem empregado métodos desumanos – seja no tratamento de presos comuns, seja de terroristas políticos, ou seja de suspeitos de atividades subversivas.
Entendemos mesmo, como Igreja, que nem situações excepcionais podem justificar práticas quer violam os direitos humanos.
E como Igreja sentimos necessidade de dialogar com o nosso Governo também sobre o assunto – uma vez para apontar a extrema gravidade da questão, tendo em vista os princípios éticos em jogo, mas também para promulgar o nosso inteiro apoio a quem se acha seriamente empenhado em coibir abusos cometidos e em oferecer ao mais humilde dos brasileiros – inclusive ao politicamente discordante – a absoluta certeza de que seja tratado segundo as normas da mesma lei com a qual possa ter entrado em conflito.
Curitiba, 24 de outubro de 1970.
Karl Gottschald Pastor Presidente
Nota: O documento acima transcrito foi entregue pelos pastores Gottschald, Kunert e Schlieper, no dia 5 de novembro à tarde, à Presidência da República no Palácio Planalto em Brasília. No dia 6 de novembro de manhã, os mesmos pastores foram recebidos em audiência pelo Senhor Presidente da República. O diálogo muito franco e cordial , estabelecido entre o Senhor Presidente da República e os representantes da IECLB evidenciou, de maneira clara e insofismável, a disposição por parte dos homens responsáveis do nosso Governo em dialogar com a nossa Igreja sobre os problemas que nos preocupam. A maneira como recebida esta Manifestação da nossa Igreja demonstra a abertura do nosso Governo para sugestões e críticas construtivas.
Para evitar exploração indevida da Manifestação nesta época pré-eleitoral, foi estabelecido, desde o início, que o conteúdo deste documento fosse publicado apenas no dia 15 de novembro, dia das eleições.
COMENTÁRIOS SOBRE A FONTE
O Manifesto de Curitiba pode ser considerado um documento que marcou o desencadeamento de diversas ações no âmbito social da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB. Trata-se de um escrito emblemático, de significado ímpar, emitido pela VII Assembléia Geral da IECLB, em outubro de 1970, na cidade de Curitiba, sendo em seguida entregue pessoalmente ao Presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici. O documento apresenta teses sobre as relações entre a Igreja e o Estado e assuntos que preocupam aquela Igreja. Entre esses, destaca-se o caráter do culto cristão, o ensino cristão e a educação moral e cívica, e a questão dos direitos humanos. A questão dos direitos humanos é considerada o assunto mais sensível tratado no manifesto. Há que se lembrar aqui aqueles anos delicados em termos de direitos humanos no Brasil, em virtude dos governos militares.
Para os luteranos, o documento pode ser considerado como uma afirmação de fé clara, numa época em que o Brasil vivia sob o regime de uma ditadura militar e os direitos humanos eram flagrantemente desrespeitados. O manifesto reafirmou o caráter do culto cristão como o serviço a Deus, entendendo ser Jesus Cristo o único Senhor do culto cristão. O documento defendeu a manutenção do ensino cristão nas escolas, ameaçado pela introdução da Educação Moral e Cívica. Quanto aos direitos humanos, o documento ressaltou “que nem situações excepcionais podem justificar práticas que violem direitos humanos” (…) “seja no tratamento de presos comuns, seja de terroristas políticos, ou seja de suspeitos de atividades subversivas”.
Não é necessário grande esforço de reflexão para entender os limites da compreensão dos termos utilizados se considerada a tradição da Igreja luterana e envolvimentos políticos comprometedores em outros momentos da história. A utilização de termos “terroristas” e “atividades subversivas” pode indicar que algumas formas de contestação ao regime também não eram aceitas na Igreja, e a explicitação das mesmas tenderia a auxiliar no diálogo com o Estado. Na verdade a Igreja não buscava um confronto com o Estado e nem questionava a ditadura em si. O que estava em jogo, na óptica da Igreja, eram questões de ordem religiosa e moral que deveriam ser respeitadas por qualquer governo. A forma como foi encaminhado o documento revela um jeito cautelar luterano de longa data. Lutero também havia alertado os príncipes de suas obrigações como senhores e como deveriam tratar seus súditos [2].
O Manifesto de Curitiba, embora naquele instante um documento avançado se considerada a tradição da Igreja Luterana, foi estimulado pela reação desencadeada com a transferência da V Assembléia da Federação Luterana Mundial do Brasil para a França. A transferência aconteceu em decorrência das denúncias das ações da ditadura contra os direitos humanos. Temia-se que a conferência, acontecendo no Brasil, acabaria ajudando a legitimar o governo brasileiro. Queria-se, por outro lado, também evitar constrangimentos, uma vez que, para um evento dessa natureza, fatalmente se convidaria o presidente da república para o cerimonial de abertura.[3]
O Manifesto de Curitiba é dividido em duas partes. Na primeira, reescreve, à luz do tempo presente, teses sobre as relações entre a Igreja e o Estado. Na segunda, externa assuntos que preocupam a Igreja. Na opinião desse historiador, a situação política vigente faz emergir no documento questões históricas inconclusas relacionadas à inserção do cristão nas questões temporais. A difícil discussão sobre os limites dos dois reinos (espiritual e temporal) aparece no manifesto.
Ao especificar a relação entre a Igreja e o Estado, o manifesto ressalta que a mensagem “pública” da Igreja cristã, no que se refere aos problemas do mundo, não poderá ser divorciada de seu testemunho “interno”, já que um implica o outro. Sendo assim, a Igreja não pode condicionar seu testemunho público aos interesses de ideologias políticas momentaneamente em evidência, ou a grupos e facções que aspiram ou mantêm o poder.
Neste sentido, a Igreja se preocupa em buscar o diálogo franco e objetivo com o Estado em atmosfera de abertura, com a finalidade de encontrar soluções para os problemas que afligem a sociedade. “Como parceira corresponsável do governo secular, ela obedece ao preceito do Senhor que diz: ‘Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus’”. O manifesto ressalta que, em conseqüência da pregação pública da Igreja, poderão surgir tensões com autoridades governamentais. Neste caso, porém, a Igreja não procurará contestar o poder do Estado, como se ela fosse um partido político, mas proclamará o poder de Cristo. E quando sentir-se compelida a contrariar o Estado, procurará no diálogo o primeiro passo para o entendimento.
Mesmo que demonstrasse ingenuidade e reservas sobre algumas questões, o manifesto pode ser considerado como um documento que comprova a não omissão da Igreja luterana nas questões delicadas daquele tempo. Pode ser hoje considerado um passo tímido, cautelar e modesto, mas foi um passo considerado relevante para a história da Igreja no que se refere à sua inserção social. A forma de colocar as questões acabou sendo o jeito possível encontrado no momento. A partir daquela data o documento será utilizado em vários momentos da história da Igreja, inclusive no tempo presente.
O documento não levantou questões de ordem estrutural. O modelo econômico e social não foi abordado, mas apenas o regime político no que tange à ideologia de segurança nacional e aos direitos humanos. Schünemann vê no manifesto um tom não-ofensivo e amenizador. Isto teria feito segundo ele, com que o plenário do Concílio de 1970, composto majoritariamente por cidadãos luteranos que possuíam grande estima pelo regime vigente, aprovasse o manifesto. Enfatizando toda a cautela que acompanhou a elaboração e a entrega do documento ao presidente da república, considera que o documento reflete a consciência possível da Igreja naquelas circunstâncias. [4]
Notas
1. FONTE: BURGER, Germano. Quem assume esta tarefa? Um documentário de uma igreja em busca de sua identidade. São Leopoldo: Editora Sinodal, 1977, pp. 37- 41.
2. O texto de Lutero que mais especifica o assunto intitula-se À Nobreza Cristã da Nação Alemã, acerca da Melhoria do Estamento Cristão e Da Autoridade Secular.
3. SCHÜNEMANN, Rolf. Do gueto à participação: o surgimento da consciência sócio-política na IECLB entre 1960 e 1975. São Leopoldo: Sinodal, 1992.
4. Ibidem., pp. 103-104
Tarcísio Vanderlinde – Doutorando em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Desenvolve a tese intitulada “Entre dois Reinos: a inserção luterana entre os pequenos agricultores”.
BURGER, Germano. Quem assume esta tarefa? Um documentário de uma igreja em busca de sua identidade. São Leopoldo: Editora Sinodal, 1977, pp. 37- 41. Resenha de: VANDERLINDE, Tarcísio. O Manifesto de Curitiba: alguns comentários. Cantareira. Niterói, n.6, 2005. Acessar publicação original [DR]
Os Reis Taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio França e Inglaterra | Marc Bloch
Será desnecessário apresentar Marc Bloch aos historiadores. As pessoas que têm por ofício remexer o passado e seus vestígios de vida humana bem sabem a presença de nosso autor. Sentem-na tão forte em sua formação cotidiana que parecem, já familiarizados, dispensar o auxílio e a recorrência da procura. O historiador dos Annales, assim como os mortos renascentes da história, marca a historiografia e sua posteridade, funda discípulos e princípios, conduz da maneira mais humilde e sincera a apologia da história ou o ofício de historiador. Nosso livro é uma obra sua e não a menos genial. Talvez, a mais famosa. De leitura clássica e indispensável. Seu conteúdo: obra de ciência, de artista metódico, fonte de um renovar de história onde ainda história inexistia. Os reis taumaturgos e seus escrofulosos_ símbolos da mais alta magia e da crença; do poder e do sagrado, da ilusão e da cura.
***
Tudo tem início num propósito novo. Trata-se de estudar, em pleno ambiente intelectual dos anos 20 do século passado, a história de um milagre. Refazer grande parte do percurso da Idade Média e da Época Moderna para compreender o rito de cura das escrófulas (adenite tuberculosa), efetuado pelos reis de Inglaterra e França através do toque de suas mãos, regiamente diferenciadas. Ou, para ser mais exato e explícito, “fazer história com aquilo que, até o presente, era apenas anedota”(p.43). E sua história revela-se profunda. Da anedota, extrai matéria interminável de compreensão da humanidade persistente naqueles tempos antigos. Mais do que extração, aprofunda-se em novo estudo de história política e mental.
No interior da obra, vários temas sobressaltam e se fazem presentes ao conjunto da história deste milagre. Dá-se especial atenção à importância do imaginário coletivo, do poder das crenças e atitudes mentais dos homens, assim como se volta à demarcação do campo de disputas políticas travadas no processo de ascensão das casas principescas européias; a relevância do sagrado para caracterizar o ambiente religioso e mágico destas épocas, oscilantes entre o catolicismo pio da Igreja, os projetos e intenções nem sempre espirituais do poder laico e as tradições e anseios da cultura popular. Adentra a história de um milagre régio e de sua apropriação do sagrado, disputa e delimitação de diferenças e penetrações entre o espiritual e o secular, rei e papa, sacerdote e leigo_ História de sagração e poder, fé e crença. Enfim, passado, mais uma vez, que se vê profundo porque profundos são os desejos de vida humana na história.
***
A obra dividi-se em três livros. O primeiro, intitulado “as origens”, remonta aos primórdios das monarquias de França e Inglaterra. Servindo-se do famoso “mito das origens”, que tanto rodeia e seduz os historiadores, mesmo entre os mais astutos e conscientes, explicar-se-á o surgimento e a fundamentação permanente do ato de cura régia, no século XI, na França Capetíngia, e no século XII para os ingleses Plantagenet.
Mas, talvez, o indício mais significativo do primeiro tomo seja a caracterização do rito de cura em seus aspectos políticos e mentais: o desejo de cura dos escrofulosos, a imagem sagrada transposta ao rei através da consagração eclesiástica (principalmente com a unção), a delimitação da ambivalência atribuída pela cultura popular à certa salvação de sua saúde_ o sagrado enquanto sinônimo de “capaz de curar”_ e a longa tradição mágica presente em meio à gente comum.
O segundo livro, maior da obra, trata, primeiramente, do desenvolvimento do rito de cura régia durante a Baixa Idade Média, procurando “evocar o aspecto perceptível sob o qual esse poder corporificou-se aos olhos dos homens durante aquele período.”(p.91). O rei levava suas mãos às partes enfermas dos doentes e, logo após o toque, fazia o sinal da cruz. Eram essas, com pequenas variações, em suma, as ações básicas do rito. Contudo, apesar de simples, não deixavam de possuir imensa popularidade. “Tanto os reis de França quanto os da Inglaterra pretendiam ter o poder de curar”, e junto deles, acrescenta Marc Bloch, “todas as classes estavam representadas na multidão sofredora que acorria ao rei”.(p.101). Ao que tudo indica, a crença no poder taumatúrgico dos reis passaria ilesa pelos tempos conturbados dos séculos XIV e XV. É que a multidão atribuía às personagens régias divindade demais para conformar-se com a opinião de que seus soberanos fossem apenas simples senhores temporais. E, nisso, não estavam sós: também a medicina da época concordava em legitimar a prática régia dentro de quadros válidos para a saúde humana. Contudo, ainda, como sempre, existem contraditores. E aí tem-se a presença marcante do movimento Gregoriano, a disputar, primeiro com o Império e depois com o Regnum, as prerrogativas do sagrado. Por fim, ainda houve as tentativas de imitação dos reis ingleses e franceses por parte de alguns soberanos alhures.
Encontra-se também no mesmo livro o estudo de outra prática taumatúrgica. Só que, dessa vez, rito seguido apenas pelos soberanos Plantagenet. Trata-se das curas efetuadas pelos anéis medicinais benzidos pelos reis bretões, anéis que saravam da epilepsia e de distúrbios musculares. Em verdade, tínhamos, para todos estes atos mágicos e sagrados, o mesmo motivo: segundo Bloch, “o conceito de realeza sagrada e miraculosa (…), profundamente enraizado nas almas, permitiu que o rito do toque (assim como o dos anéis) sobrevivesse a todas as tempestades e a todos os assaltos”. (p.131).
Desta forma, vários temas perpassam a sedimentação do rito e as características essenciais com que o conceito de realeza sagrada e maravilhosa se mostrou. Dentre eles, destaca-se a dúbia condição assumida pela realeza diante da dignidade espiritual, quer dizer, “os reis sabiam muito bem que não eram de todo sacerdotes; mas eles também não se consideravam leigos; em torno deles, muitos de seus súditos partilhavam desse sentimento”.(p.149). Também, aspecto importante da santidade atribuída ao trono, a sagração real se fazia presente na devoção que lhe era dedicada. A unção régia, por seu lado, fornecia a razão desejada para demarcar a característica sagrada dos reis, que os situava, vez em quando, ao mesmo patamar dos sacerdotes de Roma. Vê-se, ao lado destas características, a própria definição e legitimidade do poder real: “Todo mundo sabia que para fazer um rei, e para fazê-lo taumaturgo, era necessário preencher duas condições(…) a ‘consagração’ e a ‘linhagem sagrada’”(p.169).
No desenrolar das práticas e discursos de legitimação, a monarquia condensa seus aparatos de símbolos e identidades. Em França, perpetuam-se as legendas do ciclo monárquico (Santa âmbula, as flores-de-lis e a auriflama) e as superstições que rodeavam a figura régia(o sinal de pele e a defesa inata contra os leões). Porque, “nessa época, o sucesso do maravilhoso de ficção explica-se pela mentalidade supersticiosa do público a que se destinava.”(p.187). Enfim, tem-se todo um arcabouço de sofisticação e moldagem do exercício do poder, correspondente, nos dizeres de Bloch, “aos progressos materiais das dinastias ocidentais”. Voltando à taumaturgia do toque das escrófulas, a evolução de signos atribuídos ao poder real é levada adiante pela aproximação, em França, da figura régia a S. Marcoul, santo curador deste mal que tanto afligia as almas. O que se mostra é a interpenetração de crenças populares que devotavam ao santo, assim como ao rei depois de sagrado, a capacidade sobrenatural. Além dos dois, somente aos “sétimos filhos” era concedido o dom taumatúrgico sobre os escrofulosos.
Contudo, apesar do avanço simbólico e material, sérios problemas surgiriam no século XVI para trajetória das casas reais européias. A Renascença e o Movimento Reformista compõem um novo tipo de pensamento humano e espiritual para os homens da Época Moderna. Mas, a crença maravilhosa da dádiva real ainda permaneceria viva até pelo menos o final do Antigo Regime. E nesse persistir, segundo Bloch, podemos entender melhor o desabrochar do absolutismo de Luís XIV na França e a profundidade do drama político inglês vivido no século XVII.
A Reforma havia complicado a vida política européia, e o rito do toque não escaparia às disputas que então se faziam entre os partidários da antiga fé e os novos seguidores da religião reformada. Primeiro abalo que se seguiria de outros. “Na verdade, a idéia do milagre régio estava relacionada a toda uma concepção do universo”, diz Marc Bloch. “Ora, não há dúvida de que, desde a Renascença e sobretudo no século XVIII, essa concepção tenha pouco a pouco perdido terreno.”(p.252).
As dinastias francesas e inglesas advindas após a Guerra dos Cem Anos e a Guerra das Duas Rosas passariam a tirar vantagem e também a sofrer os abalos de um lento, porém, progressivo, processo de secularização das consciências e das instituições políticas. As transmutações da história monárquica inglesa no século XVII imporiam vida curta ao rito miraculoso dos reis- médicos em território Saxão. A prática tem seu fim no início do século XVIII, já sob os Hannover.
O fim do rito francês demora ainda algum tempo. Tem-se, então, a incômoda passagem do pensamento ilustrado e da Revolução de 1789. Segundo o autor, “a decadência do milagre régio está intimamente ligada a esse esforço dos espíritos, pelos menos da elite, para eliminar da ordem do mundo o sobrenatural e o arbitrário e, ao mesmo tempo, conceber sob uma faceta unicamente racional as instituições políticas.”(p.252). O ocaso do rito em França se dá no século XIX sob reinado de Carlos X, situação onde a crença no milagre régio era ainda aceita apenas por parte do público arraigado às práticas antigas. Aqui se faz sentir toda a persuasão do céptico e irreligioso século XIX, onde o desencantamento do mundo redobrara a descrença nos corações dos homens.
***
São várias as indicações que Jacques Le Goff nos oferece, em seu prefácio da obra de Marc Bloch, para melhor entendermos Reis taumaturgos. Num resumo de tópicos, Le Goff aponta os possíveis itens da vida intelectual e prática de Bloch que teriam influenciado a feitura da obra: as reminiscências da Grande Guerra, o ambiente da universidade de Estrasburgo, o contato mais próximo com os medievalistas alemães, e também a influência e ajuda do irmão médico. Por outro lado, no próprio interior da obra, destaca o grande objetivo do autor: “o que Marc Bloch quis foi fazer a história de um milagre e, simultaneamente, a da crença nesse milagre”; ou melhor, a ‘história total de um milagre’(p.16). Traça, assim como se tentou fazer nesta resenha, um resumo do livro e de seus aspectos propriamente discursivos. E, por fim, analisa a ‘instrumentária conceitual’ de nosso autor e os itens relevantes à historiografia contemporânea que ainda estariam presentes no conteúdo da obra.
Desses aspectos, alguns tem importância destacada. Hoje, compreende-se a enorme dívida que os historiadores contemporâneos contraíram ao fundador da Escola dos Annales. Pode-se aglomerar nesta dívida a relevância que se atribuiria posteriormente pelas ciências humanas à história em longa duração, ao método comparativo e à antropologia histórica_ todos métodos e conceitos utilizados e mesmo fundados por Marc Bloch neste seu livro. Por outro lado, e seguindo ainda a opinião de Jacques Le Goff, “mais que a história das mentalidades, o caminho que Marc Bloch nos oferece explicitamente é o de uma nova história política(…) é o apelo ao retorno da história política, mas uma história política renovada, uma antropologia política histórica de que os Reis Taumaturgos serão o primeiro e sempre jovem modelo”(p.47).
***
Nos últimos anos, têm-se dado especial atenção, no âmbito da Historiografia da Europa Moderna, aos problemas e às especificidades do conceito de Absolutismo. O propósito deliberado de “resenhar” o livro abre-nos espaço de revelar faceta mais concentrada, porém, não menos importante, do conteúdo intelectual desta obra de Marc Bloch. De fato, o que Reis Taumaturgos teria a nos dizer a respeito desse conceito tão controverso e debatido?
Ora, a mais óbvia e prática correlação que se pode estabelecer entre esta história de um milagre régio e o conceito de Absolutismo é a possibilidade de se imaginar historicamente a força e o poder que detiveram estes seres, considerados, ao mesmo tempo, humanos e sagrados. Por outro lado, no decorrer de seu livro, Marc Bloch destaca intencionalmente a estreita correspondência que houve entre o sucesso da crença no milagre e o progredir, lento e definido, dos avanços materiais e simbólicos das monarquias francesa e inglesa durante a Baixa Idade Média e a Época moderna.
Contudo, é possível ainda mais estender o alcance da obra. O que se entrevê em algumas passagens é a ligeira demarcação, por parte do autor, do que ele próprio denomina ser uma “história profunda”; quer dizer, história que interpreta a crença neste milagre como sinônimo de todo um arcabouço de pensamento e entendimento do mundo que orbitaria sob parâmetros completamente singulares e historicamente determinados. A secularização das consciências e atitudes, assim como a “racionalização” da vida, tão marcantes em nossa sociedade contemporânea, só poderá ser esboçada no decorrer de nossa história, assim como na de Bloch, quando chegamos, a pouco e pouco, cada vez mais perto de nosso tempo. E somente a vemos perfeitamente delineada após o século XVIII. Para a Idade Média e para boa parte da Moderna, o que se vê em solo europeu é um mundo, ou uma forma de pensar o mundo, que pode ser definida como julgamento desvendado de um universo encantado e maravilhoso: fonte de todo o sagrado e sobrenatural.
O Absolutismo do Rei-Sol e a Monarquia de Direito Divino só poderiam ter razão de existir na atitude dos homens se, por meios possíveis, concedermos a eles a capacidade de aceitar como válidas práticas e crenças do “divino”. O que há de sagrado nos gestos e atitudes de Luís XIV para que se imagine o Todo-Poderoso conceito de amplitude do poder real? Nada haveria, por certo, se ao menos não fosse concedida a seus súditos a possibilidade do sagrado. E nisso, Marc Bloch nos ajuda a ver melhor a dificuldade de trabalho do historiador, estudioso que detém a incomensurável tarefa de escarafunchar alteridade com os mortos, tendo que, a cada vez em que olha pela janela de seu gabinete de estudos para o mundo de fora, saber lidar com a impressão aterrorizante e bela do contraste.
Le Goff vê em Marc Bloch homem “racionalista, herdeiro das luzes”, e assim justifica a necessidade do último livro de nosso autor (“interpretação crítica do milagre régio”), em que se procura entender ‘como se acreditou no milagre régio’. Para além das críticas ao, talvez, excessivo apego de Bloch, discípulo de Durkheim, às explicações racionais e científicas dos fenômenos sociais, o que fica já é o bastante. Se, às vezes, se podem encontrar dúbias colocações do autor a respeito da honestidade ou da sinceridade dos Reis e de seus fiéis seguidores no ato de cura _ o que o leva à inevitável conclusão de que tudo teria sido um “erro coletivo”_ o que se entrevê ao final é sempre a mesma seguridade abarcadora de todo um modo de compreensão do mundo que, ao cabo, afetaria Reis e súditos. Mundo maravilhoso e sagrado, mas, não destituído de intenções políticas deliberadas ou, pelo contrário, muitas vezes indicador de desejos e atitudes humanas em todas as esferas da vida_ seja pela vivência econômica, social ou sensível.
Talvez, assim como assinalou nosso prefaciador, encontremos certa hesitação conceitual no vocabulário de Marc Bloch (particularmente, para mim, na recorrência com que aparecem na obra conceitos vagos de nacionalidade na Idade Média e Tempos Modernos). Mas, em suma, trata-se de obra fundamental no campo das idéias e concepções políticas que, a seu turno, submete um novo olhar sobre a história.
Por fim, por meio deste livro, podemos utilizar, sem medo de usufruir indevidamente, a erudição histórica de dez séculos e a reflexão sutil de um dos maiores historiadores do século XX.
Referência
BLOCH, Marc. In: Reis Taumaturgos_ o caráter sobrenatural do poder régio: França e Inglaterra. Prefácio de Jacques Le Goff. Tradução: Júlia Mainard. São Paulo, Cia das Letras. 2 a Reimpressão, 1999.
BLOCH, Marc. Os Reis Taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio França e Inglaterra. Prefácio de Jacques Le Goff. Tradução: Júlia Mainard. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. Resenha de: GASPAR, Tarcísio de Souza. A Ilusão e a Cura – Reis Taumaturgos, Marc Bloch. Cantareira. Niterói, n.8, 2005. Acessar publicação original [DR]
Os Eurobrasileiros e o Espaço Colonial: migrações no Oeste do Paraná (1940/70) | Valdir Gregory
Resultado de tese de doutoramento defendida em 1997 na Universidade Federal Fluminense – UFF, o livro Os Eurobrasileiros e o Espaço Colonial é um estudo de fôlego a respeito da história social do Oeste Paranaense. Trata-se de uma abordagem que prioriza a experiência de comerciantes, caixeiros viajantes, colonos e colonas que por simples aventura, sonhos ou necessidades, migraram em busca de um novo espaço: a região Oeste do Paraná entre os anos 40 e 70 do século XX.
O argumento central de Valdir Gregory é de que os eurobrasileiros ligados à lide na terra moldaram o espaço colonial do Brasil Meridional ao mesmo tempo em que foram se moldando por ele. Resistindo às mudanças, se adaptando a elas, migraram para novas fronteiras agrícolas, onde preservaram e inovaram seus hábitos culturais. À época das inovações tecnológicas, estando sob a ameaça de deixarem de ser colonos, tiveram de reestruturar o modo-de-ser do colono.
Para sustentar essa tese, o autor apoiou-se em um considerável arcabouço documental e bibliográfico: relatórios e planos de ação de empresas colonizadoras, documentos oficiais (IBGE, INCRA e SUDESUL), documentos cartoriais, fontes jornalísticas (jornais e revistas), textos de época e depoimentos orais. A natureza variada das fontes, demonstra por si mesma, mérito do autor em conseguir “amarrá-las”, extraindo delas semelhanças e contradições, principalmente no que se refere à (re) organização espacial e social da região Oeste do Paraná em meados do século XX.
Para construir seu objeto de análise, Valdir Gregory começa o texto discorrendo sobre a colonização da região Sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) por imigrantes europeus (alemães, italianos, ucranianos e poloneses), iniciada no décimo nono século. O contexto europeu da época, as migrações para a América e a dinâmica colonial implantada pelos imigrantes também são trabalhados, utilizando-se dos estudos de Leo Waibel, Emílio Wilhems, Maria Tereza Schörer Petrone, Lúcio Kreutz, Ruy Christovam Wachowicz, José Vicente Tavares dos Santos, entre outros. “Os eurobrasileiros puderam constituir uma sociedade colonial na qual a herança cultural, no seu sentido amplo, européia, mesclou-se com a realidade encontrada e constituída pelos colonos para formar o espaço colonial dinâmico e instável”. (p.53) Instável porque a estrutura fundiária das regiões coloniais gaúchas e catarinenses, em princípios do século XX, não mais suportava o crescente aumento populacional e a limitada disponibilidade de terras cultiváveis, fazendo com que os eurobrasileiros se deslocassem para as cidades ou para novas fronteiras agrícolas. “O Paraná foi o estado receptor por excelência”. (p.55)
A partir dos discursos dos governadores Moysés Lupion (1948/52; 1957/61) e Bento Munhoz da Rocha Neto (1953/57) sobre a colonização do território paranaense, bem como de relatórios e planos de ação de algumas empresas colonizadoras e madeireiras que atuaram no Oeste do Paraná entre as décadas de 1940 a 60, o autor percebe uma série de interesses comuns em torno da colonização das terras situadas próximas à fronteira internacional com outros países (Argentina e Paraguay). “A visão geopolítica federal via na colonização a consolidação territorial brasileria assegurada por colonos pequenos proprietários. Os empreendedores de empresas colonizadoras e madeireiras vislumbravam novas possibilidades de investimentos em negócios madeireiros e de mercantilização de terras. Os colonos se dispunham a migrar para reconstruírem espaços coloniais” (p. 70). Controle, direcionamento e presença constante e efetivas dos homens do Estado e das estratégias de atuação das colonizadoras fizeram com que se estabelecesse um novo espaço colonial aos moldes do antigo espaço colonial, isto é, uma estrutura baseada na pequena propriedade rural (em média 25 hectares) ocupada por colonos gaúchos ou catarinenses acostumados à lide na policultura.
Esses são alguns itens explorados por Valdir Gregory na documentação, por exemplo, da Industrial Madeireira e Colonizadora Rio Paraná – MARIPÁ, organizada em Porto Alegre no ano de 1946: “Na medida em que a colonização avançava, os administradores adotavam novas formas de atuação e de investimentos em atividades industriais, comerciais e de serviços, criando novas empresas e participando da estruturação das infra-estruturas necessárias para o desenvolvimento das atividades religiosas, educacionais, recreativas e outras” (pp.151-152).
Uma ênfase especial é dada pelo autor no que se refere às estratégias adotadas pelas empresas colonizadoras na seleção do colono “ideal”: divulgação restrita a grupos específicos de colonos, cuja preferência era dada àqueles descendentes de imigrantes alemães e italianos; a localidade de origem, a língua e a religião tiveram grande influência na escolha dos locais tanto para a escolha dos colonos como para o estabelecimento das famílias no novo espaço colonial: “Os teuto-brasileiros, os ítalo-brasileiros, os eurobrasileiros, enfim, já tinham, pois, acumulado experiências agrícola e de vida rural nas colônias do Sul do Brasil durante mais de um século. Estavam acostumados ao trabalho árduo em pequenos lotes de terra. Tinham a fama de serem econômicos, evitando gastos para alimentar seus espíritos de poupança e de provedores do futuro próprio, dos filhos e dos netos. Nessas colônias, os empreendedores buscaram o modelo de sua estruturação espacial e dessas colônias atraíram os colonos ideais para atingirem seus intentos” (p. 176).
Para os colonos, a mudança do antigo espaço colonial para a construção de um novo espaço se constituiu numa situação de crise, de incertezas, manifestando-se de formas variadas no cotidiano e na memória dos eurobrasileiros, afetando seu estilo de viver e de ser. A riqueza de detalhes apresentado por Valdir Gregory impressiona mesmo aqueles que pouco sabem ou leram sobre a relação homem-terra. Aliada à modernização das técnicas agrícolas, iniciada em fins da década de 1960, os eurobrasileiros foram obrigados a assumir novos papéis, se adaptar e resistir às mudanças.
Para analisar esse processo de mudança e resistência a ela, o autor fez uso de depoimentos orais, do relatório final de um projeto denominado PERSAGRI II, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e pela Fundação Getúlio Vargas e, de uma extensa bibliografia sobre a temática. Nesta documentação foi possível perceber o conflito entre a pressão pela mudança, provocada pela modernização, e a resistência para a manutenção da situação de colonos. “A migração continuou sendo uma forma de resistir à inovação […] Querer ter terra, querer reconstruir um espaço colonial conflitava com as exigências de um programa, de uma política de modernização do campo que potencializavam desejos de ascensão social, desejos de competição, enfim, desejos anti-coloniais” (p. 235).
Creio que Valdir Gregory poderia ter apresentado mais detalhes a respeito da atuação dos órgãos criados pelo Governo Paranaense para realizar e coordenar a colonização “oficial” ou “pública” de parte considerável do território paranaense. Os conflitos de terra, ocorridos de forma intensa na região Oeste do Paraná durante a colonização, é outro ponto que também merecia mais atenção. No mais, apreciei muito a maneira como Valdir Gregory escreve: sem floreios, rodeios e divagação teórica. A argumentação teórica quase passa despercebida, mas está lá, de forma coesa. As informações a respeito das fontes documentais e a forma como foram exploradas revelam, ainda mais, o faro deste historiador. Enfim, os méritos são diversos.
Antonio Marcos Myskiw – Professor de História do Paraná na UNIOESTE. Mestre em História Social pela UFF. E-mail: antoniocdf@bol.com.br
GREGORY, Valdir. Os Eurobrasileiros e o Espaço Colonial: migrações no Oeste do Paraná (1940/70). Cascavel: EDUNIOESTE, 2002. Resenha de: MYSKIW, Antonio Marcos. Cantareira. Niterói, n.2, 2002. Acessar publicação original [DR]
Cantareira | Niterói, n.1, 2002 / n.34, 2021. (S)
Cantareira. Niterói, n.34, 2021.
Mundos do Trabalho
Editorial
Apresentação do Dossiê
- Mundos do Trabalho
- Clarisse Pereira, Heliene Nagasava
- PDF (português)
- Worlds of Labor
- Clarisse Pereira, Heliene Nagasava
- PDF (English)
Dossiê Temático
- Ferreiros, “escravos operários” e metalúrgicos: trabalhadores negros e a metalurgia na cidade do Rio de Janeiro e na microrregião Sul Fluminense (Século XIX e XX)
- Thompson Climaco Alves, Antônio Bispo Neto
- Composição de trabalhadores na Fábrica de Ferro de Ipanema (1822-1842)
- Karina Oliveira Morais dos Santos
- Localizando a mulher escravizada nos Mundos do Trabalho
- Caroline Passarini Sousa, Giovana Puppin Tardivo, Marina Camilo Haack
- Mulheres úteis à sociedade: gênero e raça no mercado de trabalho na cidade de São Paulo (fim do século XIX e início do XX)
- Caroline da Silva Mariano, Lígya Esteves Sant’Anna de Souza
- A “indústria bagaxa”: prostituição masculina e trabalho no Rio de Janeiro na constituição da ordem burguesa
- João Gomes Junior
- Eles querem menos, elas querem mais: as reivindicações por trabalho na 1ª JCJ de Porto Alegre (1941-1945)
- Tatiane Bartmann
- Trabalhadoras ou esposas? Um estudo sobre reclamações na Justiça do Trabalho de mulheres que trabalhavam para seus companheiros na década de 1950
- Vitória de Oliveira Barroso Abunahman
- A Justiça do Trabalho como palco de disputas: entre estratégias e discursos
- Paulo Henrique Silveira Damião
- Marmelada de tomate: as relações de trabalho a partir do “sistema de parceria” na Fábrica Peixe (Pesqueira/Pe)
- Arthur Victor Barros, Márcio Ananias Ferreira Vilela, Fernanda Silva Nunes
- A vida urbana em Tudo Bem (Arnaldo Jabor, 1978): a figuração dos “operários” durante a decomposição do “milagre” econômico brasileiro.
- Gabriel Marques Fernandes
- Lavadeiras na cidade: trabalho, cotidiano e doenças em Fortaleza (1900 – 1930)
- Amanda Guimaraes da Silva
- Memória, trabalho e cidade: contribuições para o debate contemporâneo sobre o lugar da classe trabalhadora
- Aline Cristina Fortunato Cruvinel, Cláudio Rezende Ribeiro
- Os comunistas e os trabalhadores rurais no processo de radicalização da luta pela terra no pré-1964
- Leandro Cabral de Almeida
- Entre campos e máquinas: histórias e memórias de trabalhadores da Usina Cinco Rios – Maracangalha, Bahia ( 1912-1950).
- Idalina M.A. Freitas, Tatiana Florentino Santana
- “A legião dos rejeitados”: trabalhadores migrantes retidos e marginalizados pela política de mão-de-obra em Montes Claros /MG, na década de 1930
- Pedro Jardel Fonseca Pereira
- As denúncias de trabalhadores indígenas do cuatequitl no códice Osuna durante a visita de Jerónimo de Valderrama na Nova Espanha
- Eduardo Henrique Gorobets Martins
- “Eu não tenho mais pátria!”: a primeira guerra mundial à luz da propaganda libertária de Angelo Bandoni
- Bruno Corrêa de Sá e Benevides
- As Jornadas de Maio de 1937, o antifascismo e o refluxo da Revolução Espanhola
- Igor Pasquini Pomini
- Manifiestos políticos para la acción del movimiento obrero: Brasil y Colombia durante las primeras décadas del siglo XX.
- Eduard Esteban Moreno
- Os espaços da luta antifascista em Porto Alegre (1926-1937)
- Frederico Duarte Bartz
- A atuação militar contra a greve no porto de Santos em 1980
- Pedro Cardoso
- O corporativismo na construção do discurso da Revista Light (1928-1940)
- Guilherme Fernandes Reis das Chagas
- Da alienação em Marx à sociedade do cansaço em Han: fantasia e realidade dos trabalhadores precarizados
- Leonardo Marques Kussler, Leonardo Guilherme Van Leeuven
- As estruturas históricas da formação para o trabalho no sistema capitalista
- Evandro Ribeiro Lomba
- Entre desemprego e freelance: a atual configuração do mundo do trabalho na cultura a partir da ocupação de produtores culturais como microempreendedores individuais
- Gustavo Portella Machado
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com os professores Victoria Basualdo e Paulo Fontes
- Clarisse Pereira, Heliene Nagasava
Artigos Livres
- Entre o poder episcopal e violência: guerra e inversão da primazia da Igreja da Inglaterra ao arcebispado de York (1318-1322)
- Janaina Bruning Azevedo
- Uma história da computação gráfica na televisão brasileira nos anos 1980
- Mario Firmino Barreto da Costa
- Arauto ambíguo da modernidade: transição entre a arquitetura modernista e eclética em São Paulo no caso do Edifício Santo André
- Lucas Arantes Lorga, Lucas Martinez Knabben
- O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul – notas sobre uma operação historiográfica
- Pâmela Cristina de Lima
- Muhammad ‘Abduh (1849-1905): um breve estudo sobre seu pensamento moderno
- Eduardo Freitas
- A historiografia do Humanismo cívico e o pensamento político de Leonardo Bruni
- Fabrina Magalhães PINTO, Matheus Teixeira MORETTI
- A AMAZÔNIA COBIÇADA: CONFLITOS PELA TERRA NO AMAPÁ (DÉCADA DE 1990)
- Higor Pereira
- ENTRE A SALVAÇÃO E A PERDIÇÃO: REFLEXÕES SOBRE O VÍNCULO ENTRE CORPO, INSTRUMENTO DE PECADO, E ALMA NOS DISCURSOS DA ANTIGUIDADE E NA ICONOGRAFIA MEDIEVAL
- Anny Barcelos Mazioli, Pablo Gatt
- Exploitation, a explosão da violência em Hollywood nos anos setenta
- Michelle Caetano
- Entre a identidade indígena e a influência helênica na região da Apúlia: considerações sobre a circulação vasos e iconografias eróticas
- Juliana Magalhães Santos
- O malandro e a baiana sambaram na Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil: discursos sobre a identidade carioca e nacional em 1923.
- Walter da Silva Pereira Junior
Resenha
- Cinema e política da boa-vizinhança
- Carolina Machado dos Santos
- Resenha da obra Uberização: a nova onda do trabalho precarizado.
- Regina Lucia Fernandes Albuquerque
Cantareira. Niterói, n.33, 2020.
Fascismos e novas direitas
Apresentação do Dossiê
- Fascismos e novas direitas
- Bárbara Aragon, Milene Moraes de Figueiredo
Dossiê Temático
- Como a democracia em Weimar morreu: antirrepublicanismo e corrosão da democracia na Alemanha e a ascensão do Nazismo
- Karina Fonseca Soares Rezende
- Intelectuais de extrema direita e a negação do Holocausto nos EUA dos anos 1960
- Luiz Paulo Araújo Magalhães
- Os fascistas que liam Eça de Queirós: estratégias da propaganda salazarista em torno de uma celebração literária
- Breno Cesar de Oliveira Góes
- Avanço conservador na educação brasileira: uma proposta de governo pautada em polêmicas (2018)
- Eduardo Cristiano Hass da Silva, Gabbiana Clamer Fonseca Falavigna dos Reis
- A (des)construção da memória sobre a ditadura pós-1964 pelo governo de Jair Bolsonaro
- Giovane Matheus Camargo, Pedro Rodolfo Bodê de Moraes, Pablo Ornelas Rosa
Entrevista do Dossiê
- “Fascism is once more at our doors, and we still refuse to see and treat it by its name: an interview with Cultural Philosopher Rob Riemen
- Sergio Schargel
- Entrevista com Fulvia Zega (Università Ca’Foscari Venezia – Itália) e Tatiana Poggi (Universidade Federal Fluminense -Brasil)
- Bárbara Aragon, Milene Moraes de Figueiredo
Artigos Livres
- Possibilidades historiográficas de um gênero esquecido: sobre os libros de caballerías ibéricos
- Caio Rodrigues Schechner
- Os projetos de participação popular como recursos sociais de legitimação no campo político: o governo Olívio Dutra e a oposição no parlamento estadual
- Rafael Saraiva Lapuente
- Antíteses ao fascismo desde o aspecto estético recolhido nas teses sobre o conceito de história (1940) de W. Benjamin
- Rodrigo Rocha Oliveira
- Transcrições
- Comentários acerca da criação da UPA e o processo de sucessão do Reino do Kongo
- Bruno Pastre Maximo
Cantareira. Niterói, n.32, 2020.
Ideias e práticas econômicas no mundo atlântico: liberdade, circulação e contradições entre os séculos XVII e XIX
Apresentação do Dossiê
- Ideias e práticas econômicas no mundo atlântico: liberdade, circulação e contradições entre os séculos XVII e XIX
- Leornado Cruz, Matheus Basílio, Matheus Vieira
Dossiê Temático
- Cultura material e o cotidiano do trabalho no Estado do Grão Pará e Maranhão no final do século XVIII e início do século XIX
- Alice Maria de Jesus Teixeira
- Comércio de cabotagem e tráfico interno de escravos em Salvador (1830-1880)
- Valney Mascarenhas de Lima Filho
- Rendas e encargos das finanças municipais: uma análise da atuação do Conselho Geral de Minas Gerais nos primeiros anos do Império do Brasil (1828-1832)
- Diego Rodolfo Castro Gomes
- A produção de café na Vila de São João de Itaboraí e sua comercialização em Porto das Caixas (1833-1875)
- Gilciano Menezes Costa
- Uma bandeira da Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá vai aos domínios de Castela
- Débora Cristina dos Santos Ferreira
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com o Prof. Dr. José Subtil (Universidade Autónoma de Lisboa, Luís de Camões, Portugal)
- Alan Dutra Cardoso
Artigos Livres
- A Ditadura nos discursos e na atuação dos deputados estaduais paraenses (1964 – 1969)
- Flávio William Brito Matos
- O agregado na fazenda do café: estratégias de fixação e de mobilidade de homens livres e pobres em Valença (Província do Rio de Janeiro, 1850-1888)
- Felipe de Melo Alvarenga
Cantareira. Niterói, n.31, 2019.
O esporte em tempos de exceção: práticas desportivas e ações políticas durante as ditaduras na América Latina no século XX
Apresentação do Dossiê
- O esporte em tempos de exceção: práticas esportivas e ações políticas durante as ditaduras na América Latina (séc. XX)
- Aimée Schneider, Nathália Fernandes
Dossiê Temático
- A “Federação” ou o drible da várzea de Belo Horizonte sobre o controle burocrático na Ditadura Militar
- Raphael Rajão Ribeiro
- As interferências e interlocuções de Castelo Branco no futebol e os precedentes para a militarização do futebol brasileiro
- Lucas Salgueiro Lopes
- “Uma torcida diferente” Raça Rubro-Negra e a ressignificação do torcer enquanto prática cultural (1977-1985)
- Juliana Nascimento da Silva
- A década de 1980. Política e futebol no cenário da redemocratização brasileira
- Edson Pimentel da Silva
- Entrevista com o ex-jogador Afonso Celso Garcia Reis, o Afonsinho
- Aimée Schneider, Nathália Fernandes
Artigos Livres
- Ser argentino: reflexões acerca das representações identitárias na trilogia de la memoria de Pedro Orgambide
- Fernanda Palo Prado
- Estado e Planejamento na antiga URSS: Revisitando a Revolução Russa e resgatando as ideias e práticas revolucionárias de Lenin
- Acson Gusmão Franca
Resenha
- Entre o Direito e a Justiça: ecos da reforma pombalina na administração da justiça na comarca do Rio das Velhas (1720-1777)
- Milena Pinillos Prisco Teixeira
Cantareira. Niterói, n.30, 2019.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – Cultura escrita no mundo ibero-americano: identidades, linguagens e representações
- Claudio Miranda Correa, Gabriel de Abreu Machado Gaspar, Pedro Henrique Duarte Figueira Carvalho
Dossiê Temático
- A cultura epistolar entre antigos e modernos. Normas e práticas de escrita em manuais epistolares em princípios do século XVI
- Raphael Henrique Dias Barroso
- A incorporação de elementos da cultura escrita castelhana nas histórias dos códices mexicas dos séculos XVI e início do XVI
- Eduardo Henrique Gorobets Martins
- As relações de sucesso e os periódicos da Península Ibérica na segunda metade do século XVII
- Carolina Garcia Mendes
- Da devoção à violência a atribuição da mentira como estratégia de discurso na Guerra Guaranítica
- Rafael Cezar Tavares
- Significações e ressignificações de um manuscrito sertanista o Projecto de Abertura
- Anna Beatriz Corrêa Bortoletto
- Cultura Escrita para além do texto percepções materiais e subjetivas do documento manuscrito
- Natalia Casagrande Salvador
- Entre Livros, Livreiros e Leitores a trajetória Editorial e comercial da Guia Médica das Mãis de Família
- Cássia Regina da S. Rodrigues de Souza
- Entrevista com a Profa. Dra. Ana Paula Torres Megiani (USP)
- Claudio Miranda Correa, Pedro Henrique Carvalho, Gabriel de Abreu Machado Gaspar
Artigos Livres
- O materialismo histórico e a narrativa historiográfica contribuição para uma metodologia crítica sobre a história do cotidiano e sua historiografia
- Edson dos Santos Junior
- Aleia dos Gênios da Humanidade escutando os mortos
- Cristiane Ferraro, Valdir Gregory
Resenha
- Resenha – Resistência cultural sob arbítrio a busca por um tesouro perdido
- Mathews Nunes Mathias
Cantareira. Niterói, n.29, 2018.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação: Dossiê Modernização Conservadora
- Thiago Alvagenga de Oliveira, Thiago Vinicius Mantuano da Fonseca
Dossiê Temático
- Tempos de barbárie ou tempos de arte? A Guerra da Tríplice Aliança, arte e imprensa envolvida no debate da modernização da nação
- Álvaro Saluan da Cunha, Raphael Braga de Oliveira
- Modernização e patentes no Brasil: conceitos e discussões
- Amanda Gonçalves Marinho
- A presença inglesa na cabotagem brasileira
- Bruna Iglezias Motta Dourado
- Era preciso construir um país: diplomacia cultural brasileira no século XIX
- Célio Diniz Ribeiro
- Mobral, tecnocratas e educadores: trajetos de uma experiência de alfabetização no Brasil
- Éder Martins, Tiago Cavalcanti Guerra
- O processo de industrialização do Rio de Janeiro no oitocentos: um breve estudo (1808-1907)
- Guilherme Barreto
- Mecanização da agricultura e as obras faraônicas da ditadura civil-militar: impactos e resistências no oeste do Paraná (1978-1981)
- Hiolly Batista Januário de Souza
- Uma questão nacional: o comércio atlântico de escravos em disputa (1826-1831)
- João Marcos Mesquita
- Política externa nos governos Lula: o embate com a mídia tradicional a partir da análise das capas da revista Veja
- Juliana Valpasso de Andrade
- Escravidão e engenho(s): o processo de modernização da indústria açucareira do norte fluminense (c.1850-1888)
- Marcos de Brito Monteiro Marinho
- “Princesas do sul de Minas”: O processo de urbanização nas cidades de Pouso Alegre e Varginha/MG na transição para o século XX
- Natânia Silva Ferreira, Fernando Henrique do Vale
- Avenida Presidente Vargas: a fúria demolidora da reforma urbana do Estado Novo na cidade do Rio de Janeiro (1938-1945)
- Pedro Sousa da Silva
- Trabalho escravo e trabalho juridicamente livre em Alagoas: rupturas e permanências na passagem do século XIX para o XX
- Ricardo Alves da Silva Santos
- “Factos, principios d’economia, e regras de administração pública”: considerações sobre o tribunal do comércio e a industrialização brasileira na primeira metade do século XIX
- Silvana Andrade dos Santos
- Processos de modernização do Brasil e a capitania de Minas Gerais nas últimas décadas da colonização: uma análise fiscal (1780-1808)
- Thaiz Barbosa Freitas
- Considerações sobre a grande depressão e o desenvolvimento do capitalismo no Brasil
- Thiago Reis Marques Ribeiro
- A lei de 7 de Novembro de 1831 e a defesa do tráfico negreiro no Brasil (1831-1837)
- Victor Romero de Azevedo
- “A senhora do lar proletário”: discursos e políticas em relação às mulheres no Estado Novo (1937-1945)
- Yasmin Vianna Bragança
Artigos Livres
- A recuperação do catalanismo durante a ditadura franquista (1945-1960)
- Lucas de Oliveira Klever
- A organização da religiosidade no tratado político de Espinosa
- Maxlander Dias Gonçalves
- Sobrevivendo no inferno: resistência como conceito e reivindicação na obra do Racionais MC´s (1990-1997)
- Maria Clara Martins
- Pontifex Maximus e Elizabeth i: o antipapismo na Era Elisabetana
- Giovanna Eloá Mantovani Mulza
- As narrativas das vésperas sicilianas em três crônicas italianas dos séculos XIII-XIV
- Vinicíus Silveira Ceretini
- O processo de independência do Brasil na Bahia e no Piauí: guerra, resistência e vitória (1822-1823)
- Rayanne Gabrielle da Silva
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Luiz Fernando Saraiva
- Thiago Alvarenga, Thiago Mantuano
Resenha
- A escravidão no império francês no período revolucionário
- Marcos Castro Nunes Maia
Cantareira. Niterói, n.28, 2018.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – Nas Teias do Império: Poder e Propriedades no Brasil Oitocentista
- Alan Dutra Cardoso, Luaia da Silva Rodrigues
Dossiê Temático
- “Se não cuidarmos em conservar as estâncias, donde e como teremos o necessário para sustentar a guerra?”: as Propriedades Embargadas Durante a Guerra dos Farrapos (1835-1845)
- Ânderson Marcelo Schmitt
- Donas e Foreiras: Senhoras proprietárias de escravos na freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bananal de Itaguaí em Meados do Século XIX
- Jessica Santana de Assis Alvez
- “Benefícios reais da lei de terras”: Uma releitura política com base na experiência do termo de lages em Santa Catarina
- Flávia Paula Darossi
- Poder moderador e a responsabilidade jurídica e política: Polêmica constitucional da segunda metade do século XIX
- Eder Aparecido de Carvalho, Carlos Henrique Gileno
- A elite imperial do porto das caixas: Saquaremas no poder
- Mirian Cristina Siqueira de Cristo
- “Resta só o Brasil, resta o Brasil só”: A primeira proposta de emancipação do ventre escravo, sua recepção e discussão no conselho de estado imperial (1866-1868)
- Thomaz Santos Leite
- Liberdade e acesso à terra: Debates acerca da colônia de libertos de cantagallo, Paraíba do Sul (1882-1888)
- Ana Elisa S. Arêdes
- Do ponto ás casas de sobrado: cultura material e riqueza nos inventários de Negociantes (Paranaguá/PR, Século XIX)
- Vinicius Augusto Andrade de Assis
- Senhores, possuidores e outras coisas mais: as Múltiplas Funções dos Proprietários do Rural Carioca no Oitocentos
- Rachel Gomes de Lima
- A experimentação literária de Machado de Assis e o tema da propriedade da terra no XIX
- Pedro Parga Rodrigues
Artigos Livres
- A história antiga do cinema: Uma Análise do Filme Gladiador
- Geovana Sigueira Costa
- Tempo, história e a construção da santidade de Francisco de Assis em um recente documento: A Vita Beati Patris Nostri Francisci, de Tomás de Celano
- Gustavo da Silva Gonçalves
- O anticlericalismo anarquista durante a primeira república Brasileira (1899-1920)
- Pablo dos Santos Martins
- Emma Goldman e Liév Trótsky: Uma Análise Comparada dos Discursos
- Nilciana Alves Martins
- Aquarelas no Brasil oitocentista: Olhares de Debret e Rugendas nos Trópicos
- Mariane Pimentel Tutui
- Liberdade com obediência: A crítica ao feminismo nos impressos das testemunhas de Jeová (1972-1986)
- Vinicius Miro Arruda
- Eleição e empreguismo mo Rio de Janeiro de Pedro Ernesto, 1931-1936
- Wesley Rodrigues de Carvalho
- Grupo de pesquisa e licenciaturas em pedagogia nas universidades: UNIFAL e UFVJM (Minas Gerais, Brasil) e as Temáticas das Relações Étnico-Raciais
- Adriano Toledo Paiva, Aparecida Amorim
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Márcia Maria Menendes Motta
- Alan Dutran Cardoso, Luaia da Silva Rodrigues
Resenha
- Lima Barreto em três tempos: passado, presente e futuro
- Lucas Krammer Orsi
- Escrevendo e pensando a história globalmente
- Felipe Robles
- Transcrições
- Um retrato mostra dos terços da cidade de Salvador em 1654
- Hugo André Flores Fernandes Araújo
- Escravos a serviço do estado
- Bruno de Souza Pereira
Cantareira. Niterói, n. 27, 2017.
Dossiê Temático
- UM OLHAR HISTÓRICO-JURÍDICO DA LIBERDADE RELIGIOSA NO BRASIL: do Império à Constituição Cidadã (1824 a 1988)
- Waldir da Silva Gevu
- MOVIMENTOS NEGROS EM PERNAMBUCO e a Imprensa Negra como Estratégia de Luta (1980-1990)
- Aílla Kássia de Lemos Santos
- Indiretamente pelas diretas: A democracia corintiana no Conjunto das Manifestações pelas Diretas Já!
- Ana Cláudia Accorsi, Gabriel Félix Tavares, Mateus Ghenriques de Souza, Nathália Fernandes Pessanha
- Mídia e democracia: A atuação dos jornais na ruptura da ordem constitucional de 1964 e no Cenário de Reabertura Política
- Matheus Guimarães Silva de Souza
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – A Redemocratização Brasileira e o Seu Processo Constituinte
- Aimée Schneider Duarte
Artigos Livres
- Fragmentos da escravidão em Alagoas: Escravos, Sociedade na Villa Real de São José do Poxim – 1774 a 1854
- Robson Williams Barbosa dos Santos
- O instrumento da correição geral na São Paulo Setecentista: o Caso do Juízo dos Órfãos (1774)
- Amanda da Silva Brito
- O “afeto das palavras”: Pátria, Nação e Estado em Fernando Pessoa, Mario de Andrade e Cecília Meireles (Lisboa, São Paulo, Rio de Janeiro, primeira metade do século XX)
- Denilson de Cássio Silva
- Cultura em campo: Entre o elitismo e a popularização do futebol (1897-1938)
- Lucas de Carvalho Cheibub
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Benedita da Silva
- Aimée Schneider Duarte
Cantareira. Niterói, n.26, 2017.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – Intelectualidade Latino-americana, Cultura e Política no Século XX
- Aline Monteiro de C. Silva
Dossiê Temático
- “Jornalismo de combate” nas páginas da revista “O Cruzeiro”: o Engajamento Político de Rachel de Queiroz (1960-1964)
- Fernanda Mendes
Artigos Livres
- Euclides da Cunha, Manoel Bonfim e a Complexidade do Século XX
- Amanda Bastos da Silva
- A palavra escrita do rei: Chancelaria e poder régio através de uma Carta Plomada
- Paula de Souza Valle Justen
- Implantação e normatização da pena última na América Portuguesa (1530-1652)*
- Bárbara Benevides
- A crise do capitalismo e o mundo imperialista (1870-1920)
- Fabiane Cristina de Freitas Assaf Bastos
- A trajetória da revista municipal de engenharia, o planejamento urbano e a Circulação de Novas Ideias Urbanistas no Rio de Janeiro (1930-1945)
- Pedro Sousa da Silva
- Limites das administrações Ibéricas e conflitos sociais no Rio da Prata de Inícios do Século XVIII: um Estudo de Caso
- Matheus de Oliveira Vieira
Cantareira. Niterói, n.25, 2016.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – Áfricas
- Carolina Bezerra Machado
Artigos Livres
- A fronteira e a construção de espaços no Brasil a partir de 1970
- Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa
- O poder legitimado através do espaço: O Caso da Igreja Saint-Germain-de-Prés e a Realeza Merovíngia
- Tomás de Almeida Pessoa
- A municipalização da companhia do gás do Porto em 1917
- Marcus Castro Nunes Maia
- Os almotacés e o exercício da almotaçaria na Vila de São Paulo (1765-1800)
- Claudia de Andrade de Rezende
- Economia antiga e “Racionalidade limitada”: Uma Crítica ao Uso de Modelos Neomodernistas
- José Ernesto Moura Knust
Dossiê Temático
- A permanência do lobolo e a organização social no Sul de Moçambique
- Fabiane Miriam Furquim
- “Para poderes viver como gente” Reflexões sobre o persistente combate ao Modo de Vida Disperso em Moçambique
- Fernanda Bianca Gonçalves Gallo
- Juízo de inconfidência em Angola: A conspiração dos agregados em Luanda, 1763
- Rodrigo Hiroshi Romera Hotta
- Guerra e sangua para uma colônia pacificada: A revolta do bailundo e o Projeto Imperial Português Para o Planalto Central do Ndongo (1902-1904)
- Jéssica Evelyn Pereira dos Santos
- Angola: Rememorando as indas e vindas de um Lugar Inesquecível
- Marilda dos Santos Monteiro das Flores
- A mulher na lita de libertação e na construção do estado-nação em Angola: o Caso de Luzia Inglês Van-Dúnem
- Patrício Batsîkama
- Safi Faye: Cinema e percurso
- Evelyn dos Santos Sacramento
- Aka, cazumbás e marimondas: Diálogos entre culturas de matriz africana em Camarões, Brasil e Colômbia
- Paola Vargas Arana
- A negação da fiosofia africana no currículo escolar: Origens e Desafios
- Ávaro Ribeiro Regiani, Kênia Érica Gusmão Medeiros
- Que África se inscreve e se ensina no Brasil?
- Lucival Fraga dos Santos
- Reflexões críticas sobre o debate em torno dos movimentos sociais na África
- Fabrício Cardoso de Mello
Resenha
- Ditadura e Democracia no Brasil
- Michel Ehrlich
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Flávia Maria de Carvalho
- Carolina Bezerra Machado
Cantareira. Niterói, n.24, 2016.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – História e Gênero
- Juliana Magalhães dos Santos, Talita Nunes Silva
Dossiê Temático
- A Tragédia “As Bacantes” de Eurípides Sob a Ótica dos Estudos de Gênero: Penteu e as Fronteiras do Masculino e do Feminino
- Waldir Moreira de Sousa Júnior
- A Fabricação do Feminino na Tragédia
- Lisiana Lawson Terra da Silva, Jussemar Weiss Gonçalves
- A Construção Moral do Herói Enéias Como Exemplum de Vir Romanus na Roma Augustana
- Thiago de Almeida Lourenço Cardoso Pires
- Considerações Sobre o Triplismo nas Deae Matres da Britânia Romana
- Érika Vital Pedreira
- Agentes do Demônio no Arcebispado de Braga: as Mulheres Acusadas de “Feitiçaria” e Suas Interações Com a Comunidade no Âmbito das Relações de Gênero
- Juliana Torres Rodrigues Pereira, Marcus Vinícius Reis
- Paula de Sequeira: Inquisição e Lesbianismo na Bahia Quinhentista
- Kaíque Moreira Léo Lopes
- As Mulheres da Elite Farroupilha: Papéis de Gênero e Família (RS, 1835-1845)
- Carla Adriana da Silva Barbosa
- Gênero e Alteridade no Nacionalismo Irlandês
- Raimundo Expedito dos Santos Sousa
- Gênero e Trabalho em Fábricas de Tecidos: o Caso da Companhia de Fiação e Tecidos Aliança
- Isabelle Cristina da Silva Pires
- O Feminismo Chega à Rádio: a Militância Sufragista de Martha de Hollanda na Rádio Clube de Pernanbuco (1931-1932)
- Gilvânia Cãndida da Silva, Alcileide Cabral do Nascimento
- Gênero e o Serviço Secreto: as Mulheres na Perspectiva da Polícia Política Durante o Estado Novo e a República de 1946
- Thiago Da Silva Pacheco
- Laudelina de campo mello: histórias de vida e demandas do presente no ensino de história
- Fernanda Nascimento Crespo
- Parâmetros Curriculares Nacionais: Uma questão de gênero e diversidade sexual na Educação Contemporânea
- José Cunha Lima, Isabella Almeida Cunha
- “Artes de Criar” em Tempos Sombrios: Mulheres, Ditadura e Prisão
- Tatianne Ellen Cavalcante Silva
- Gênero e Política: Lúcia Braga, do Assistencialismo à Projeção Pessoal
- Dayanne Deyse Leite Rodrigues
- O Lugar do Gênero nas Trajetórias Profissionais de Mulheres Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Um Estudo de Caso
- Denise Machado Cardoso, Anna Patrícia Ferreira Rameiro
- O Estado e a Cidadania Feminina: Vozes das “Mulheres Mil”
- André Pizetta Altoé
- Gênero e violência: Mulheres Multivalentes?
- Michelle Silva Borges
- Um panorama dos Direitos Reprodutivos e Sexuais no Brasil
- Ana Beatriz Pereira Silva Coutinho, Suzane Mayer Varela da Silva
Artigos Livres
- A memória intransitiva da fundação da ordem dos frades menores no Século XIII (1210-1228)
- Leonardo de Souza Câmara
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Cristina Scheibe Wolff
- Juliana Magalhães dos Santos, Talita Nunes Silva
Resenha
- O professor e seu papel na formação de novos leitores
- Luís Emílio Gomes
Cantareira. Niterói, n.23, 2015.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – História e Cinema
- Vinícius Alexandre Rocha Piassi
Dossiê Temático
- Cuba Libre? Laços de Poder e Jogos de Azar na Máfia de Havana: Uma Análise do Filme “O Poderoso Chefão, Parte II”
- João Lucas França Franco Brandão
- (In)visibilidade Contemporânea: o Olhar e a Cena Urbana em “Medianeras” (2011)
- Suelen Caldas de Souza Simião
- Tradição (Re)inventada: a Desconstrução do Mito do Cowboy em “Crepúsculo de uma Raça”
- Lucas Henrique dos Reis
- Da Conquista do Espaço às Portas do Paraíso: a Ficção Científica entre Utopias e Distopias
- Lucas Martins Flávio
- “Dr. Fantástico”, Ironia e Guerra Fria
- Arthur Rodrigues Carvalho
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Eduardo Morettin
- Vinicius Alexandre Rocha Piassi
Cantareira. Niterói, n.22, 2015.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – A Antiguidade, o Tempo, Nós e a História
- Mariana Figueiredo Virgolino
Dossiê Temático
- A mulher grega como “sacrificadora”
- Talita Nunes Silva
- Eros e a prostituição feminina
- Juliana Magalhães dos Santos
- Entre ideologia e representação
- Dayanne Dockhorn Seger
- Vingança e Arrependimento Como Parte do Ser Trágico do Período Clássico Ateniense na “Electra” de Eurípides
- Luis Henrique Barros. Cordeiro
- Os Gregos, Os Romanos e Os Celtas: Contatos Entre Culturas e a Representação do Gaulês no “De Bello Gallico” de Júlio César
- Priscilla Adriane Ferreira de Almeida
- A Construção da Imagem de Otávio César Augusto Como Propaganda Política: Uma Análise das “Res Gestae Divi Augusti” (Séc.I d.C)
- Litiane Guimarães Mosca
- Doados aos Romanos Como Um Segundo Sol”: Uma Abordagem Póscolonial à “História Natural” de Plínio, o Velho
- Nelson De Paiva Bondioli
- Um estudo da recepção do epicurismo
- MARIA de Nazareth Eichler Santángelo
- “Dirigi-vos, Antes, às Ovelhas Perdidas da Casa de Israel”: A Memória Anti-Samaritana na Literatura Neotestamentária
- Vítor Luiz Silva de Almeida
- Fontes e Representações Políticas Sobre o Polêmico Imperador Nero
- Ygor Klain Belchior
- A Consolidação da Identidade Cristã no Século IV
- Mariana de Matos Ponte Raimundo
- Os Inimigos dos Romanos Sob o Imperium de Graciano no Tratado “De Fide” de Ambrósio, Bispo de Milão (Séc. IV d.C)
- Janira Feliciano Pohlmann
Artigos Livres
- A Utilização do Pensamento Medieval na Criação do Culto à Rainha Virgem Elizabeth I (1558-1603)
- Maria Helena Alves da Siilva
- Racionalização e Controle da Natureza: O Crescimento do Poder Infraestrutural e a Geração do Conhecimento Cartográfico Sobre o Território no Segundo Reinado
- Bruno Capilé
- Diálogos Alimentares Através de Memórias de Pescadores de Foz do Iguaçu – PR
- Paola Stefanutti, Valdir Gregory, Nelson de Castro Neto
- Desigualdade de Gênero e Saúde: Avaliação de Políticas Públicas de Atenção à Saúde da Mulher
- Thaís Ferreira Rodrigues
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Alexandre Carneiro Cerqueira Lima
- Mariana Figueiredo Virgolino
Resenha
- As Várias Faces de um Rei Persa: Muito Além do Déspota Bárbaro
- Mateus Mello Araujo da Silva
Cantareira. Niterói, n.21, 2014.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – A historicidade da fronteira nos tempos passados e presentes.
- Hevelly Ferreira Acruche
Dossiê Temático
- “O NERVO MAIS FORTE DAS FRONTEIRAS” dinâmicas sociais dos índios no Paraguai [séculos XVI e XVII
- Bruno Oliveira Castelo Branco
- IRMANDADES NEGRAS NAS AMÉRICAS: Histórias Conectadas
- Caroline Dos Santos Guedes
- AS FRONTEIRAS SOCIAIS DO NACIONALISMO ALEMÃO: Identidade nacional, etnicidade e os paradoxos da democracia alemã nos dias atuais
- Marília Monteiro Silva
- A questão do Amapá nas páginas do New York Times (1895-1900)
- Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior
- VIVENDO NA BOLÍVIA, CONTUDO TRABALHANDO NO BRASIL:
- Roberto Mauro da Silva Fernandes
- A história que perpassa a inspetoria de obras contra as secas em 1915 no Ceará
- Leda Agnes Simões de Melo
- DE RELIGIOSA A MILITAR: Repensando As Alianças Estabelecidas Entre Os Indígenas E Os Flamengos No Brasil Holandês (1624-1654)
- Regina de Carvalho Ribeiro
- Os testamentos na produção historiográfica
- Aryanne Faustina da Silva
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Keila Grinberg
- Hevelly Acruche
Cantareira. Niterói, n.20, 2014.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – O legado das ditaduras civis-militares
- Isabel Cristina Leite
Dossiê Temático
- “O QUE RESTA DA DITADURA, O QUE HAVIA DE NÓS: história e memória nos mecanismos de justiça de transição no Brasil”
- Pedro Ivo Carneiro Teixeirense
- DITADURA MILITAR BRASILEIRA E PRODUÇÃO IDEOLÓGICA: Um estudo de caso com militares que atuaram no período ditatorial
- Thiago Vieira Pires
- ARGENTINA Y BRASIL CIVILES Y MILITARES: Tres décadas de convivencia en perspectiva comparada
- Gregorio J. Dolce Battistessa, María Delicia Zurita
- DO DESLIGAMENTO À LUTA PELA ANISTIA: a Associação dos Anistiados Políticos e Militares da Aeronáutica– GEUAr
- Esther Itaborahy Costa
- Semillas de la recepción a los retornados del exilio argentino y uruguayo (1983-1985)
- Maria Soledad Lastra
- EL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE LA LEY DE VÍCTIMAS EN COLOMBIA.
- Sebastián Vargas Álvarez
- Do corpo à terra, 1970. Arte guerrilha e resistência à ditadura militar
- Carolina Dellamore
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Patrick Rice
- Mario Ayala
Resenha
- RAMOS, Francisco Régis Lopes. O fato e a fábula: o Ceará na escrita da história. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora, 2012.
- Raul Victor Vieira Ávila de Agrela
Cantareira. Niterói, n.19, 2013.
Apresentação do Dossiê
Dossiê Temático
- PERCEPÇÕES DA NATUREZA A PARTIR DA ARTE: a diversidade do olhar sobre o universo natura
- ANA Marcela França
- GRACILIANO RAMOS E OS ANIMAIS: diálogos sobre a representação da fauna na obra Vidas Secas
- Catarina De Oliveria Buriti, JOSÉ Otávio Aguiar, Bread Soares Estevam
- Teodoro de Almeida e a filosofia natural em Portugal, na segunda metade do século XVIII
- Patrícia Govaski
- Migração, fronteiras e identidades: A ideologia do processo ma colonização do oeste do Paraná
- Maurício Dezordi
- Teorias raciais no Brasil: um pouco de história e historiografia
- Diego Uchoa De Amorim
- Mera crônica e História apropriada
- Luís R. A. Costa
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com José Augusto Pádua
- Gefferson Ramos Rodrigues
Resenha
- Santos e pregadores nas cidades medievais italianas: retórica cívica e hagiografia.
- Douglas De Freitas Almeida Martins
Cantareira. Niterói, n.18, 2013.
Apresentação do Dossiê
- Apresentação – História Econômica: tradições historiográficas e tendências atuais
- Adhemar Lourenço da Silva Jr., Isabel Aparecida Bilhão
Dossiê Temático
- O OVO DA SERPENTE:a ditadura civil-militar e o capital monopolista brasileiro – o caso das empreiteiras
- Pedro Henrique Pedreira Campos
- Tributos no rio de Janeiro imperial: meios de consolidação do projeto político Saquarema
- Gabriel De Azevedo Maraschin
- O FAZER-SE DA CLASSE PATRONAL: em Porto Alegre durante as grandes greves da Primeira República
- César Augustos B. Queirós
- DO XÁ AO AIATOLÁ: As representações sobre a Revolução Iraniana através da Revista Veja (1978-1979)
- David Anderson Zanoni
- ASPECTOS ECONÔMICOS DA FRONTEIRA OESTE DO BRASIL: uma revisão bibliográfica (séculos XVIII e XIX)
- Adriano Knippelberg De Moraes, Luciene Aparecida Castravechi
- A DIREITA CRISTÃ E O FLORESCER ECONÔMICO DA SUNBELT : nos Estados Unidos nos anos 1980
- Alexandre Guilherme Da Cruz Alves Junior
- ADMINISTRAÇÃO LOCAL: serviços públicos versus recursos financeiros na província de Minas Gerais
- Edneila Rodrigues Chave
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Carlos Gabriel Guimarães
- ERIC BRASIL NEPOMUCENO, Hevelly Acruche
Resenha
- Futebol e colonialismo: corpo e cultura popular em Moçambique.
- Matheus Serva Pereira
Cantareira. Niterói, n.17, 2012.
Dossiê Temático
- De São Barnabé à Vila Nova de São José D’el Rei: tensões e conflitos étnico-sociais em um aldeamento do Rio de Janeiro sob o Diretório dos Índios (1758-1798)
- Luís Rafael Araújo Corrêa
- A crise de Suez: uma sobreposição de três conflitos (1952-1956)
- Luiz Salgado Neto
- Guerra, contestação e quadrinhos: o conflito do Vietnã por meio das War stories
- Fábio Vieira Guerra
- O contestado Franco-Brasileiro: desafios e consequências de um conflito esquecido entre a França e o Brasil na Amazônia*
- Stéphane Granger
- Charles Maurras e o surgimento do integralismo lusitano: teorias e apropriações doutrinárias
- Felipe A. Cazetta
- A new left review e o dilemas da “Nova Ordem Mundial”: o fim da história, as “revoluções” do Leste europeu e a Guerra do Golfo
- Ruben Maciel Franklin
- A guerra cibernética: cyberwarfare e a securitização da Internet
- Marcelo Carreiro
- Entrelaçando história e literatura: uma análise da repressão ao candomblé através da obra Jubiabá de Jorge Amado na década de 1930
- Leonardo Dallacqua de Carvalho
- Uma história da campanha nacional da aviação (1940-1949): o Brasil em busca do seu ‘Brevêt’
- Raquel Franco dos Santos Ferreira
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Francisco Carlos Teixeira
- Eric Brasil Nepomuceno, Gefferson Ramos
Resenha
- Constantino, um imperador da fé
- Mariana Figueiredo Virgolino
Cantareira. Niterói, n.16, 2012.
Dossiê Temático
- Bolsas de Pós-graduação: a Política por trás dos Números
- Esther Majerowicz Gouveia
- Entre Ficino e Dürer: uma possibilidade de diálogo entre o texto e a imagem
- Andréia de Freitas Rodrigues
- Jogo de Imagens: a relação entre a arte e a moda na França do século XVII
- Laura Ferrazza de Lima
- Representações de poder e propaganda política nas exposições de arte do Pará do início do século XX
- Moema de Bacelar Alves
- A Fundação Cultural do Espírito Santo e o Teatro Carlos Gomes: a leitura trágica de um caso.
- Duílio Henrique Kuster Cid
- Arte e sociedade: o sistema de artes e a Escola de Belas Artes de Pelotas- RS- Brasil (1949-1973)
- Francisca Ferreira Michelon, Ursula Rosa da Silva, Katia Helena Rodrigues Dias
- Provérbios populares e a formação da “consciência cívica”
- Flávia Guia Carnevali
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Ana Paula Rebelo Correia
- Daniel Precioso
Transcrições
- O Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto (1738)
- Monalisa Pavonne Oliveira
- Missiva do exílio: carta de Caio Prado Júnior a Sérgio Buarque de Holanda durante a Ditadura Militar brasileira
- Andé Carlos Furtado
Cantareira. Niterói, n.15, 2011.
Dossiê Temático
- “Fabricando” Identidades: Domingos Loreto Couto, Vida e obra de um Cronista Luso-Brasileiro na Pernambuco de Meados do Século XVIII
- Bruno Silva
- O Santinho em cuecas: dissidência política de Henrique Galvão em “Carta Aberta a Salazar” (1959)
- André Luiz dos Santos Vargas
- Sociabilidades pela proteção da natureza: A rede de relações de Henrique Luiz Roessler
- Elenita Malta Pereira
- Biografia e micro-história: diálogos possíveis para uma história da governança no Império Português (Capitania da Parayba, c.1764-1797)*
- José Inaldo Chaves Júnior
- Fidalguia Contratada: O itinerário social de José Gonçalves da Silva no Maranhão, 1777-1821
- Ariadne Ketini Costa
- Um Pinel à brasileira: Franco da Rocha e a reorganização da assistência a alienados na cidade de São Paulo.
- William Vaz de Oliveira
- O inventário de Antonio Landi e a invenção do “arquiteto genial”: história, biografia e a valorização do passado amazônico
- Wesley Oliveira Kettle
- “Hemetério dos Santos: o posicionamento do intelectual negro a partir das obras Pretidão de amor e Carta aos Maranhenses.”
- Marcela Moraes Gomes
- História e Biografia: limites e possibilidades teóricas
- Lívia Beatriz da Conceição
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Benito Bisso Schmidt
- Manuela Areias Costa
Resenha
- Nzinga Mbandi representada através da resistência ao domínio português
- Priscilla Maria Weber
- A “volta” de um gênero híbrido e assaz historiográfico – Biografia
- Eduardo Gomes Silva
Cantareira. Niterói, n.14, 2009.
Artigos Livres
- A favela faltou na foto: a cobertura do desmonte do Santo Antônio pelas lentes do Correio da Manhã
- Mauro Amoroso
- “Calango tango no calango da lacraia”: Intelectuais, Cidadania e Cultura Política
- Camila Mendonça, Eric Brasil, Eric Maia, Ingrid Casazza, Matheus Serva
- Pereira da Costa e a luta por uma identidade pernambucana
- Leonardo da Costa Ferreira
- “Raptores, incestuosos e solicitantes”: transgressões do clero no Maranhão colonial
- Pollyanna Gouveia Mendonça
Entrevista do Dossiê
- Paulo Cavalcante de Oliveira Junior
- Letícia Ferreira
Cantareira. Niterói, n.13, 2008.
Artigos Livres
Jacobinos: abordagem conceitual e performática
- Amanda Muzzi Gomes
- Quando o sertão faz a festa, a monarquia se faz presente: Festas e representações monárquicas na capitania do Ceará (1757-1817)
- José Eudes Arrais Barroso Gomes
- Unção Régia Asturiana: uma resposta às demandas políticas e sociais
- Bruno de Melo Oliveira
Resenha
- Um Reencontro com o Ocidente
- Fernando Gil Portela Vieira
Cantareira. Niterói, n.9, 2005.
Artigos Livres
- Heródoto e o Testamento de Udjahor-Resenet
- Maria Thereza David João
- Notas sobre a visão da loucura nos escritos de Hegel[1]
- Maurício Ouyama
- Histórias de pescadores: as transformações em uma comunidade caiçara (Vila Barra do Superagüi/ PR, 1989-2005)
- Melissa Anze
- A construção de uma identidade camponesa no sul do Brasil
- Tarcísio Vanderlinde
- Notas prévias sobre a campanha dos caixeiros juizforanos pelo descanso hebdomadário (1880-1905)
- Luís Eduardo de Oliveira
- Do Kimbanda à Quimbanda: encontros e desencontros
- Mario Teixeira de Sá Junior
- O Constante Retorno da ‘Prática Assistencial’ em Sindicatos: o caso do SINTTEL-PE
- José Fernando Souto Jr
- Juventude e Criminalidade: um estudo de caso da história da violência em Belo Horizonte
- Ana Flávia Arruda Lana
- Vida e Morte no Cristianismo Primitivo
- Marcos Caldas
- “Despertar e incentivar”! A Pastoral de Favelas e o movimento comunitário de favelas cariocas na Redemocratização
- Mário Brum
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Marly Motta
- Fernando G. P. Vieira, Marcelo Abreu
Resenha
- Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade
- Mauro Dilmann
Cantareira. Niterói, n.8, 2005.
Artigos Livres
- O lugar dos Franciscanos da Reconciliação na história
- Edison Minami
- O conceito de cultura em Raymond Williams e Edward P. Thompson: breve apresentação das idéias de materialismo cultural e experiência
- Raquel Sousa Lima
- O fechamento da Panair do Brasil e a ascensão da VARIG
- Alejandra Saladino
- Pescadores de Guaíra: memória histórica sobre o derrocamento subaquático do Rio Paraná (1996)
- Hagaides de Oliveira
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Carlos Barros
- Alexandre Camargo, Fernando G. P. Vieira, Mauro Amoroso, Richard N. de Paula
Resenha
- A Ilusão e a Cura – Reis Taumaturgos, Marc Bloch
- Tarcísio de Souza Gaspar
Cantareira. Niterói, n.7, 2005.
Artigos Livres
- Sobre civilizados e bárbaros: o álcool e as trocas culturais na antigüidade européia
- João Azevedo Fernandes
- A Rebeldia da Leitura como Fonde de Investigação
- Tarcísio Vanderlinde
- A História numa sala escura… a construção da memória nacional através de filmes históricos durante a ditadura civil-militar
- Carlos Eduardo Pinto
- Duas trajetórias: a memória do movimento feminista no Brasil (fins da década de 1960 aos anos 1980)
- Cecília Chagas de Mesquita, Flávia Cópio Esteves
- A Filosofia da Ciência em Popper, Kuhn e Morin: um estudo comparativo
- Alexandre de Paiva Rio Camargo
Entrevista do Dossiê
- José Murilo de Carvalho
- Alexandre Camargo, Mauro Amoroso
- Jaime L. Benchimol
- Leonardo Arruda, Cecília Chagas de Mesquita, Francisco dos Santos Lourenço
Cantareira. Niterói, n.6, 2005.
Artigos Livres
- Comunistas e trabalhistas no cenário político brasileiro dos anos 1960: notas sobre o trânsito entre culturas políticas
- Fábio André G. das Chagas
- Globalização e Estado nacional
- Fabíola D. Silva
- A importância de Ivolino de Vasconcellos e do IBHM na consolidação da historiografia médica brasileira.
- Mauro Henrique de Barros Amoroso
- As obrigações dos colonos com a defesa do Estado do Brasil.
- Wilmar da Silva Vianna Júnior
- O pensamento psiquiátrico na primeira república: formulações psiquiátricas sobre a criação de uma identidade nacional.
- Richard Negreiros de Paula
- Os jesuítas no Setecentos europeu: autoridade, ensino e poder
- Patrícia Domingos Woolley
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Ciro Flamarion S. Cardoso
- Autor Cantareira
Cantareira. Niterói, n.5, 2004.
Artigos Livres
- Guerrilha no Brasil: Uma crítica à tese do “Suicídio revolucionário em voga nos anos 80 e 90”
- Durbens Martins Nascimento
- Cinema e história: o imaginário norte americano através de Hollywood.
- Priscila Aquino Silva
- A justiça não basta e ainda falha: Motivações e casos de linchamentos no Ceará
- Jean Mac Cole Tavares Santos
- Os manuais de medicina popular de Chernoviz na sociedade imperial
- Maria Regina Cotrim Guimarães
- Relações entre o Hospital de Manguinhos e o Serviço de Estudos de Grandes Endemias
- Evandro Chagas
- Visões da morte na história dos francos de Gregório de Tours
- Ana Cristina Campos Rodrigues
- Camponeses: Um olhar nos primórdios da modernidade
- Tarcísio Vanderlinde
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Janice Perlman
- Autor Cantareira
- Entrevista com Marcos Alvito
- Autor Cantareira
Cantareira. Niterói, n.4, 2003.
Artigos Livres
- Filosofia Pragmática, Pragmática Sociológica e Direitos Humanos
- Ubiracy de Souza Braga
- Da alegria e da angústia de diluir fronteiras: O diálogo entre a história e literatura
- Carlos Vinícius Costa de Mendonça, Gabriela Santos Alves
- Para ler as Memórias de um sargento de milícias: Uma perspectiva materialista da análise de fontes literárias em história
- Luigi Bonafé
- Memórias e paisagens do oeste do Paraná(1892)
- Antonio Marcos Myskiw
- Guerra do Paraguai e sua Ideologia.
- Mariana Nunes
- Tráfico, favelas e a cidade do Rio de Janeiro.
- Mario Sergio Brum
Cantareira. Niterói, n.3, 2003.
Artigos Livres
- A representação de estado moderno n’as palavras e as coisas de Michel Foucalt e a representação de estado de Jean-Jacques Rousseau
- Hagaides de Oliveira
- As Câmaras e as Revoltas à luz da Negociação.
- Gabriel Almeida Frazão, Carlos Eduardo Loshe Rezende
- Da Escola de Aviação do Fluminense Yacht Club ao Marimbás Air Force: construindo uma ponte entre o passado e o presente
- Alejandra Saladino
- História e Literatura: reflexões sobre a República em Esaú e Jacó
- William Gaia Farias
- Semente de Favela: jornalistas e o espaço urbano da Capital Federal nos primeiros anos da República – o caso do Cabeça de Porco.
- Richard Negreiros de Paula
Cantareira. Niterói, n.2, 2002.
Artigos Livres
- Sobre a superioridade da Poesia em relação à História: O Canto VII do Caramuru
- Luciana Gama
- Excluídos pela impureza: convivência e conflitos sociais entre cristãos-novos e cristãos velhos no Nordeste açucareiro vistos a partir da documentação produzida pelas visitações do Santo Ofício da Inquisição – séculos XVI-XVII
- Angelo Adriano Faria de Assis
- Russificação Soviética e Pós-soviética: Autoridade Política e Etnicidade, 1917-1997
- Alexander Martins Viana
- Rebelde in Christo: reflexões sobre Thomas Müntzer
- Tarcísio Vanderlinde
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Guilherme Pereira das Neves
- Autor Cantareira
Resenha
- Enciclopédia da Floresta – O Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações.
- Manuela Carneiro da Cunha, Mauro Barbosa de Almeida
- Os eurobrasileiros e o Espaço Colonial
- Antonio Marcos Myskiw
Cantareira. Niterói, n.1, 2002.
Artigos Livres
- Conflitos rurais no Brasil: breve exame no século XX
- Marcus Dezemone
- “O Palco Colonial”: Uma breve reflexão sobre os cerimoniais no Brasil no contexto do Antigo Regime.
- Gabriel Almeida Frazão
- O príncipe e os estados do reino Um estudo sobre a idéia de príncipe e sua infiltração social
- Alexandre Pierezan
- Os Dois Corpos da História
- Antonio Marcelo Jackson F. da Silva
- Presença do capa entre agricultores familiares no oeste do Paraná
- Tarcísio Vanderlinde
Entrevista do Dossiê
- Entrevista com Ronaldo Vainfas
- Autor Cantareira
Cantareira | UFF | 2002
Cantareira (Niterói, 2002-) é um periódico eletrônico dos graduandos e dos pós-graduandos em História da Universidade Federal Fluminense, fundada em 2002.
A revista tem periodicidade semestral e recebe trabalhos inéditos, teóricos ou empíricos, que contribuam para o desenvolvimento da pesquisa no campo historiográfico.
As suas finalidades são enfocar questões teóricas e críticas pertinentes aos estudos de História e áreas afins, fomentar o debate entre estudantes e pesquisadores de todo o país, oferecer aos leitores textos de excelente qualidade, democratizar o conhecimento e ser uma referência acadêmica no meio web.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 1677-7794
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos