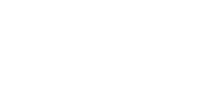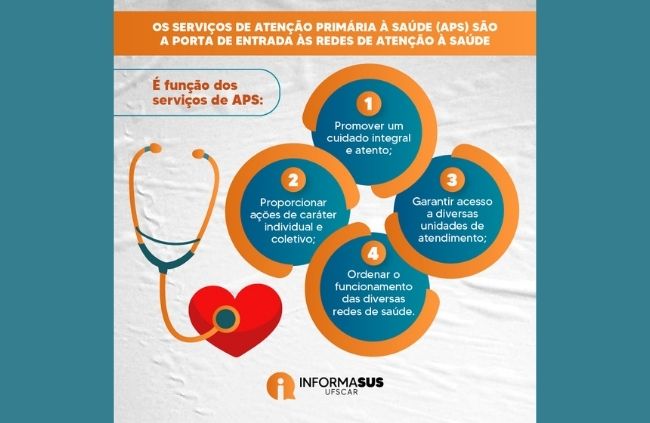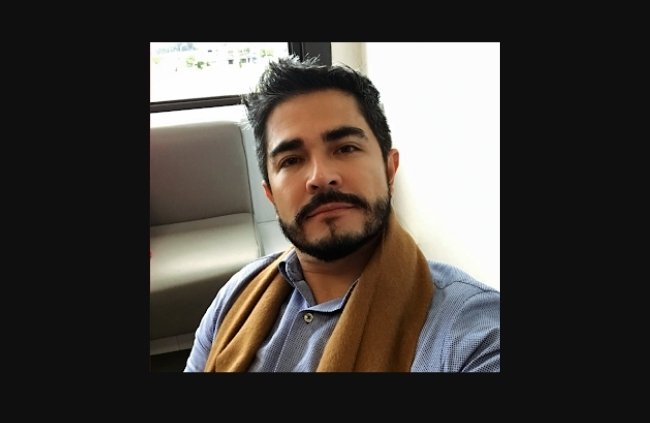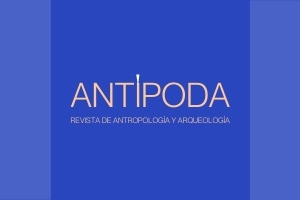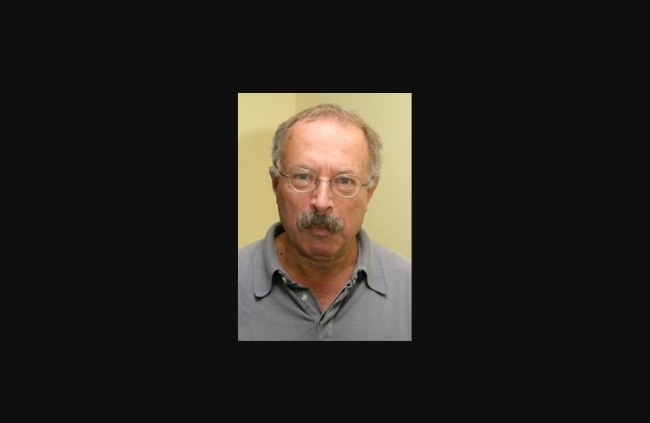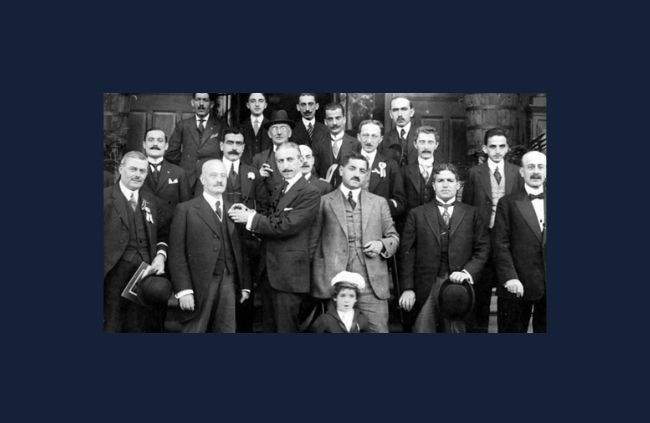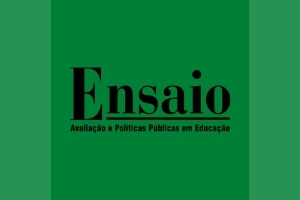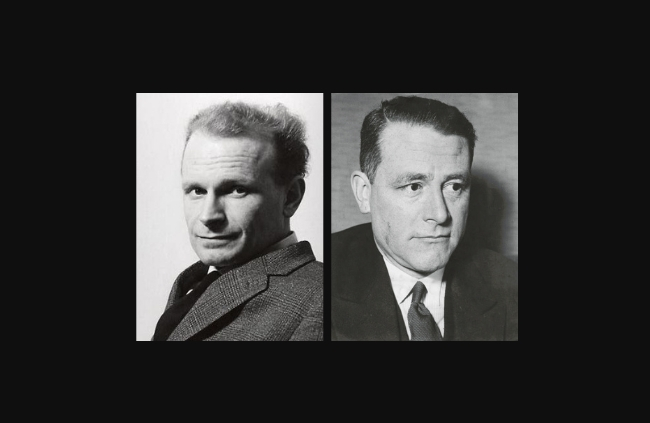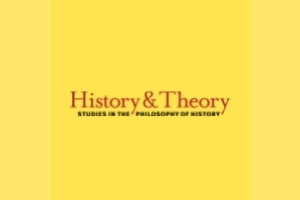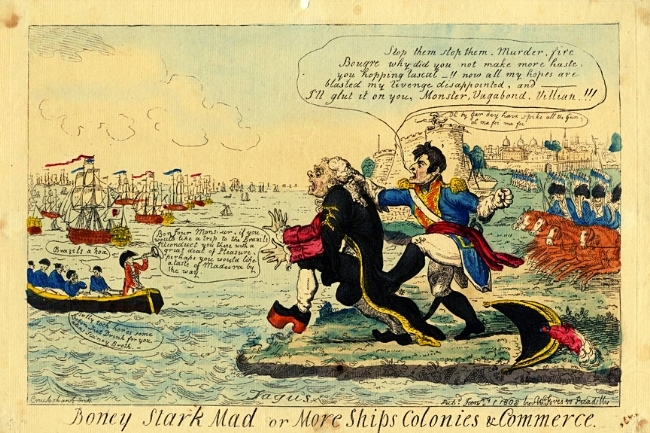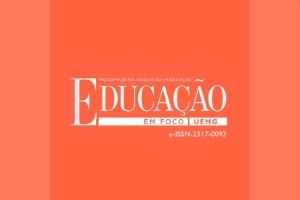Posts de Itamar Freitas
Madre y patria!: eugenesia, procreación y poder en una Argentina heteronormada | Marisa Adriana Miranda
Marisa Adriana Miranda | Foto: Universidad Nacional de La Plata
 El último libro de la investigadora Marisa Miranda es una obra crucial para el desarrollo de los estudios sobre las sexualidades, la eugenesia y los cuerpos en Argentina. Situado y crítico, este trabajo establece una línea de tiempo de larga duración, donde da cuenta de los complejos dispositivos que legitiman el ideario de la preocupación por la descendencia. Atraviesa y desnuda las lógicas que construyen el ideario eugenésico en el país, en clave de género, y propone volver a mirar la preocupación poblacional bajo la lupa de la maternidad y la raza como obligaciones patrióticas durante el siglo XX. Este libro constituye un aporte superador a los debates sobre la eugenesia en Argentina. El lugar de la heteronormatividad – como dimensión futura del eugenismo –, el catolicismo, sus dimensiones legales y culturales, y sus instituciones son parte esencial del análisis innovador de la prolífera investigadora.
El último libro de la investigadora Marisa Miranda es una obra crucial para el desarrollo de los estudios sobre las sexualidades, la eugenesia y los cuerpos en Argentina. Situado y crítico, este trabajo establece una línea de tiempo de larga duración, donde da cuenta de los complejos dispositivos que legitiman el ideario de la preocupación por la descendencia. Atraviesa y desnuda las lógicas que construyen el ideario eugenésico en el país, en clave de género, y propone volver a mirar la preocupación poblacional bajo la lupa de la maternidad y la raza como obligaciones patrióticas durante el siglo XX. Este libro constituye un aporte superador a los debates sobre la eugenesia en Argentina. El lugar de la heteronormatividad – como dimensión futura del eugenismo –, el catolicismo, sus dimensiones legales y culturales, y sus instituciones son parte esencial del análisis innovador de la prolífera investigadora.
Miranda avanza en el estudio de las lógicas que imperaron en el modelo patriarcal en Argentina. Desde una matriz foucaulteana, propone ejes que ordenan su trabajo y provocan a sus lectores a la hora de construir una problematización sobre los cuerpos. La temporalidad abordada requiere de una dimensión densa y profunda de variables relacionadas. Leia Mais
3. Avaliação da Aprendizagem

Educação não é mercadoria | Foto e informação: UNE
Atualizado em 17/12/2021, 17h57.
BEM-VINDOS!
Colegas, esta é a página que armazena e distribui o material a ser lido, produzido e avaliado, relativo à terceira unidade do nosso curso de Avaliação Educacional.
Esta unidade culminará com a produção de uma sequência didática, acompanhada de instrumento(s) de avaliação, relacionados aos problemas de aprendizagem em Língua Portuguesa ou em História, nos anos iniciais, construída em grupo.
Relembro que as dúvidas sobre as leituras e os exercícios devem ser dirimidas no início das aulas síncronas correspondentes ou mediante escrita na janela "comentários" (abaixo). Sigam as orientações e prestem atenção ao calendário.
Bom trabalho!
EXPECTATIVAS
Objetivo desta unidade é viabilizar o desenvolvimento da produção instrumentos de avaliação da aprendizagem alinhados a sequências didáticas elaboradas a partir de problemas reais (contextualizados).
Espero que, ao final da unidade, vocês estejam capacitados a produzir uma sequência didática acompanhada de respectivo(s) instrumento(s) de avaliação, aplicáveis a situações didáticas relativas ao ensino de Língua Portuguesa ou de História, destinada aos anos iniciais do Ensino Fundamental.
ATIVIDADE I
Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 03 NOVEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 05 NOVEMBRO 2021 | ASSÍNCRONA - 4h.
Objetivo - Conhecer estrutura retórica e unidades de informação de uma sequência didática.
Princípio de aprendizagem - O conhecimento da estrutura da matéria propicia aprendizagens mais duradouras (J. Bruner).
Ação 1 - Ler e discutir em grupo o texto: "Uma estrutura retórica para sequências didáticas"
Ação 2 - Esboçar elementos básicos de uma sequência didática, partindo do problema de aprendizagem selecionado e das experiências colhidas com a revisão da literatura.
Recursos - Texto "Construindo expectativas de aprendizagem e sequências didáticas".
ATIVIDADE II
Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 10 NOVEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 12 NOVEMBRO 2021 | SÍNCRONA - 2h.
Objetivo - Relembrar estrutura retórica e unidades de informação de uma sequência didática e construir um exemplar do gênero para submetê-la à avaliação colaborativa.
Princípio de aprendizagem - A percepção da utilidade da matéria propicia aprendizagens mais prazerosas e duradouras (J. Dewey).
Ação 1 - Tirar dúvidas sobre a estrutura e a aplicação de estruturas de sequências didáticas em problemas reais de aprendizagem e avaliação.
Ação 2 - Submeter, voluntariamente, à correção e à avaliação colaborativa dos colegas, os primeiros esboços de sequências didáticas produzidos na aula anterior.
Recursos - Sala de aula virtual | Texto "Construindo expectativas de aprendizagem e sequências didáticas".
ATIVIDADE III
Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 17 NOVEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 19 NOVEMBRO 2021 | ASSÍNCRONA - 4h.
Objetivo - Conhecer funções da avaliação da aprendizagem e estruturas retóricas de itens de prova e de escalas de pontuação.
Ação 1 - Ler, discutir em grupo o texto: "Construindo instrumentos de avaliação"
Ação 2 - Esboçar prova com exemplares do gênero para a submissão da avaliação colaborativa.
Princípio de aprendizagem - A percepção da utilidade da matéria propicia aprendizagens mais prazerosas e duradouras (J. Dewey).
Recursos - Texto "Construindo instrumentos de avaliação"
ATIVIDADE IV
Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 24 NOVEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 26 NOVEMBRO 2021 | SÍNCRONA - 2h.
Objetivo - Construir uma prova com exemplares do gênero para a submissão de avaliação colaborativa.
Princípio de aprendizagem - A percepção da utilidade da matéria propicia aprendizagens mais prazerosas e duradouras (J. Dewey).
Ação 1 - Submeter, voluntariamente, à correção e à avaliação colaborativa dos colegas, os primeiros esboços do instrumento de avaliação.
Recursos - Sala de aula virtual | Texto "Construindo instrumentos de avaliação"
ATIVIDADE V
Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 01 DEZEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 03 DEZEMBRO 2021 | SÍNCRONA - 2h.
Objetivo - Construir uma prova com exemplares do gênero para a submissão de avaliação colaborativa.
Princípio de aprendizagem - A percepção da utilidade da matéria propicia aprendizagens mais prazerosas e duradouras (J. Dewey).
Ação 1 - Submeter, voluntariamente, à correção e à avaliação colaborativa dos colegas, os primeiros esboços do instrumento de avaliação.
Recursos - Sala de aula virtual | https://meet.google.com/otu-yfgn-wum | Texto "Construindo instrumentos de avaliação"
TURMA DA QUARTA - Postar a sequência didática acompanhada do instrumento de avaliação, até 07 de dezembro de 2021.
TURMA DA SEXTA - Postar a sequência didática acompanhada do instrumento de avaliação, até 09 de dezembro de 2021.
ATIVIDADE VI - TURMA DA QUARTA
Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 08 DEZEMBRO 2021 | ASSÍNCRONA - 4h.
Objetivo - Realizar a autoavaliação da sequência de didática do próprio grupo, postar a sequência didática do próprio grupo e avaliar de modo colaborativo as sequências didáticas e instrumentos de avaliação dos demais grupos da turma.
Princípio de aprendizagem - A avaliação colaborativa e a autoavaliação desenvolvem habilidades metacognitivas.
Recursos
Formulário fazer a autoavaliação e para postar a sequência e o instrumento de avaliação do seu grupo.
Arquivos de sequências e formulários para a avaliação de todos os grupos por todos os grupos.
Baixar sequência didática de Felipe Gabriele Inaja e Ketlenn
Avaliar sequência didática de Felipe Gabriele Inaja e Ketlenn
Baixar sequência didática de Marcia Andresa Clarice e Flávia---
Avaliar sequência didática e Marcia Andresa Clarice e Flávia
Baixar sequência didática de Taislaene Mirielle Williany e Adria
Avaliar sequência didática de Taislaene Mirielle Williany e Adria
Baixar sequência didática de Danielle Keilla Luiza e Larissa
Avaliar sequência didática de Danielle Keila Luiza e Larissa
Baixar sequência didática de Eliane Gildeane Lanna e Lorena
Avaliar sequência didática de Eliane Gildeane Lanna e Lorena
Baixar sequência didática de Raimundo Kerollyn Rebeca e Thalissa
Avaliar sequência didática de Raimundo Kerollyn Rebeca e Thalissa
Baixar sequência didática de Ana Karina Larissa e Luara
Avaliar sequência didática de Ana Karina Larissa e Luara
Baixar sequência didática de Bruna Carla Laís Tabatha e Tauam
Avaliar sequência didática de Bruna Carla Laís Tabatha e Tauam
Baixar sequência didática de Lucileide Louyse Karine e Ailton
Avaliar sequência didática de Lucileide Louyse Karine e Ailton
Baixar sequência didática de Crislane Izabel Madalena e Renata
Avaliar sequência didática de Crislane Izabel Madalena e Renata
ATIVIDADE VI - TURMA DA SEXTA
Data | hora | modalidade - SEXTA-FEIRA 10 de DEZEMBRO 2021 | ASSÍNCRONA - 4h.
Objetivo - Realizar a autoavaliação da sequência de didática do próprio grupo, postar a sequência didática do próprio grupo e avaliar de modo colaborativo as sequências didáticas e instrumentos de avaliação dos demais grupos da turma.
Princípio de aprendizagem - A avaliação colaborativa e a autoavaliação desenvolvem habilidades metacognitivas.
Recursos
Formulário fazer a autoavaliação e para postar a sequência e o instrumento de avaliação do seu grupo.
Arquivos de sequências e formulários para a avaliação de todos os grupos por todos os grupos.
Baixar sequência didática de Ketlhyn Ariadeni Lorenne Rosaline
Avaliar sequência didática de Ketlhyn Ariadeni Lorenne Rosaline
Baixar sequência didática de Inara Milena Nívea e Ricardo
Avaliar sequência didática de Inara Milena Nívea e Ricardo
Baixar sequência didática de Ana Regina Andrielli Denise e Wendy
Avaliar sequência didática de Ana Regina Andrielli Denise e Wendy
Baixar sequência didática de Deyvid Jéssica Lucas e Micaela
Avaliar sequência didática de Deyvid Jéssica Lucas e Mecaela
Baixar sequência didática de Elizandra Iara Misael e Rafaela
Avaliar sequência didática de Elizandra Iara Misael e Rafaela
Baixar sequência didática de Cleberton Douglas Evellyn e Jamyle
Avaliar sequência didática de Cleberton Douglas Evellyn e Jamyle
Baixar sequência didática de Isabela Larissa Lourena e Maria Verônica
Avaliar sequência didática de Isabela Larissa Lourena e Maria Verônica
Baixar sequência didática de Flávia Gleiciane Marina e Zaiane
Avaliar sequência didática de Flávia Gleiciane Marina e Zaiane
Informar a nota obtida pelo grupo
PENDÊNCIAS DA UNIDADE II
Avaliar revisão da literatura de Cleberton, Douglas, Evellyn e Jamile
ENCERRAMENTO
Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 15 DEZEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 17 DEZEMBRO 2021 | SÍNCRONA - 4h.
Link - https://meet.google.com/imf-fsxq-yaq
Objetivo - Resolução de pendências de avaliações e notas das três unidades. Quem não tem pendências já está de férias. Não precisa comparecer.
Folia Histórica del Nordeste. Resistência, n. 42, 2021.
Artículos
- Policías testigos: Agentes policiales, territorio y prácticas judiciales (ciudad de Buenos Aires y alrededores, décadas de 1810 y 1820)
- María Agustina Vaccaroni |
- Visor PDF
- Descargar el archivo PDF
- LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD. UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO DE LOS LIBRES DEL SUR (1837-1842)
- Carolina Germinario |
- Visor PDF
- Descargar el archivo PDF
- Políticas estatales para las instituciones y el arte argentino en los años ‘30
- Patricia Basualdo |
- Visor PDF
- Descargar el archivo PDF
- PROTESTAS, DENUNCIAS Y SANCIONES DURANTE EL PERONISMO. EL CASO DE LA ESCUELA NORMAL Y EL INSTITUTO DEL PROFESORADO DE PARANÁ (1948-1949)
- Eva Mara Petitti |
- Visor PDF
- Descargar el archivo PDF
- “QUE EL QOMLE’EC, EL TOBA, NO ES CUALQUIER COSA…”: LA ENSEÑANZA DEL QOM EN EL ÁREA EDUCATIVA DE UNA MISIÓN PROTESTANTE DESTINADA A INDÍGENAS DEL NOROESTE DEL CHACO (ARGENTINA, 1960-1970)
- Victoria Sol Almirón, David García, Yamila Liva |
- Visor PDF
- Descargar el archivo PDF
- “CONSTRUIR EL PARTIDO EN LAS FÁBRICAS”: LA LÍNEA POLÍTICOSINDICAL DEL PRT-ERP ANTE LA APERTURA DEMOCRÁTICA Y LA EXPERIENCIA DE SUS MILITANTES EN TRES FÁBRICAS DEL GRAN BUENOS AIRES
- Santiago Stavale |
- Visor PDF
- Descargar el archivo PDF
Notas y documentos
- El proceso de poblamiento en Misiones-Argentina: un abordaje a partir de la obra de Robert Eidt.
- Laura Mabel Zang |
- Visor PDF
- Descargar el archivo PDF
- Reseñas Bibliográficas
- Reseña bibliográfica de la obra de Cicerchia, Ricardo (dir.) (2020). El estudio de las formas familiares en el nuevo milenio. Rosario: Prohistoria. 380p
- Milagros Belen Blanco |
- Visor PDF
- Descargar el archivo PDF
- Reseña bibliográfica de la obra de Burgos, Ana María (2020) Tráfico de saberes. Agencia femenina, hechicería e inquisición en Cartagena de Indias (1610-1614). Madrid: Iberoamericana- Vervuert, 263pp.
- Mónica Ercilia Martínez |
- Visor PDF
- Descargar el archivo PDF
- Reseña bibliográfica de la obra de Mazzoni, María Laura (2019). Mandato divino, poder terrenal. Administración y gobierno en la diócesis de Córdoba del Tucumán (1778-1836). Rosario: Prohistoria Ediciones.
- Nicolás Mario Andrés Molina |
Brasília, cidade construída na linha do horizonte | Sérgio Jatobá
A obra demonstra forte inspiração arquitetônica e urbanística e reúne artigos publicados esparsamente em jornais e revistas com o intuito de analisar basicamente o centro da cidade, que é o Plano Piloto de Brasília. O autor possui fina percepção de como os arquitetos/urbanistas Lucio Costa e Oscar Niemayer conceberam a capital federal, respectivamente, pelo urbanismo e pela arquitetura e que, mais tarde, veio a se espraiar em três dezenas de outros núcleos urbanos, as cidades-satélites de Brasília.
A obra é de fácil compreensão, inicialmente traduz sua ligação com o movimento modernista dos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna – CIAM e a posterior expansão para atender às demandas locais. O autor esclarece o desenvolvimento do Plano Piloto em suas quatro escalas e aproveita o ensejo para analisar o pensamento das visitas de Clarice Lispector à cidade. A visão do autor é analítica e crítica e é indicada aos que desejam ter uma ideia ampla da capital federal e de seu horizonte. Leia Mais
Densidade urbana. Um instrumento de planejamento e gestão urbana | Claudio Acioly Júnior e Forbes Davison
A primeira frase do livro se trata de uma citação de Jane Jacobs em seu livro Morte e vida de grandes cidades em 1961, questionando qual seria a densidade ideal para a vida de uma cidade. Já se passaram quase 60 anos e essa continua sendo uma discussão frequente na vida de urbanistas e planejadores urbanos. Claudio Acioly e Forbes Davidson toparam o desafio de participar dessa discussão ao resolverem publicar em formato de livro os resultados de suas pesquisas sobre o tema: Densidade urbana: um instrumento de planejamento e gestão urbana.
A busca pela cidade ideal passa pela discussão sobre exemplos práticos existentes, cidades compactas e verticalizadas como Hong Kong, Nova Iorque e Tóquio são melhores? Ou o melhor modelo passa pela linearidade de Los Angeles e Brasília? Os autores esclarecem logo de início que se trata de um debate complexo, que percorre por efeitos e consequências bem concretas, mas também por questões muitas vezes culturais. Leia Mais
Chungará. Arica, v.53, n.3, set. 2021.
IN MEMORIAM LUIS BRIONES MORALES (1938-2021)
Arqueología y Patrimonio
- CARACOLES MARINOS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL CENTRO DE ARGENTINA (32° LS – 64° LO): MATERIALIDADES SIMBÓLICAS EXTENDIDAS EN EL TERRITORIO
Gordillo, Sandra - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )
- EVALUANDO EL CONSUMO Y USO DE PLANTAS ENTRE CAZADORES RECOLECTORES PESCADORES MARINOS A TRAVÉS DEL ESTUDIO DEL TÁRTARO DENTAL HUMANO EN LOS CANALES SEPTENTRIONALES DE PATAGONIA (41°30’- 47° S)
Belmar, Carolina A.; Reyes, Omar; Albornoz, Ximena; Tessone, Augusto; San Román, Manuel; Morello, Flavia; Urbina, Ximena - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )
- CONTEXTOS MORTUORIOS EN LA CUENCA DEL RÍO RAMADILLAS (PRE-CORDILLERA DE LA REGIÓN DE ATACAMA, CHILE): DATACIONES Y ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES
Díaz, Pablo; Pacheco, Aryel; Rivas, Pilar; González, María Josefina - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )
- POLÍTICA SEXUAL Y REPRODUCCIÓN SOCIAL EN LA PAMPA DEL TAMARUGAL: ESTRUCTURA SEXO-EDAD EN EL CEMENTERIO TARAPACÁ 40 (1000 AC-600 DC)
González-Ramírez, Andrea; Sáez, Arturo; Herrera Soto, María José; Leyton, Lía; Miranda, Felipe; Santana-Sagredo, Francisca; Uribe Rodríguez, Mauricio - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )
- BIODISTANCIA EN CEMENTERIOS COLONIALES DEL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA. UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LA VARIACIÓN MORFOLÓGICA POSTCRANEAL
Mansegosa, Daniela A.; Giannotti, P. Sebastián; Chiavazza, Horacio - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )
Antropología e Historia
- “HUACA”, UN CONCEPTO ANDINO MAL ENTENDIDO
Itier, César - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )
- LA TORMENTA PERFECTA QUE ACABÓ CON EL CHANCHO: CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DE LA LIMPIEZA EN LOS ANDES RURALES
Gascón, Jordi - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )
- LOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA Y LOS INSECTOS. UNA VISIÓN COMPARADA ENTRE PUEBLOS SEDENTARIOS Y NÓMADAS DEL ALTO RÍO NEGRO – VAUPÉS
Cabrera Becerra, Gabriel - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )
- TURISMO Y PUEBLOS INDÍGENAS: POLÍTICAS, IRRUPCIÓN Y REIVINDICACIÓN EN CHILE
de la Maza-Cabrera, Francisca; Calfucura-Tapia, Enrique - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )
- LA HABILITACIÓN EN EL ESPACIO PESQUERO- ARTESANAL CHILENO. PERSISTENCIAS Y VARIACIONES ESTRUCTURALES DE LA INTERMEDIACIÓN ECONÓMICA
Saavedra Gallo, Gonzalo; Navarro Pacheco, Magdalena - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )
História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.28, n.3, 2021.
- Shozo Motoyama (1940-2021), várias tradições Carta Da Editora Convidada
- Silva, Márcia Regina Barros da
- Texto: en pt
- PDF: en pt
- Entre a ausência em Alma-Ata e o Prevsaúde:a atenção primária à saúde no ocaso da ditadura Análise
- Pires-Alves, Fernando A.; Paiva, Carlos Henrique Assunção
- Resumo: en pt
- Texto: en pt
- PDF: en pt
- Sobre la llamada revolución psicofarmacológica: el descubrimiento de la clorpromazina y la gestión de la locura Análise
- Caponi, Sandra
- Resumo: en es
- Texto: en es
- PDF: en es
- Conflicto armado, enfermedad y muerte: la cuestión sanitaria en la Guerra de Castas (Yucatán, México), segunda mitad del siglo XIX Análise
- Moreno, Paola Peniche
- Resumo: en es
- Texto: en es
- PDF: en es
- Entre exiliados y nativos: la integración de saberes de españoles y mexicanos para el desarrollo de la neurología en México, 1935-1950 Análise
- Vicencio, Daniel
- Resumo: en es
- Texto: es
- PDF: es
- A construção histórica do conceito de enzima e sua abordagem em livros didáticos de biologia Análise
- Tonolli, Paulo Newton; Franco, Fernando Faria; Silva, Antônio Fernando Gouvêa
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- A Casa da Ciência e os desafios de um centro cultural de divulgação científica na Universidade Federal do Rio de Janeiro Análise
- Simões, Luciane Correia; Santos, Nadja Paraense dos; Oliveira, Antonio José Barbosa de
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- The Presentation of Self in Everyday Life: biografia de um livro Análise
- Nunes, Everardo Duarte
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- “Lições para o professorado”: o curso Educação Sanitária (Higiene e Medicina Preventiva) e a formação da professora na cidade do Rio de Janeiro, 1929-1930 Análise
- Camara, Sônia
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- Uma escola não cercada: experiência rural, medicina social e circulação de material de saúde pública na Colômbia, 1930-1946 Analysis
- Botero-Tovar, Natalia
- Resumo: en pt
- Texto: en
- PDF: en
- A flora da antiga capitania de Porto Seguro na viagem de Wied-Neuwied, 1815-1817: prática científica, inventário naturalista e colaboração indígena Revisão Historiográfica
- Cancela, Francisco
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- Memória das políticas e práticas em redução de danos: entrevista com Fátima Machado Depoimento
- Machado, Fátima; Raupp, Luciane; Weber, Carla Nunes; Conte, Marta
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- O “Boletim da Clínica Psiquiátrica da FMUSP”, 1962-1971: publicação esquecida, retrato de uma época Fontes
- Alarcão, Gustavo Gil; Mota, André
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- Médicos, enfermeras y pacientes: entre las contradicciones, la incertidumbre y las carencias en tiempo de covid-19 en México Testemunhos Covid-19
- Agostoni, Claudia
- Resumo: en es
- Texto: es
- PDF: es
- Las epidemias en La Pampa (Argentina), en perspectiva histórica* Testemunhos Covid-19
- Di Liscia, María Silvia
- Resumo: en es
- Texto: es
- PDF: es
- A interiorização da covid-19 na Amazônia: reflexões sobre o passado e o presente da saúde pública Testemunhos Covid-19
- Muniz, Érico Silva
- Resumo: en pt
- Texto: pt
- PDF: pt
- Covid-19 y gripe de 1918-1919: paralelos históricos, preguntas y respuestas Testemunhos Covid-19
- Porras Gallo, María Isabel
- Resumo: en es
- Texto: es
- PDF: es
- A história das ciências e das técnicas a partir de sua geografia: encontros, desencontros e deslocamentos de saberes Resenhas
- Souza Neto, João Alves de
- Texto: pt
- PDF: pt
- Ciências, intercâmbios e circulação: as conexões entre Brasil e EUA Resenhas
- Rocha, Ana Cristina Santos Matos
- Texto: pt
- PDF: pt
- Nem samba nem futebol: jovens brasileiros gostam mesmo é de ciência e tecnologia Resenhas
- Lusz, Pedro
- Texto: pt
- PDF: pt
- Mujer-madre, raza, patria y otros imperativos del poder Resenhas
- Linares, Luciana Mercedes
- Texto: es
- PDF: es
Madness in Cold War America | Alexander Dunst
Alexander Dunst | Foto: Netherlands American Studies Association
 Alexander Dunst é professor assistente de Estudos Americanos na Universidade de Paderborn, na Alemanha, atuando no Departamento de Inglês da referida instituição. Intitula-se “historiador cultural da América do século XX” com foco de pesquisa sobre o período da Guerra Fria, utilizando como fontes os discursos e as narrativas culturais presentes na literatura e cinema. Em 2010, Alexander Dunst concluiu seu doutorado em Teoria Crítica na Universidade de Nottingham, com a tese intitulada Politics of madness: Crisis as Psychosis in the United States 1950 – 2010, publicada em 2017, por meio da editora Routledge, com o título Madness in Cold War America. Essa obra, composta por 6 capítulos e 173 páginas, está resenhada no presente texto com criticidade a partir da minha leitura. Leia Mais
Alexander Dunst é professor assistente de Estudos Americanos na Universidade de Paderborn, na Alemanha, atuando no Departamento de Inglês da referida instituição. Intitula-se “historiador cultural da América do século XX” com foco de pesquisa sobre o período da Guerra Fria, utilizando como fontes os discursos e as narrativas culturais presentes na literatura e cinema. Em 2010, Alexander Dunst concluiu seu doutorado em Teoria Crítica na Universidade de Nottingham, com a tese intitulada Politics of madness: Crisis as Psychosis in the United States 1950 – 2010, publicada em 2017, por meio da editora Routledge, com o título Madness in Cold War America. Essa obra, composta por 6 capítulos e 173 páginas, está resenhada no presente texto com criticidade a partir da minha leitura. Leia Mais
From Revolution to Power in Brazil: How Radical Leftists Embraced Capitalism and Struggled with Leadership | Kenneth Serbin
Kenneth Serbin | Foto: CUREHD
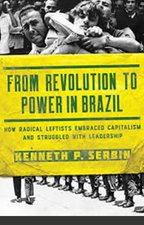 Intensificadas as investidas repressivas do Estado, centenas de brasileiros, cuja maioria ainda na flor da juventude, optou pelas armas na luta contra a ditadura vigente no país (1964-1985). Como não nos é estranho, essa aposta, iniciada com uma série de ações guerrilheiras espaçadas, se seguiria de um punhado de sucessos, mas de uma subsequente onda repressiva e do inevitável desmantelamento dos agrupamentos de esquerda armada poucos anos após o pontapé inicial. Entre as resultantes negativas desse processo, sabe-se que a maior parte de seus quadros vivenciaria a experiência de prisão e o horror das torturas, e uma parcela seria posteriormente listada entre os nomes dos milhares de mortos e “desaparecidos” políticos sob a responsabilidade do Estado brasileiro. Os sobreviventes, porém, reconstituiriam suas vidas tomando cursos distintos. Passadas cinco décadas do mas sacre lançado à oposição de esquerda2 e mais de trinta anos desde o final do regime, mesmo com uma extensa literatura desenvolvida sobre o campo temático3, é certo que algumas questões ainda pairam no ar, inclusive a que indaga sobre o futuro daquela geração de revolucionários. É nesse sentido que se insere From Revolution to Power in Brazil, o mais recente livro de autoria do historiador Kenneth P. Serbin. Leia Mais
Intensificadas as investidas repressivas do Estado, centenas de brasileiros, cuja maioria ainda na flor da juventude, optou pelas armas na luta contra a ditadura vigente no país (1964-1985). Como não nos é estranho, essa aposta, iniciada com uma série de ações guerrilheiras espaçadas, se seguiria de um punhado de sucessos, mas de uma subsequente onda repressiva e do inevitável desmantelamento dos agrupamentos de esquerda armada poucos anos após o pontapé inicial. Entre as resultantes negativas desse processo, sabe-se que a maior parte de seus quadros vivenciaria a experiência de prisão e o horror das torturas, e uma parcela seria posteriormente listada entre os nomes dos milhares de mortos e “desaparecidos” políticos sob a responsabilidade do Estado brasileiro. Os sobreviventes, porém, reconstituiriam suas vidas tomando cursos distintos. Passadas cinco décadas do mas sacre lançado à oposição de esquerda2 e mais de trinta anos desde o final do regime, mesmo com uma extensa literatura desenvolvida sobre o campo temático3, é certo que algumas questões ainda pairam no ar, inclusive a que indaga sobre o futuro daquela geração de revolucionários. É nesse sentido que se insere From Revolution to Power in Brazil, o mais recente livro de autoria do historiador Kenneth P. Serbin. Leia Mais
Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória | Enzo Traverso
Enzo Traverso | Foto: O Globo
 Na história oficial do marxismo, tornou-se comum a celebração dos triunfos conquistados das revoluções socialistas. Ressaltar a dimensão redentora dos seus êxitos, seja de personagens “heroicos” e ou de movimentos “gloriosos”, parecia assegurar a concretização de uma “etapa” previsível, objetiva e petrificada na locomotiva linear do “progresso”.
Na história oficial do marxismo, tornou-se comum a celebração dos triunfos conquistados das revoluções socialistas. Ressaltar a dimensão redentora dos seus êxitos, seja de personagens “heroicos” e ou de movimentos “gloriosos”, parecia assegurar a concretização de uma “etapa” previsível, objetiva e petrificada na locomotiva linear do “progresso”.Uma contrapartida dessa odisseia de vitórias repousa justamente no outro lado da moeda: o prisma das derrotas e seus efeitos políticos e epistemológicos na história do socialismo e do marxismo. Eis aqui a proposta da coletânea de ensaios Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória, de Enzo Traverso (2018), originalmente publicado em francês, em 2016, com edições em inglês, alemão, espanhol e, finalmente, uma cuidadosa edição em português, organizada pela editora ítalo-brasileira Âyiné. Embora seja seu primeiro livro traduzido no Brasil, o autor construiu uma sólida agenda de pesquisa nas últimas três décadas e é considerado um dos maiores especialistas em história política e intelectual contemporânea.
Professor da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, Traverso reconhece a irredutível pluralidade de correntes políticas, tendências estéticas e intelectuais da “cultura de esquerda”, que mescla um conjunto de experiências, ideias e sentimentos. Concentra seus esforços na tradição marxista, apontada como a “expressão dominante dos movimentos mais revolucionários no século XX” (TRAVERSO, 2018, p. 15), sem, com isso, reduzi-la a uma doutrina codificada em textos canônicos. Ao contrário, Melancolia de esquerda apresenta análises sobre uma fascinante galeria de testemunhos (livros e cartas), teorias (políticas e filosóficas) e imagens (filmes, pinturas, cartazes de propaganda política). Esse recorte possibilita uma leitura inquietante, moldada pela riqueza de insights presentes no livro e pelos (novos) horizontes abertos em sua narrativa fluída que, com paixão e simplicidade, consegue despertar “iluminações profanas”. Leia Mais
Direitas nos Estados Unidos e Brasil durante a Guerra Fria | Revista de História | 2021
Guerra Fria – Resumo desenhado | Foto: HISTORIAR-TE
Nas últimas décadas, um fenômeno político tem chamado a atenção de especialistas e estudiosos em geral: o crescimento e as reformulações no campo da direita em países do Ocidente. Recentemente, surpreendeu a muitos o fato de a extrema direita, antes marginalizada, alcançar cena pública ressentida e decididamente, num movimento que soube ganhar adeptos, especialmente pela internet e que consagra líderes ao largo do universo político, cujas ações desacreditam o próprio sistema que os elegeu.
Esse dossiê procura colaborar com o tema, enfatizando as direitas no plural, já que o fenômeno é suficientemente complexo para ser tratado como substantivo singular. Versa sobre as direitas no correr da Guerra Fria. Expõe as renovações sofridas no campo, para recuperar terreno, na época do welfare, oferecendo elementos para pensarmos as direitas no século XXI. O dossiê aborda o tema nos Estados Unidos e Brasil, países que viram presidentes vinculados à extrema direita serem eleitos e manterem expressivo apoio, apesar das vicissitudes e medidas polêmicas: Donald Trump (2017-2021) e Jair Messias Bolsonaro (2019- ). Leia Mais
Eterna vigilância: como montei e desvendei o maior sistema de espionagem do mundo | Edward Snowden
Eterna Vigilância, escrito por Edward Snowden, é um livro autobiográfico que narra o percurso que levou o ex-agente da Agência Central de Inteligência (CIA) e da Agência Nacional de Segurança (NSA) americanas a se transformar num dos mais emblemáticos whistleblowers do século XXI. Lançado em 2019, manteve-se durante semanas como um dos mais vendidos em diversos países, impulsionado pelo próprio governo americano ao anunciar que seria recolhido na tentativa de impedir a divulgação de dados sigilosos. Todavia, o livro não apresenta revelações que já não tenham sido publicadas pela imprensa. A grande novidade da obra em si é o esforço para ordenar e justificar, na forma autobiográfica, as ações de Snowden ao longo de uma trajetória de vida. Leia Mais
A “virada global” como um futuro disciplinar para a História da Arte | MODOS. Revista de História da Arte | 2021
Nos últimos 15 anos, a “virada global” tem sido um fator importante para a transformação da disciplina de História da Arte. A abertura do campo impulsionou pesquisas que desafiaram sua versão canônica, marcada por nacionalismos, estilos, modelos binários e a divisão da própria disciplina (Nelson, 1997). Com a crítica aos conceitos tradicionais, os historiadores da arte passaram a incluir novos objetos, como os artefatos e cultura visual não-europeus que dificilmente ingressavam as fileiras de estudos. Da mesma forma, os pesquisadores se voltaram para realizações artísticas ocidentais, enfocando nas conexões e nas complexidades geradas pelas interações culturais.
A tradicional taxonomia da arte – como antiga, medieval, renascentista, moderna, cristã, islâmica, budista, africana e etc – abriu espaço para a constituição de outras unidades de investigação “mais responsivas à lógica de objetos e artistas em movimento” (Tatsch, 2020). As respostas acadêmicas para os novos questionamentos partiram da transdisciplinaridade e da transculturalidade. A primeira permitiu repensar as estruturas disciplinares existentes ao tomar emprestado análises de outros campos, como a antropologia, a história e a etnologia. Fomentou, assim, o conhecimento além das fronteiras estabelecidas – ao burlar as limitações disciplinares e as hierarquias entre elas – e estabeleceu novas formas de conhecimento. A transculturalidade permitiu perceber os “processos de transformação que constituem a prática da arte por meio de encontros e relações culturais” (Juneja, 2011: 281). Como salientou Espagne, “toda passagem de um objeto cultural de um contexto a outro tem por consequência uma transformação de seu sentido, uma dinâmica de ressemantização” (Espagne, 2013: 1). Leia Mais
Resenha Crítica. Aracaju & Crato, v.1, n.6, 01 set. 2021.
Orla Pôr do Sol | Mosqueiro/Aracaju – SE
Colegas,
Chegamos à sexta edição* do informativo Resenha Crítica, comemorando o arrefecimento da pandemia de Covid-19 em vários estados brasileiros. Em contrapartida, iniciamos o mês de setembro apreensivos com os ataques ao Estado democrático de direito, anunciados pelos ultraconservadores para as comemorações do dia da Independência.
Também por esse contexto, destacamos a leitura da resenha do Capital e Ideologia, de Thomas Piketty, escrita por Leonardo Weller e publicada na Revista de Economia Política e História Econômica.
Entre os dossiês de artigo, sugerimos a leitura das exposições sobre a relação “Pensamento decolonial” e “Ensino de História” e as inquietações a respeito do estatuto disciplinar da História, escritos, respectivamente, por Elison Paim, Helena Maria M. Araújo (Revista Intellèctus), Lidiane Rodrigues, María Inés Mudrovcic e Alexandre Avelar (Revista História e Historiografia).
Nesse período de 01 a 31 de agosto, nosso acervo se ampliou nos dois suportes principais. Hoje, totalizamos 3.731 resenhas, 2.318 apresentações de dossiês.
No mesmo período, incorporamos 15 periódicos, incluindo uma coleção de revistas focadas em Educação a Distância, e divulgamos os sumários de 16 títulos. Isso significa que os índices de objetos de dossiê e de objetos de resenha estão um pouco mais ricos. Fiquem à vontade para consultá-los.
Saúde e trabalho para todos nós!
Itamar Freitas e Jane Semeão (Editores)
(*) Para receber a listagem de todas as nossas publicações, mensalmente e sem custos, faça o seu cadastro aqui.
Resenhas
- História pública e ensino de história | Miriam Hermeto e Rodrigo de Almeida Ferreira
31 de agosto de 2021
- Que história pública queremos? What Public History do we want? | Ana Maria Mauad e Ricardo Santhiago
31 de agosto de 2021
- Capital e Ideologia | Thomas Piketty
31 de agosto de 2021
- As ações de liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no período entre 1871 e 1888 | Carlos Henrique Antunes da Silva
30 de agosto de 2021
- The War on Sugar: forced labor, commodity production and the origins of the Haitian peasantry, 1791-1843 | Johnhanry Gonzalez
30 de agosto de 2021
- La prensa de Montevideo, 1814-1825 | Wilson González Demuro
30 de agosto de 2021
- Correio Para Mulheres | Clarice Lispector
21 de agosto de 2021
- Linguística Aplicada na modernidade recente | Luiz Paulo da Moita Lopes || Transdisciplinaridade na linguística aplicada: um processo de desterritorialização – um movimento do terceiro espaço | SCHEIFER, Camila Lawson Sheifer
21 de agosto de 2021
- Telecolaboração, ensino de línguas e formação de professores: demandas do século XXI | Fábio M. de Souza, Lelly C. H. P. Carvalho e Rozana A. L. Messias
21 de agosto de 2021
- Gêneros Textuais: Mediadores no ensino e aprendizagem de línguas | Ana Silvia Moço Aparicio e Silvio Ribeiro da Silva
21 de agosto de 2021
- Análise de Discurso Crítica e Comunicação: percursos teórico e pragmático de discurso, mídia e política | Laerte Magalhães
21 de agosto de 2021
- Preconceito Linguístico | Marcos Bagno
21 de agosto de 2021
- Refugiados | Joaquim Branco
21 de agosto de 2021
- Changó, el Gran Putas | Manuel Zapata Olivella
21 de agosto de 2021
- Ruptura dos gêneros na literatura latino-americana | Haroldo de Campos
21 de agosto de 2021
- Luz, Câmera e História: práticas de ensino com o cinema | Rodrigo de Almeida Ferreira
17 de agosto de 2021
- Histórias do vestir masculino: narrativas de moda, beleza e elegância | Guilherme Ivana Simili e Maria Cláudia Bonadio
16 de agosto de 2021
- História da Imprensa em Imperatriz – MA: 1930-2010 | Thays Assunção
11 de agosto de 2021
- La Escuela en tiempos de migración: la voz de los actores educativos | D. Castillo, E. Thayer, R. Santa Cruz e C. Gajardo
10 de agosto de 2021
- No rendilhado do cotidiano: a família dos libertos e seus descendentes em Minas Gerais (C. 1770 – C. 1850) | Sirleia Maria Arantes
5 de agosto de 2021
- El mundo relacional de Juan Manuel de Rosas: un análisis del poder a través de vínculos y redes interpersonales | Andrea Reguera
2 de agosto de 2021
- Gênese da Saúde Global: a Fundação Rockefeller no Caribe e na América Latina | Steven Palmer
1 de agosto de 2021
- Oliveira Lima e a longa História da Independência | André Heráclio do Rêgo, Lucia Maria Bastos P. Neves e Lucia Maria Paschoal Guimarães
1 de agosto de 2021
- Before the Flood: The Itaipu Dam and the Visibility of Rural Brazil | Jacob Blanc
1 de agosto de 2021
- Os Barões do Charque e suas fortunas. Um estudo sobre as elites regionais brasileiras a partir de uma análise dos charqueadores de Pelotas (Rio Grande do Sul, século XIX) | Jonas Vargas
1 de agosto de 2021
- As marcas da pantera: percursos de uma historiadora | Margareth Rago
1 de agosto de 2021
Dossiês
Sumários
Periódicos recentemente incorporados ao acervo
Conheça a totalidade do acervo
Para adequado uso do espaço na página inicial deste blog, destacamos apenas algumas resenhas, dossiês, sumários e apresentações de periódicos recentemente incorporados ao acervo em cada edição mensal do Resenha Crítica.
A quantidade de textos, porém, se altera à medida que incorporamos novos periódicos, retroativamente, aos nossos bancos de dados.
Para conhecer a totalidade das aquisições de resenhas, apresentações de dossiês e sumários, publicados originalmente no período 1839-2021, utilize os filtros da barra lateral.
Resenha Crítica. Aracaju & Crato, v.1, n.6, 01 set. 2021.
ISSN: 2764-0302
Secuencia. México, n.111, septiembre/diciemre, 2021.
Artículos
- RTC, más que crimen organizado, cárteles o narcotráfico
- Jorge Alejandro Vázquez Valdez
- PDF HTML EBOOK
- Un caudillo departamental: el jefe político en Córdoba, Argentina (1912-1930)
- Loreta Ruth Giannone
- PDF HTML EBOOK
- La comunidad ferroviaria de Laguna Paiva frente a las políticas desarrollistas. Argentina, 1961
- Luisina Agostini
- PDF HTML EBOOK
- La política económica de Venustiano Carranza a debate: el Congreso de Industriales de 1917
- Yovana Celaya Nández
- PDF HTML EBOOK
- Entre acordadas y gendarmes. La organización de la policía rural en Jalisco durante el siglo XIX
- Miguel Ángel Isais Contreras
- PDF HTML EBOOK
- Cuestión social, problema social y justicia social en el pensamiento social mexicano (1840-1960)
- Jesús Ramos Reyes
- PDF HTML EBOOK
- Estudio exploratorio sobre eficiencia energética a empresas del Área Metropolitana de Monterrey
- José Raúl Luyando Cuevas, María Florencia Zabaloy, Carina Guzowski, Elías Alvarado Lagunas
- PDF HTML EBOOK
- La obediencia como divisa. A propósito de un sermón manuscrito sobre la jura de Agustín I en Zacatecas
- Josep Escrig Rosa
- PDF HTML EBOOK
- Articulaciones transfronterizas de la violencia: relatos femeninos en la Triple Frontera del Paraná
- Menara Guizardi, Eleonora López Contreras, Felipe Ignacio Andrés Valdebenito Tamborino
- PDF HTML EBOOK
- La fundación de Estados Unidos y el ocaso del pensamiento político clásico
- David Corcho Hernández
- PDF HTML EBOOK
Dossier
- La guerra fría en América Latina y los estudios transnacionales. Introducción
- Julieta Rostica, Laura Sala
- PDF HTML EBOOK
- “Soñadores y quijotes”: la faceta internacional del proyecto revolucionario guatemalteco (1944-1951)
- Rodrigo Véliz Estrada
- PDF HTML EBOOK
- La guerra fría desde la frontera México-Estados Unidos: entre codependencias y relaciones asimétricas, 1945-1975
- Marco Antonio Samaniego López
- PDF HTML EBOOK
- La guerra fría cultural en el Tercer Mundo: el Congreso por la Libertad de la Cultura en México e India
- Daniel Kent Carrasco
- PDF HTML EBOOK
- La guerra fría, la seguridad nacional y el Estado militar en Sudamérica (1959-1980)
- Pedro Rivas-Nieto, Pablo Rey-García, Nadia McGowan
- PDF HTML EBOOK
- Las ideas externas en las doctrinas militares latinoamericanas de la guerra fría
- Laura Yanina Sala
- PDF HTML EBOOK
- Neomalthusianismo, guerra fría y redes evangélicas transnacionales en la guerra contra el hambre, Chile (1960-1970)
- Javier Castro Arcos
- PDF HTML EBOOK
- La aventura tercermundista del cine mexicano. Producción fílmica y diplomacia latinoamericana, 1971-1976
- Israel Rodríguez Rodríguez
- PDF HTML EBOOK
- Entre el pragmatismo y el consenso: los vínculos del gobierno cubano y la última dictadura argentina (1976-1983)
- Alberto Consuegra Sanfiel
- PDF HTML EBOOK
- La colaboración y coordinación de la represión de la disidencia política entre Argentina y Honduras: avances de investigación (1979-1983)
- Julieta Rostica
- PDF HTML EBOOK
Pensamentos Geográficos Africanos e Indígenas | Kwanissa | 2021
Os municípios chapadeiros com maior número de comunidades quilombolas são Bonito, com 15, Mulungu do Morro, com 12, e Cafarnaum, com 10 | Foto: Reprodução/Aratu Online
Nomeamos este número especial como “Pensamentos Geográficos Africanos e Indígenas”. O título pode provocar diferentes deslocamentos. Afinal, para muitos, ele pode configurar uma combinação de palavras de sentido opostos que se anulam entre si. Isso porque, na tradição ocidental, “pensamento” está estritamente vinculado a uma dada forma específica de elaboração do conhecimento, que, por muito tempo fora atribuída como sendo uma invenção específica do Ocidente.
As linhas argumentativas pelas quais fazemos objeções a tal pressuposto estão sistematizadas nos artigos e no relato de experiência, presentes neste dossiê especial da Revista Kwanissa – Revista de Estudos Africanos e Afro-brasileiros. No título, qualificamos de forma distintas dois tipos de pensamentos: africanos e indígenas. Este seria um outro deslocamento: assumir sua pluralidade, desfocando-o do monismo que marcou um certo momento da elaboração moderna da Razão. No título, há também o qualificativo “Geográficos” para tais pensamentos, embora esta não seja uma revista especializada em Geografia. Afinal, por que propusemos este número especial para seus(as) editores(as) e, por que eles(as) o aceitaram com entusiasmo? Vamos oferecer, de forma breve, duas linhas complementares para responder. Uma que mostra como o geográfico está no fundo do temário da Kwanissa, e outra que expressa o temário da Kwanissa em nosso trabalho na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e nas articulações que nos trouxeram aqui. Leia Mais
La guerra fría en América Latina y los estudios transnacionales | Secuencia | 2021
Desde hace varios años atrás, las coordinadoras de este dossier encabezamos diferentes espacios de reflexión, investigación y docencia en ciencias sociales sobre la sociología histórica de América Latina, en los que, tradicionalmente, la guerra fría no se pensó como un problema. Las ciencias sociales analizaron procesos sociohistóricos como el colonialismo, la dependencia, el imperialismo, el desarrollo, las revoluciones y los populismos, como las dictaduras y las democracias, por ejemplo, pero no la guerra fría latinoamericana. Esta fue, más bien, un campo de la historia que, al demandar periodizaciones más largas y trascender el caso nacional, colisionó con una cierta tendencia de la disciplina a la especificidad, al relato, al detalle y a la escasa generalización. Por dichos motivos, a partir del año 2019 decidimos abrir un espacio de discusión en las Jornadas de Sociología y en las Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el cual pensar a América Latina como objeto de estudio, la especificidad de esos procesos sociohistóricos mencionados y su relación con el extenso y complejo conflicto que caracterizó a la guerra fría. Se trata de una invitación al diálogo entre las diferentes producciones de las ciencias sociales y la historia en una dirección inversa a la hegemónica: pensar primero América Latina y, desde ahí, la guerra fría. De dichas experiencias nació la intención de convocar a este dossier, el cual, finalmente, reúne artículos producidos por historiadores, pero también por cientistas sociales, con la vocación de transcender el espacio local e incluso la comparación de casos nacionales y abordar las llamadas “zonas de contacto”, zonas en las que se traslucieron los encuentros internacionales más intensos y confluyeron aparatos estatales, elites locales, grupos económicos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
La guerra fría es uno de los conflictos sociohistóricos más importantes del siglo xx que permite dar inteligibilidad, compresión y explicación a una gran variedad de problemas y fenómenos sociales, políticos y culturales, tanto del pasado como del presente. El campo de estudios sobre la guerra fría cuenta con un vasto desarrollo que tradicionalmente ha privilegiado los análisis del accionar de las superpotencias sobre el “Tercer Mundo”, desde sus propios archivos y prominente bibliografía. Las perspectivas actuales, por el contrario, sin negar el colonialismo, el imperialismo y las relaciones de dependencia que se mantuvieron con Estados Unidos y la Unión Soviética, destacan los espacios de autonomía relativa y de negociación de las actoras y los actores latinoamericanos, los procesos internos regionales y nacionales, así como las condiciones estructurales en las que estos tuvieron lugar. Por esa misma lógica se aboga por la perspectiva “transnacional” en detrimento de la perspectiva “centrípeta” que “establece una jerarquía analítica según la cual los países de la región sólo pueden ser vistos como actores periféricos” que recibieron el impacto de las dos superpotencias (Armony, 2004, p. 348). Esto colabora a “descentrar” el análisis bipolar. Leia Mais
Aquela água toda | João Anzanello Carrascoza
Durante os processos de leitura e estudo do doutorado1, encantei-me com a literatura do escritor João Anzanello Carrascoza. E em consonância com o encantamento, o desejo de compartilhar com outras pessoas as delicadezas de suas narrativas aconteceu quase naturalmente. Como um rio querendo desaguar, como o autor mesmo conta em suas prosas sobre a vida.
Inicialmente escrevi sobre Aos 7 e aos 40, um belíssimo livro relançado em 2018 e que foi muito importante na definição de caminhos de minha pesquisa, que buscou, entre outras reflexões, afirmar a importância da vida na escola e como a vida reluz nos encontros escolares em muitas linguagens diversas, especialmente nos textos escritos dos estudantes. No livro, percebi o belo encontro de tempos que dançam em nossas subjetividades, nos compondo e recompondo nas estações da vida. É um brilho que reluz nas menores coisas. Leia Mais
A Emergência da Escola | José Gonçalves Gondra
Na apresentação escrita por Diana Gonçalves Vidal, a autora descreve de uma maneira muito bonita qual o objetivo do livro, em suas palavras: “(…) Os temas se interpenetram e a leitura do conjunto se beneficia da mútua inteligibilidade que os estudos produzem, ao lançarem uns sobre os outros, centelhas de entendimento, circunscritas sempre ao período gerado pela intervenção de Couto Ferraz no Município da Corte” (VIDAL, 2018, p. 9). A obra sobre a qual a autora se refere intitula-se “A Emergência da Escola”, escrita e organizada por José G. Gondra, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e, atualmente, bolsista 1B de produtividade em pesquisa CNPq. Além desta obra, José Gondra escreveu pela mesma editora produções como: Educação, Poder e Sociedade no Império Brasileiro, em parceria com Alessandra Schueler e, pela editora EDUERJ, publicou Artes de civilizar: medicina, higiene e educação escolar na Corte Imperial.
Gondra organizou este livro em cinco capítulos, os quais foram escritos em parceria com seus orientandos. As análises desenvolvidas para a escrita do livro foram praticamente todas baseadas na noção de governo de Michel Foucault, como é possível perceber no título de cada capítulo da obra. Leia Mais
Trilhas, roteiros e legendas de uma cidade chamada Duque de Caxias: memórias e representações de Francisco Barboza Leite (1950- 1990) | Tania Maria da Silva Amaro de Almeida
Vou falar de uma cidade da Baixada Fluminense que ganhou notoriedade que ao meu sentir não convence – é preciso que se repense o que ela foi dito em tanto papel mal escrito que a imprensa divulgava e, de tal modo criava a noção falsa de um mito
A cidade é muito nova mas cresceu muito depressa digo e ofereço a prova que é o que me interessa para quem o valor meça de uma terra em expansão formada sem previsão guiada só pelo senso de um proveito assaz imenso fruto espontâneo do chão.
(LEITE, 1975)
Duque de Caxias, retratado no cordel de Francisco Barboza Leite (1975), é considerado um dos principais municípios que compõem a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, e que, durante muito tempo, “ganhou notoriedade”, devido à imagem de violência presente nas manchetes de jornais. No entanto, para muitos, como no caso do poeta, a cidade possui outras características, muitas qualidades. O município de Duque de Caxias se constituiu administrativamente desvinculado de Nova Iguaçu em 1943, quando o então 8º Distrito de Nova Iguaçu, sob a denominação de Caxias, teria adquirido autonomia, com São João de Meriti, Xerém e Estrela, e se tornado o município de Duque de Caxias. Particularmente, nos anos 1950 e 1960, a partir da expansão demográfica da região metropolitana do município do Rio de Janeiro, foi crescente o volume de ocupações de terras e de venda de loteamentos na Baixada Fluminense1. Tais acontecimentos renderam registros na imprensa sobre as lutas por terra, com destaque para as ações de violência no território. Tanto o cordel de Barboza Leite (1975) quanto a historiografia sobre a Baixada Fluminense se inserem no esforço de pesquisar, escrever, registrar e valorizar a memória e a história na região, ao proporem outras leituras ou novas problematizações sobre o seu passado. Leia Mais
Centenário da Escola Regional de Merity | Linhas | 2021
São mitos de calendário tanto o ontem como o agora, e o teu aniversário é um nascer a toda hora. (Carlos Drummond de Andrade)
O calendário na parede anuncia que estamos em 2021. Objeto cultural inventado para assinalar a passagem do tempo derivado da necessidade de controlar os dias e as noites, o plantio e a colheita, a chuva e a seca, o trabalho e o descanso, destaca, em meio às mudanças de estações, feriados consagrados aos santos e às efemérides nacionais. Assim, no eterno recomeçar das semanas pelos meses do ano, “grandes homens” e “heróis” são lembrados e reverenciados. Uns clamam por orações. Outros por demonstrações de patriotismo.
Atentas à origem etimológica de calendário que vem do “grego kalein, que significa chamar em voz alta, convocar”1, chamamos e somos chamadas a celebrar algo que não está em nenhuma agenda, almanaque ou folhinha. Trata-se do centenário da Escola Regional de Merity, que poderia passar despercebido em meio às homenagens realizadas pelo centenário de nascimento de Paulo Freire, nosso patrono da educação. Leia Mais
Civilização, tronco de escravos | Maria Lacerda de Moura e Patrícia Lessa e Cláudia Maia
Maria Lacerda de Moura | Arte: Andreia Freire/Reprodução/Revista Cult
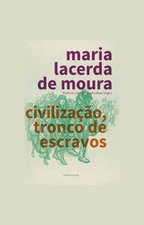 Chamamos de visionárias e dizemos que estavam à frente de seu tempo àquelas que, atentas às questões da sua época, teciam críticas que nos servem dezenas ou mesmo centenas de anos depois. Entretanto, trata-se, muitas vezes, de pessoas que souberam analisar tão bem o presente que nele captaram as centelhas que acendem outros fogos no futuro. Assim é a obra de Maria Lacerda de Moura (1887-1945) e é assim que recebemos a nova edição lançada pela editora Entremares da obra Civilização, Tronco de Escravos, organizada pelas pesquisadoras e professoras Patrícia Lessa e Cláudia Maia, ambas historiadoras com amplas pesquisas relacionadas às lutas das mulheres e com trabalhos já desenvolvidos sobre a anarquista brasileira.
Chamamos de visionárias e dizemos que estavam à frente de seu tempo àquelas que, atentas às questões da sua época, teciam críticas que nos servem dezenas ou mesmo centenas de anos depois. Entretanto, trata-se, muitas vezes, de pessoas que souberam analisar tão bem o presente que nele captaram as centelhas que acendem outros fogos no futuro. Assim é a obra de Maria Lacerda de Moura (1887-1945) e é assim que recebemos a nova edição lançada pela editora Entremares da obra Civilização, Tronco de Escravos, organizada pelas pesquisadoras e professoras Patrícia Lessa e Cláudia Maia, ambas historiadoras com amplas pesquisas relacionadas às lutas das mulheres e com trabalhos já desenvolvidos sobre a anarquista brasileira.
A editora Entremares, cuja trajetória se iniciou no ano de 2017, não é uma editora que circula em grandes livrarias, e tem feito um ótimo trabalho de resgate de obras do passado ao passo que também traz publicações recentes de autores libertários. Civilização, tronco de escravos é a segunda obra de Maria Lacerda de Moura lançada pela editora, que também já publicou uma nova edição de Fascismo: filho dileto da Igreja e do Capital (2018) e recentemente lançou a obra Amor & Libertação em Maria Lacerda de Moura (2020), de Patrícia Lessa. Civilização… integra a Coleção Astrolábio da editora, que tem como objetivo trazer a filosofia e o pensamento crítico como instrumentos para navegar na busca de “outros olhares, outra moral, outros horizontes”. Leia Mais
História e Saúde: as interfaces entre a ação pública, as iniciativas da Sociedade Civil e as inovações tecnológicas | Caminhos da História | 2021
Atenção primária à saúde em Paraisópolis | Design: Ana Paula de Lima – UFSCAR
A reflexão sócio-histórica sobre a saúde, em seus múltiplos aspectos, está diretamente relacionada à ampliação da agenda histórica experenciada desde fins do século XX, que contribuiu para a incorporação de novos temas e perspectivas de abordagem. Com a ampliação do universo da investigação histórica nas análises sobre saúde, é possível observar um movimento de inserção das dinâmicas locais e regionais aos circuitos nacionais e globais, o que refletiu na incorporação de espacialidades, atores e temáticas. A história das ações e políticas em saúde nos últimos anos, no âmbito das renovações historiográficas, incorporou diferentes tipologias de fontes históricas, impulsionando a percepção dos mais variados sujeitos imersos nesses processos e uma ampliação da análise das experiências de adoecimento e das políticas em saúde, fomentando o debate com diferentes campos do conhecimento, como a sociologia, a demografia, a saúde coletiva e a ciência política.
Nesse percurso, a perspectiva histórica vem trazendo inegáveis contribuições para o campo da saúde. A compreensão dos processos históricos no domínio da saúde e das doenças, pensado como um campo de saberes e práticas interdisciplinares, possibilita uma postura crítica acerca dos diversos elementos que compõem esses domínios, como crenças, saberes, práticas, arranjos institucionais, concepções políticas, culturais e as teias de relações que envolvem a construção de aparatos de atenção e cuidados com a saúde (PERDIGUERO, et. al., 2001). A pesquisa histórica possibilita ainda a reflexão sobre ações contemporâneas no campo da saúde, através da identificação de padrões, permanências e rupturas em diferentes realidades e compreensões contextualizadas aos âmbitos social, político e econômico, permitindo lidar com complexidades, analisando movimentos e tendências culturais (BERRIDGE, 2000; FEE and BROWN, 1997). Leia Mais
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi – Ciências Humanas. Belém, v.13, n.1, 2018 / v.16, n.3, 2021.
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 13, Número: 1, Publicado: 2018
- · Para além de Santarém: os vasos de gargalo na bacia do rio Trombetas ARTIGOS
- Alves, Marcony Lopes
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · As mulheres novo-hispanas do Convento da Encarnação (Cidade do México) por meio das suas contas de vidro ARTIGOS
- Torres, Andreia Martins
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Os processos da paisagem pastoril: caracterizando lugar e movimento ARTIGOS
- Acha, Milena
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A cosmografia Munduruku em movimento: saúde, território e estratégias de sobrevivência na Amazônia brasileira ARTIGOS
- Scopel, Daniel; Dias-Scopel, Raquel; Langdon, Esther Jean
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Festas de santo, território e alianças políticas entre comunidades quilombolas de Salvaterra, Marajó, Pará, Brasil ARTIGOS
- Lima Filho, Petrônio Medeiros; Cardoso, Luis Fernando Cardoso e; Alencar, Edna
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Ciclos econômicos do extrativismo na Amazônia na visão dos viajantes naturalistas ARTIGOS
- Gomes, Carlos Valério Aguiar
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Pioneiros e fazendeiros de São Paulo: a história ambiental e a obra de Pierre Monbeig ARTIGOS
- Mahl, Marcelo Lapuente
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O incentivo à pesca comercial de Arapaima gigas (pirarucu) do rio Araguaia (Brasil central) na revista “A Informação Goyana” (1917-1935) ARTIGOS
- Vital, André Vasques; Tejerina-Garro, Francisco Leonardo
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O sertão virou rio e o rio virou sertão: um cineasta alemão e o Cinema Novo brasileiro ARTIGOS
- Reis, Renan Nascimento
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A primeira codificação gramatical da Cortesia do japonês (século XVII) ARTIGOS
- Fernandes, Gonçalo; Assunção, Carlos
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Resultados preliminares da pesquisa no sambaqui sob rocha Casa de Pedra, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil Nota de Pesquisa
- Bandeira, Dione da Rocha; Alves, Maria Cristina; Almeida, Graciele Tules de; Sá, Júlio Cesar de; Ferreira, Jéssica; Vieira, Celso Voos; Amaral, Vitor Marilone Cidral da Costa do; Bartz, Magda Carrion; Melo Jr., João Carlos Ferreira de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · ERRATA ERRATA
- Texto: PT
- PDF: PT
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 13, Número: 2, Publicado: 2018
- · Produção e cultura CARTA DA EDITORA
- Beltrão, Jimena Felipe
- Texto: PT
- PDF: PT
- · ‘Passaporte para a floresta’: a regulação do extrativismo de balata na Floresta Estadual do Paru, estado do Pará, Brasil ARTIGOS
- Carvalho, Luciana Gonçalves de; Souza, Brenda Rúbia Gonçalves; Cunha, Ana Paula Araújo
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Las estaciones sarrapieras: los Mapoyo y las economías extractivas del Orinoco Medio, Venezuela Artigos
- Torrealba, Gabriel; Scaramelli, Franz G.
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Conhecimento ecológico tradicional da ictiofauna pelos quilombolas no Alto Guaporé, Mato Grosso, Amazônia meridional, Brasil Artigos
- Arruda, Joari Costa de; Silva, Carolina Joana da; Sander, Nilo Leal; Pulido, María Teresa
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Paisagens e temporalidades em Serra Leste de Carajás Artigos
- Silva, Tallyta Suenny Araujo da
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Padrões de distribuição espacial e modelos preditivos: os sítios arqueológicos no baixo curso dos rios Nhamundá e Trombetas Artigos
- Fonseca, João Aires da
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Sujeito dativo em Canela Artigos
- Alves, Flávia de Castro
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Fonologia histórica do Paunaka (Aruaque) Artigos
- Carvalho, Fernando O. de
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · A carnavalização do museu e as peripécias de Mamãe: considerações em torno de objetos museológicos, de performances culturais e de espaço urbano Artigos
- Oliveira, Vânia Dolores Estevam de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Caracterización de los depósitos secundarios de rodados fluviales del río Uruguay inferior: su aplicación en contextos arqueológicos de las llanuras interiores del nordeste argentino NOTA DE PESQUISA
- Apolinaire, Eduardo
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Da conquista à resistência Kaiowa: uma história de luta e de crença no bem viver RESENHA
- Arruda, Lucybeth
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Hugues de Varine, singular e plural: memórias sobre museologias comunitárias RESENHAS
- Britto, Clovis Carvalho; Santos Júnior, Roberto Fernandes dos
- Texto: PT
- PDF: PT
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 13, Número: 3, Publicado: 2018
- · Territórios e espaços simbólicos CARTA DA EDITORA
- Beltrão, Jimena Felipe
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Visões do tabaco: desenhos xamânicos dos índios Wauja ARTICLES
- Barcelos Neto, Aristoteles
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Licenciamento ambiental de grandes empreendimentos: quais os limites para avaliação de impactos diretos e indiretos em saúde? Estudo de caso na Terra Indígena Wajãpi, Amapá ARTICLE
- Moreno, Eduardo Stramandinoli; Oliveira, Joana Cabral; Shimabukur, Paloma Helena Fernandes; Carvalho, Luciana
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Territorios y fronteras: procesos de apropiación del espacio simbólico y geográfico en las comunidades indígenas de Pampa del Indio, Chaco ARTICLE
- Castilla, Malena Inés
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Cauim: entre comida e ebriedade ARTICLE
- Barghini, Alessandro
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Os primeiros povoadores do litoral norte do Espírito Santo: uma nova abordagem na arqueologia de sambaquis capixabas ARTICLE
- Villagran, Ximena Suarez; Pessenda, Luiz Carlos Ruiz; Costa, Henrique Antônio Valadares; Atorre, Tiago; Erler, Igor da Silva; Strauss, André; Barioni, Alberto; Klökler, Daniela; Tognoli, Anderson; Duarte, Carlos; Bonfim, Paulo Vinicius; Macario, Kita
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Entre ‘estruturas e pontas’: o contexto arqueológico do Alto Vale do Itajaí do Sul e o povoamento do Brasil meridional ARTICLE
- Reis, Lucas Bond; Almeida, Fernando Silva de; Bueno, Lucas Reis
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Uma deposição funerária Guarani no alto rio Uruguai, Santa Catarina: escavação e obtenção de dados dos perfis funerário e biológico ARTICLE
- Carbonera, Mirian; Silva, Sérgio Francisco Serafim Monteiro da; Lourdeau, Antoine; Herberts, Ana Lucia; Kuczkovski, Francieli; Hatté, Christine; Fontugne, Michel; Onghero, André Luiz; Brizola, Jéssica Pedroso; Santos, Marcos César Pereira
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Considerações sobre a posse nominal em Apurinã (Aruák) Article
- Freitas, Marília Fernanda Pereira de; Facundes, Sidney da Silva
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O botânico João Barbosa Rodrigues no vale do Amazonas: explorando o rio Capim (1874-1875) ARTICLE
- Ximenes, Cláudio L. M.; Coelho, Alan Watrin
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · ‘Um vasto celeiro’: representações da natureza no processo de colonização do oeste catarinense (1916-1950) ARTIGO
- Radin, José Carlos; Silva, Claiton Marcio da
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Estela Campos e os momentos iniciais do abstracionismo no Pará (1957-1959): hipóteses sobre invisibilidades na história da arte ARTIGO
- Costa, Gil Vieira
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Outra ciência? Conhecimento, experimentos coletivos e avaliações RESENHA
- Sartori, Lecy
- Texto: PT
- PDF: PT
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 14, Número: 1, Publicado: 2019
- · Línguas indígenas: patrimônio e conhecimento CARTA DA EDITORA
- Voort, Hein van der; Beltrão, Jimena Felipe
- Texto: PT
- PDF: PT
- · DOSSIER “NEW PERSPECTIVES ON KINSHIP TERMINOLOGY IN TUPIAN AND CARIBAN LANGUAGES” DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”
- Birchall, Joshua; Jordan, Fiona M.
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Terminologias de parentesco dos grupos da família linguística Mondé DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”
- Felzke, Lediane Fani; Moore, Denny
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Termos de parentesco nas línguas Tuparí (família Tupí) DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”
- Nogueira, Antônia Fernanda Souza; Galucio, Ana Vilacy; Soares-Pinto, Nicole; Singerman, Adam Roth
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Reestruturação dos termos de parentesco Proto-Omagua-Kukama DOSSIER “NEW PERSPECTIVES ON KINSHIP TERMINOLOGY IN TUPIAN AND CARIBAN LANGUAGES”
- O’Hagan, Zachary
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Nota sobre o sistema de parentesco em Proto-Tupí-Guaraní DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”
- Birchall, Joshua; Oliveira, Luis Henrique; Jordan, Fiona M.
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Termos de parentesco: primeiras reconstruções em Proto-Arara-Ikpeng DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”
- Ferreira-Alves, Ana Carolina; Chagas, Angela Fabíola Alves; Barbosa, Leonard Jéferson Grala
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Termos de parentesco em Karitiana e como eles podem contribuir para a reconstrução da terminologia de parentesco em Proto-Tupi DOSSIER “NEW PERSPECTIVES ON KINSHIP TERMINOLOGY IN TUPIAN AND CARIBAN LANGUAGES”
- Storto, Luciana
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Kin on the Wing: padrões de residência, mobilidade e aliança no grupo de caçadores-coletores Achê DOSSIER “NEW PERSPECTIVES ON KINSHIP TERMINOLOGY IN TUPIAN AND CARIBAN LANGUAGES”
- Thompson, Warren
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Notas sobre duas terminologias de parentesco Caribe no norte amazônico: Katwena-Tunayana e Waiwai DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”
- Valentino, Leonor
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A economia invisível do babaçu e sua importância para meios de vida em comunidades agroextrativistas ARTIGOS
- Porro, Roberto
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Patrimônios indígenas nos 80 anos do Museu das Missões: etno-história e etnomuseologia aplicada à imaginária missional ARTIGOS
- Baptista, Jean; Boita, Tony
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Terra Preta de Índio em várzeas eutróficas do rio Solimões, Brasil: um exemplo da não intencionalidade na formação de solos antrópicos na Amazônia Central ARTICLES
- Macedo, Rodrigo Santana; Teixeira, Wenceslau Geraldes; Lima, Hedinaldo Narciso; Souza, Adriana Costa Gil de; Silva, Francisco Weliton Rocha; Encinas, Omar Cubas; Neves, Eduardo Góes
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 14, Número: 2, Publicado: 2019
- · Caminhos do conhecimento e da ciência aberta CARTA DA EDITORA
- Beltrão, Jimena Felipe
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O papel da arqueologia brasileira na discussão sobre os cenários e os processos das primeiras ocupações humanas das Américas DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA
- Moraes, Claide de Paula
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A floresta é o domus: a importância das evidências arqueobotânicas e arqueológicas das ocupações humanas amazônicas na transição Pleistoceno/Holoceno DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA
- Shock, Myrtle Pearl; Moraes, Claide de Paula
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O Holoceno inferior e a antropogênese amazônica na longa história indígena da Amazônia oriental (Carajás, Pará, Brasil) DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA
- Magalhães, Marcos Pereira; Lima, Pedro Glécio Costa; Santos, Ronize da Silva; Maia, Renata Rodrigues; Schmidt, Morgan; Barbosa, Carlos Augusto Palheta; Fonseca, João Aires da
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A cronologia das pinturas rupestres da Caverna da Pedra Pintada, Monte Alegre, Pará: revisão histórica e novos dados DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA
- Pereira, Edithe da Silva; Moraes, Claide de Paula
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Manifestações simbólicas em Santa Elina, Mato Grosso, Brasil: representações rupestres, objetos e adornos desde o Pleistoceno ao Holoceno recente DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA
- Vialou, Agueda Vilhena; Vialou, Denis
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A Serra da Capivara e os primeiros povoamentos sul-americanos: uma revisão bibliográfica DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA
- Lourdeau, Antoine
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Semelhanças, diferenças e rede de relações na transição Pleistoceno-Holoceno e no Holoceno inicial, no Brasil Central DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA
- Isnardis, Andrei
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Ocupação inicial das Américas sob uma perspectiva bioarqueológica DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA
- Da-Gloria, Pedro
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Um réquiem para Clovis DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA
- Dias, Adriana Schmidt
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Arqueologia do povoamento inicial da América ou História Antiga da América: quão antigo pode ser um ‘Novo Mundo’? DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA
- Bueno, Lucas
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Imagens dobráveis: posição e ubiquidade nos xamanismos ameríndios ARTIGOS
- Cesarino, Pedro de Niemeyer
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Perspectiva histórico-cultural e investigación antropológica en Chile: una aproximación a los aportes de Max Uhle, Martin Gusinde y Aureliano Oyarzún (1910-1947) ARTIGOS
- Vilches, Rodrigo Andrés Vásquez; Nawrath, Héctor Iván Mora; Lizana, Miguel Ignacio Fernández
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- · A organização do trabalho familiar sob a influência da produção de dendê em Tomé-Açu, Pará ARTIGOS
- Mota, Dalva Maria da; Ribeiro, Laiane; Schmitz, Heribert
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Uma abordagem interdisciplinar do sítio arqueológico Cedro, baixo Amazonas ARTIGOS
- Troufflard, Joanna; Alves, Daiana Travassos
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A cronologia Jê meridional e os novos dados para o alto curso do Arroio Cará, Coxilha Rica, Lages, Santa Catarina ARTIGOS
- Perin, Edenir Bagio; Herberts, Ana Lucia; Oliveira, Marcelo Accioly Teixeira de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Leishmanioses: sua configuração histórica no Brasil com ênfase na doença visceral nos anos 1930 a 1960 ARTIGOS
- Benchimol, Jaime Larry; Gualandi, Frederico da Costa; Barreto, Danielle Cristina dos Santos; Pinheiro, Luciana de Araujo
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- · Ecologia, doença e desenvolvimento na Amazônia dos anos 1950: Harald Sioli e a esquistossomose na Fordlândia ARTIGOS
- Silva, André Felipe Cândido da; Sá, Dominichi Miranda
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Os fragmentos da história: primeiras notas etnográficas sobre os Tupi e Tupi Guarani NOTA DE PESQUISA
- Bertapeli, Vladimir
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Coleções etnobotânicas no Brasil frente à estratégia global para a conservação de plantas MEMÓRIA
- Melo, Paula Maria Correa de Oliveira; Fonseca-Kruel, Viviane Stern da; Lucas, Flávia Cristina Araújo; Coelho-Ferreira, Márlia
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 14, Número: 3, Publicado: 2019
- · Para alimentar de conhecimento a sociedade CARTA DA EDITORA
- Beltrão, Jimena Felipe; Voort, Hein van der
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Estudos sobre partículas DOSSIÊ PARTÍCULAS
- Magalhães, Marina Maria Silva; Silva, Léia de Jesus
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Partículas em Sikuani DOSSIÊ PARTÍCULAS
- Queixalós, Francesc
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Partículas em Mundurukú (Tupí) DOSSIÊ PARTÍCULAS
- Gomes, Dioney Moreira
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O lugar das partículas entre palavras, morfemas e sintagmas em Kubeo DOSSIÊ PARTÍCULAS
- Chacon, Thiago Costa
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A partícula ‘tá(~matá)’ na estrutura oracional da língua guajá DOSSIÊ PARTÍCULAS
- Salles, Heloisa Lima
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A partícula ‘ke’ como estratégia de marcação diferencial de sujeito e objeto em Ka’apor DOSSIER PARTICLES
- Duarte, Fábio Bonfim
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Partículas de Final de Sentença (PFS): uma análise cartográfica por fases sobre o sistema da língua Tenetehára DOSSIÊ PARTÍCULAS
- Camargos, Quesler Fagundes; Castro, Ricardo Campos; Tescari, Aquiles
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Partícula interrogativa e pitch-accent frasal nas perguntas polares em fa d’Ambô DOSSIÊ PARTÍCULAS
- Araujo, Gabriel Antunes de; Santos, Eduardo Ferreira dos
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- · Partículas em Rikbaktsa DOSSIÊ PARTÍCULAS
- Silva, Léia de Jesus
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A gramaticalização de verbos em partículas na língua Guajá e sua relação com a omnipredicatividade DOSSIÊ PARTÍCULAS
- Magalhães, Marina Maria Silva
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O debate inesgotável: causas sociais e biológicas do colapso demográfico de populações ameríndias no século XVI ARTIGOS
- Waizbort, Ricardo
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Sorte, dinheiro, amor…: o que os ‘animais’ da Amazônia podem fazer por nós, ‘humanos’? ARTIGOS
- Jacinto, Felipe de Oliveira; Barros, Flávio Bezerra
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O pito (de) holandês: cachimbos arqueológicos de caulim do Recife e de Salvador ARTIGOS
- Hissa, Sarah Barros Viana
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Musealização da natureza e branding parks: espetacularização, mitificação ou sustentabilidade? ARTIGOS
- Narloch, Charles; Machado, Deusana Maria da Costa; Scheiner, Teresa
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · ‘Ideias em movimento’: José Augusto Garcez e a reinvenção do folclore no Museu Sergipano de Arte e Tradição (1948) ARTIGOS
- Britto, Clovis Carvalho; Souza, Jean Costa
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Belém e a Academia do Peixe Frito: fisiognomias em Bruno de Menezes e Dalcídio Jurandir ARTIGOS
- Pereira, Carla Soares; Silva, Katia de Souza da; Amin, Vanda do Socorro Furtado; Nunes, Paulo Jorge Martins
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Emília Snethlage (1868-1929) e as razões para comemorar seus 150 anos de nascimento MEMÓRIA
- Alberto, Diana; Sanjad, Nelson
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 15, Número: 1, Publicado: 2020
- · O ‘Criador’ e os ‘barcos grandes’: imaginando políticas institucionais pesqueiras e ambientais ARTIGOS
- Santos, Lucas Lima dos
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Do fazer a arte rupestre: reflexões sobre os modos de composição de figuras e painéis gráficos rupestres de Minas Gerais, Brasil ARTIGOS
- Linke, Vanessa; Alcantara, Henrique; Isnardis, Andrei; Tobias Júnior, Rogério; Baldoni, Raíssa
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Coleções etnográficas e Arqueologia: uma relação pouco explorada ARTIGOS
- Gaspar, Meliam Viganó; Rodrigues, Igor M. Mariano
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Ruralidades indígenas na Amazônia colonial ARTIGOS
- Chambouleyron, Rafael; Arenz, Karl Heinz; Melo, Vanice Siqueira de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Amazônia em pedaços: discursos sobre a divisão do Pará no jornal Correio do Tocantins ARTIGOS
- Braga, Thais Luciana Correa; Costa, Alda Cristina
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Do ponto de vista das moças: a circulação de afetos na Festa da Moça Nova dos Ticuna ARTIGOS
- Matarezio Filho, Edson Tosta
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Pessoas mortas vivendo em museus: os ‘objetos-humanos’ do Museo Nacional de Antropología, de Madrid ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Montechiare, Renata
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Ocupaciones humanas del Holoceno tardío y tecnologías de caza en la localidad arqueológica Laguna Azul (meseta de Somuncurá, Río Negro, Argentina) ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Lynch, Virginia; Hermo, Darío Omar; Miotti, Laura Lucía
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Las cuentas de vidrio de la iglesia de San Gabriel Tacuba (México): un puente entre dos mundos ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Torres, Andreia
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Bento Rodrigues e a memória que a lama não apagou: o despertar para o patrimônio na (re)construção da identidade no contexto pós-desastre ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Silva, André Fabrício; Faulhaber, Priscila
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O tambor Ka’apor e o percutir de outros povos: estudo introdutório sobre o membranofone em contextos indígenas NOTA DE PESQUISA
- Camarinha, Hugo Maximino; Garcés, Claudia Leonor López; Alves Neto, Raimundo; Ka’apor, Valdemir
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · As virtudes medicinais do tabaco, a ‘erva santa’, descritas por um missionário europeu no Oriente (c. século XVI) MEMÓRIA
- Viotti, Ana Carolina de Carvalho
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Amazônia indígena: a floresta como sujeito DEBATE
- Pardini, Patrick
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Quando eles registram, escrevem e publicam: o antropólogo como editor RESENHA
- Velden, Felipe Vander
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Fotografias históricas da América Latina RESENHAS BIBLIOGRÁFICAS
- Schröder, Peter
- Texto: PT
- PDF: PT
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 15, Número: 2, Publicado: 2020
- · Revisão etnohistórica da fermentação amilolítica na Amazônia ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Barghini, Alessandro
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · O Sambaqui do Recreio: geoarqueologia, ictioarqueologia e etnoarqueologia ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Wagner, Gustavo Peretti; Silva, Lucas Antonio da; Hilbert, Lautaro Maximiliam
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Introdução: arqueologia dos ‘pioneiros’ e da diversidade do alto rio Madeira DOSSIÊ
- Almeida, Fernando Ozorio de; Mongeló, Guilherme
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Ocupações humanas do Holoceno inicial e médio no sudoeste amazônico DOSSIÊ
- Mongeló, Guilherme
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Arqueobotânica de ocupações ceramistas na Cachoeira do Teotônio DOSSIÊ
- Watling, Jennifer; Almeida, Fernando; Kater, Thiago; Zuse, Silvana; Shock, Myrtle Pearl; Mongeló, Guilherme; Bespalez, Eduardo; Santi, Juliana Rossato; Neves, Eduardo Góes
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A temporalidade das ocupações ceramistas no sítio Teotônio DOSSIÊ
- Kater, Thiago
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Arqueologia no sítio Santa Paula, alto Madeira, Porto Velho, Rondônia, Brasil DOSSIÊ
- Bespalez, Eduardo; Zuse, Silvana; Pessoa, Cliverson
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Aldeia circular e os correlatos da ocupação indígena na margem esquerda da Cachoeira de Santo Antônio DOSSIÊ
- Pessoa, Cliverson; Zuse, Silvana; Costa, Angislaine Freitas; Kipnis, Renato; Neves, Eduardo Góes
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Tecnologias cerâmicas no alto rio Madeira: síntese, cronologia e perspectivas DOSSIÊ
- Zuse, Silvana; Costa, Angislaine Freitas; Pessoa, Cliverson; Kipnis, Renato
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A arqueologia do alto Madeira no contexto arqueológico da Amazônia DOSSIÊ
- Neves, Eduardo Góes; Watling, Jennifer; Almeida, Fernando Ozorio de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 15, Número: 3, Publicado: 2020
- · Explorando problemas arqueológicos com técnicas físico-químicas: a trajetória do Grupo de Estudos Arqueométricos do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo, Brasil ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Munita, Casimiro S; Batalla, Nicolás; Costa, Angislaine Freitas; Barros, Joanna F.; Nogueira, André Luiz; Carvalho, Patrícia R.; Carvalho, Priscilla Ramos
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Do ‘largão’ da terra ‘voluta’ à estreiteza da terra vendida: reflexões sobre territórios e comunidades quilombolas no norte de Mato Grosso do Sul Artigos Científicos
- Oliveira, Jorge Eremites de; Pereira, Levi Marques
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Agência e contingência no acesso à terra e reprodução social camponesa no vale do rio Mearim, estado do Maranhão Artigos Científicos
- Porro, Roberto; Porro, Noemi Sakiara Miyasaka
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Os limites do diálogo intercultural em contextos de guerra interétnica e pluralismo jurídico: o caso dos Waorani e Tagaeri-Taromenane no Equador Artigos Científicos
- Araujo, Felipe Nascimento; Parra, Diego Andrés
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · La damntopofanía en el arte rupestre venezolano o la antinomia lógica campesina/patrimonio cultural Artículos Científicos
- Páez, Leonardo
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Registros arqueobotânicos em um sambaqui amazônico: utilização de microalgas (Diatomáceas, Bacillariophyta) como indicadoras de alterações ambientais Artigos Científicos
- Almeida, Pryscilla Denise; Machado, Sauri Moreira; Barros, Brenda; Morales, Eduardo Antonio; Canto, Paulo do; Gaspar, Maria Dulce; Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro; Berrêdo, José Francisco
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Respeitando diversidades, adiamos o fim do mundo Resenhas Bibliográficas
- Santos, Por Anderlany Aragão dos
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Arte, Arqueologia e agência na Amazônia DOSSIÊ
- Oliveira, Erêndira; Nobre, Emerson; Barreto, Cristiana
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A sintaxe dos corpos compósitos: agência e transformação na iconografia das tangas cerâmicas marajoara DOSSIÊ
- Silva, Emerson Nobre da
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Os discos perfurados do período Tapajônico: análise tecnológica e questões contextuais DOSSIÊ
- Lima, Anderson Márcio Amaral; Moraes, Claide de Paula; Sá, Mayara dos Santos Ramos de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Revisitando os alter egos: figuras sobrepostas na iconografia Konduri e sua relação com o xamanismo DOSSIÊ
- Alves, Marcony Lopes
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Corpo de barro, corpo de gente: metáforas na iconografia das urnas funerárias polícromas DOSSIÊ
- Oliveira, Erêndira
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Entre naturalismos y metáforas: el código icónico en la pintura corporal de las urnas funerarias de la fase Napo DOSSIÊ
- Viteri, Tamia Alexandra
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A paisagem e as cerâmicas arqueológicas na bacia Trombetas: uma discussão da Arqueologia Karaiwa e Wai Wai DOSSIÊ
- Jácome, Camila; Wai, Jaime Xamen Wai
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Pulupulu e warayumia: história e imagética do trocano do alto Xingu DOSSIÊ
- Barcelos Neto, Aristoteles
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Sobre urnas, lugares, seres e pessoas: materialidade e substâncias na constituição de um poço funerário Aristé DOSSIÊ
- Cabral, Mariana Petry
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Do teso marajoara ao sambódromo: agência e resistência de objetos arqueológicos da Amazônia DOSSIÊ
- Barreto, Cristiana
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A urna bordada: artesanato e arqueologia na Amazônia contemporânea DOSSIÊ
- Bezerra, Marcia
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O simbolismo marajoara nos cuidados com o corpo DOSSIÊ
- Linhares, Anna Maria Alves
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 16, Número: 1, Publicado: 2021
- · Marcos de referencia en toba del oeste de Formosa (Guaycurú, Argentina) ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Carpio, María Belén
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Por dentro da rede: a circulação de conhecimentos e práticas de saúde no baixo Amazonas ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Fidelis, Juliana Cardoso; Carvalho, Luciana Gonçalves de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Em busca de outros passados museológicos: considerações sobre a constituição do campo museal no Maranhão (século XIX e início do século XX) ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Britto, Clovis Carvalho; Prado, Paulo Brito do; Souza, Jean Costa
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Visibilidade, comunicação e movimento entre os cerriteiros na paisagem aquática da laguna dos Patos, Sul do Brasil ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Milheira, Rafael
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A teoria contemporânea do restauro e as cerâmicas arqueológicas da Amazônia ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Maia, Lorena Porto; Sanjad, Thais Alessandra Bastos Caminha; Lima, Helena Pinto
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Relações de objeto em Canela ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Alves, Flávia de Castro
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Pão-de-índio e massas vegetais: elos entre passado e presente na Amazônia indígena ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Santos, Gilton Mendes dos; Cangussu, Daniel; Furquim, Laura Pereira; Watling, Jennifer; Neves, Eduardo Góes
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Experimentação tafonômica em contextos de enterramento na Amazônia ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Santos, Suiane de Sousa; Pinto, Alba Pereira; Py-Daniel, Anne Rapp
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Paleogenômica e Museologia: os museus e o paradoxo do Antropoceno ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Kunzler, Josiane; Oliveira, Vânia Dolores de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Jovens e sua percepção sobre fake news na ciência ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Fagundes, Vanessa Oliveira; Massarani, Luisa; Castelfranchi, Yurij; Mendes, Ione Maria; Carvalho, Vanessa Brasil de; Malcher, Maria Ataide; Miranda, Fernanda Chocron; Lopes, Suzana Cunha
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · “Outros pesqueiros”: apontamentos sobre a pesca, os pescadores e os ambientes do Sul do Brasil ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Wagner, Gustavo Peretti; Silva, Lucas Antonio da
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A pandemia da Covid-19 e os pequenos produtores rurais: superar ou sucumbir? NOTA DE PESQUISA
- Futemma, Celia; Tourne, Daiana Carolina Monteiro; Andrade, Francisco Alcicley Vasconcelos; Santos, Nathália Moreira dos; Macedo, Gabriela Silva Santa Rosa; Pereira, Marina Eduarte
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O martírio de mulheres indígenas do rio Negro em documentos do Serviço de Proteção aos Índios (1914-1915) MEMÓRIA
- Meira, Márcio Augusto Freitas de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 16, Número: 2, Publicado: 2021
- · Fonología segmental del chiquitano migueleño ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Nikulin, Andrey
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Os topônimos com a posposição tupi –pe no território brasileiro ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Navarro, Eduardo de Almeida
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Entre necessidades e contingências: políticas indígenas nos sertões de Goiás (1781-1832) ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Mano, Marcel
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Distinção entre nomes e verbos em Guató ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Balykova, Kristina
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · A estátua amazônica. Biografia de um famoso e polêmico artefato vindo do Brasil ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Rostain, Stéphen; Barreto, Cristiana; Hamon, Caroline; Ruiz-Marmolejo, Magdalena; Delpuech, André
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Caminhos sinuosos até o Nordeste indígena: William Hohenthal Jr., antropólogo norte-americano na década de 1950 ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Menta, Cyril
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Desafios das práticas arqueológicas e da preservação: dinâmicas socioculturais sobre e nos entornos dos sítios arqueológicos na Amazônia ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Lima, Marjorie; Silva, Maurício André da; Lima, Silvia Cunha; Cassino, Mariana Franco; Tamanaha, Eduardo
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Os ‘cortadores de cabeças’: a memória como patrimônio dos Munduruku ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Henrique, Marcio Couto; Oliveira, Rodrigo Magalhães de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Os trompetes dos guaribas: do modo de existência artefatual da pessoa no alto rio Negro ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Lolli, Pedro; Del Picchia, Paulo Menotti
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Nunca se ha visto miel tan sabrosa… ni picaduras tan dolorosas: abejas y avispas en la América portuguesa y española del siglo XVI ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Santos, Christian Fausto Moraes dos; Fiori, Marlon Marcel; Silva Filho, Wellington Bernardelli
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- · “Glória a todas as lutas inglórias”: negociações, tensões, disputas e resistências relativas ao patrimônio afro-brasileiro ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Cândido, Manuelina Maria Duarte; Rosa, Mana Marques
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Casas históricas e museus-casa: conceitualização e desenvolvimento ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Cayer, Nelson Alexis; Scheiner, Teresa Cristina
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Arroz, protagonismo africano e a transformação ecológica das Américas DEBATE
- Carney, Judith A.; Watkins, Case
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · ERRATA Errata
- Texto: PT
- PDF: PT
- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 16, Número: 3, Publicado: 2021
- · No trilho da ‘viagem filosófica’ de Alexandre Rodrigues Ferreira: uma breve história das suas coleções e sua disseminação ARTIGOS CIENTÍFICOS
- Domingues, Ângela Maria Vieira
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · ERRATA Errata
- Texto: PT
- PDF: PT
Ofício de ensinar, experiência escolar e narrativas de si | Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica | 2021
A partir de la disrupción del giro narrativo y biográfico en el campo de la educación, las narrativas de sí vienen siendo una de las vías más transitadas y exploradas para nombrar, contar, indagar, comprender e imaginar el mundo de la experiencia escolar y el oficio de enseñar. Los modos de producir y poner en circulación conocimientos científicos sobre el territorio, las temporalidades y las socialidades de la escuela se han visto interrumpidos y alterados por un interés creciente por comprender y conversar con la forma en que los docentes (los seres humanos) experimentamos y recreamos nuestra experiencia y vida profesional y personal, por describir en profundidad cómo heredamos narrativas, sentidos y significados sociales, políticos, educativos que nos constituyen en “hablantes competentes” del campo y, al mismo tiempo, tramamos significaciones, acontecimientos e imágenes acerca de nuestros mundos vividos mediante relatos que nos tienen simultáneamente como autores, intérpretes, narradores, protagonistas y testigos. Leia Mais
Coffee is Not Forever: A Global History of Coffee Leaf Rust | Stuart Mccok
Coffee is not forever, do historiador Stuart McCook, redimensiona o debate sobre as agências humana e não humana na história ambiental global a partir de uma commodity que se tornou, desde a modernidade, não apenas um produto, mas também foco de dinâmicas biológicas e históricas interconectadas: o café. McCook articula a ecologia do café como planta, o café como commodity e os sistemas políticos, econômicos e sociais, narrando-os a partir das interconexões humanos-não humanos proporcionada pela epidemia de ferrugem-do-cafeeiro causada pelo fungo Hemileia vastatrix e sua itinerância mundial, do século XV até ter-se tornado uma ameaça global a plantações entre o século XX e XXI. O autor aproveita os processos de abandono de plantações, os dilemas socioambientais da sobrevivência de pequenos e médios produtores de café – especialmente na América Latina entre o final do século XX e XXI – para dimensionar essa realidade nas interações entre agroecologia do café e sociedades que estão no centro das mudanças climáticas. Nesse sentido, percebe como populações do sul global têm se preparado e respondido a mudanças cada vez mais repentinas e catastróficas em seus ambientes. Leia Mais
A Global History of Convicts and Penal Colonies | Clare Anderson
This expansive edited volume complements a number of recent attempts to bring together a growing body of research on convict labor and penal colonies in a wide variety of empires and post-colonial nation states from the fifteenth to the twentieth centuries. Eleven chapters are case studies of different global penal transportation systems. One of the main preoccupations of most of these case-study chapters is to quantify the size and evolution of the convict labor flows to examine their relative importance to imperial and national state building projects. Depending on the sources available and the consequent state of regional historiographies, these chapters offer analyses of available data while pointing the way forward for needed research to fill historiographical gaps. These chapters also examine, to varying degrees, the lives of convict laborers and the roles they played in the development of frontier, colonial, and post-independence nation states. The editor Clare Anderson contributes an introductory assessment chapter that highlights the common and divergent themes in the case-study chapters and their collective interventions in and implications for ongoing debates on the nature of penal transportation and the development of criminal justice practices more generally. Anthropologist Laura Ann Stoler provides some concluding reflections on the volume and the emerging field of migratory convict labor systems and penal colonies. Leia Mais
El oficio del historiador: Reflexiones metodológicas en torno a las fuentes | Yobenj Chicangana-Bayona, María Cristina Pérez Pérez e Ana María Rodríguez Sierra
Yobenj Chicangana-Bayona | Foto: Museo Colonial
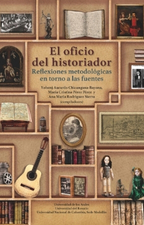 El oficio del historiador. Reflexiones metodológicas en torno a las fuentes es un volumen colectivo en donde se reúnen textos que abordan diferentes temáticas y periodos, convocados por la misma premisa: reflexionar sobre las implicaciones, potencialidades y limitaciones del uso de fuentes primarias de diverso tipo en la investigación histórica. Se trata de una obra de corte metodológico e historiográfico, que sin duda aportará a la discusión sobre la práctica de la disciplina histórica en Colombia, en la línea de otros trabajos aparecidos recientemente.[1]
El oficio del historiador. Reflexiones metodológicas en torno a las fuentes es un volumen colectivo en donde se reúnen textos que abordan diferentes temáticas y periodos, convocados por la misma premisa: reflexionar sobre las implicaciones, potencialidades y limitaciones del uso de fuentes primarias de diverso tipo en la investigación histórica. Se trata de una obra de corte metodológico e historiográfico, que sin duda aportará a la discusión sobre la práctica de la disciplina histórica en Colombia, en la línea de otros trabajos aparecidos recientemente.[1]
En la introducción, las editoras Yobenj Chicangana-Bayona,[2] María Cristina Pérez Pérez [3] y Ana María Rodríguez Sierra [4] llaman la atención sobre la necesidad e importancia de reflexionar pausadamente en torno a la materia prima de nuestro trabajo: las fuentes, ya que muchas veces las presuponemos y naturalizamos sin cuestionarlas, así como a menudo sucede con nuestras decisiones metodológicas. De allí la relevancia de tener presentes los desafíos, las dificultades, los cuidados, las maneras de búsqueda, selección y organización que implica el trabajo documental en la investigación histórica. Su propuesta es, entonces, presentar una compilación de experiencias de investigación a partir de las cuales los autores desarrollan reflexiones derivadas de su trabajo empírico con diversos tipos de archivos y documentos. “Son once artículos en los que se reflexiona sobre la importancia de las fuentes para el oficio del historiador, por medio del análisis del potencial significativo de estas y su tratamiento metodológico en el estudio de casos particulares” (p. x). Leia Mais
Prácticas editoriales y cultura impresa entre los intelectuales latinoamericanos en el siglo xx | Aimer Granados e Sebastián Rivera Mir
Sebastián Nelson Rivera Mir e Aimer Granados| Foto: El Colegio Mexiquense
 Este libro, coordinado por los profesores Granados y Rivera, trata el tema de la cultura impresa latinoamericana. En las 284 páginas que lo componen, cumple con varios propósitos que han estado latentes en el campo de la historia intelectual latinoamericana,[1] por ejemplo, ampliar la mirada del problema de lo impreso y vincularlo con los aspectos sociales del mundo político, intelectual y cultural.
Este libro, coordinado por los profesores Granados y Rivera, trata el tema de la cultura impresa latinoamericana. En las 284 páginas que lo componen, cumple con varios propósitos que han estado latentes en el campo de la historia intelectual latinoamericana,[1] por ejemplo, ampliar la mirada del problema de lo impreso y vincularlo con los aspectos sociales del mundo político, intelectual y cultural.
Mientras al día de hoy, en el campo de la historia intelectual, los intelectuales, sus obras y pensamientos han ido ganando una atracción y se han constituido en objetos de investigación a lo largo y ancho de nuestro continente, por el contrario, otros escenarios —tal es el caso del papel y la función de las revistas, la prensa, los epistolarios, la diplomacia, los empresarios culturales y los traductores, las sociabilidades y las redes, los congresos, la cátedra, las autobiografías y memorias y la producción investigativa y las publicaciones— aún son endebles y falta mucho por explorar en nuestros medios. Leia Mais
Disidencia religiosa y conflicto sociocultural. Tácticas y estrategias evangélicas de lucha por el modelamiento de la esfera pública en Colombia (1912-1957) | Juan Carlos Gaona
Juan Carlos Gaona | Foto: Red Investigadores Hecho Religioso Colombia
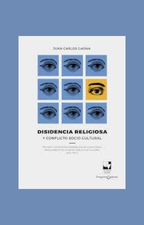 En los procesos de pensar el Estado-nación, los impresos —trasferidos a finales del siglo xviii— han jugado un papel preeminente en la configuración de la esfera pública colombiana. Este dispositivo cultural ha servido como mecanismo participe en la construcción de redes y sociabilidades que giran en torno a la implementación de pensamientos y lenguajes políticos en el tejido social.[1]
En los procesos de pensar el Estado-nación, los impresos —trasferidos a finales del siglo xviii— han jugado un papel preeminente en la configuración de la esfera pública colombiana. Este dispositivo cultural ha servido como mecanismo participe en la construcción de redes y sociabilidades que giran en torno a la implementación de pensamientos y lenguajes políticos en el tejido social.[1]
Como producto de la investigación para optar al título de magíster en Historia, Juan Carlos Gaona presenta un minucioso trabajo sobre los impresos puestos a circular por el protestantismo en Colombia entre 1912 y 1958. El análisis de las fuentes periódicas y el examen teórico en torno a las “redes” y “sociabilidades” comunicativas permiten a Gaona sumergirse en la trayectoria de los periódicos protestantes en un contexto de luchas sociopolíticas e ideológicas por tomar el poder del espacio público. Leia Mais
Antípoda – Revista de Antropología y Arqueología. Bogotá. n.44, july, 2021.
Panorámicas
- El pavor del migrante por entre las líneas de un periódico: el Sa k pasé (1992) de la Base Naval de Guantánamo
- Mónica María del Valle Idárraga | abstract|Full Text|PDF (2164 KB)ePub (1339 KB)
- Etnografía no es método
- Mariza Peirano | abstract|Full Text|PDF (105 KB)ePub (31 KB)
- Sentimiento humanitario y utilitarismo científico en la práctica antropológica argentina: la transición entre los siglos XIX-XX y XX-XXI
- Lena Dávila | abstract|Full Text|PDF (175 KB)ePub (41 KB)
- Experiencia y subjetividad de mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno peruano
- Camila Fernanda Sastre Díaz | abstract|Full Text|PDF (167 KB)ePub (40 KB)
- La imagen como makruma (don): fotografía etnográfica entre los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta
- Sebastián Gómez Ruiz | abstract|Full Text|PDF (2798 KB)ePub (1417 KB)
- La multiplicación de las penas: cuestiones preliminares para el abordaje de acusaciones y denuncias de proximidad en tiempos de pandemia
- María E. Epele | abstract|Full Text|PDF (177 KB)ePub (42 KB)
- El Partido es la luz del universo. La metáfora de la luz en el discurso inicial de Sendero Luminoso (1966-1976)
- Ángel Heredia Alarcón | abstract|Full Text|PDF (171 KB)ePub (364 KB)
- Tipología de cuerpos traficados desde América del Sur y el Caribe hacia Chile
- Nanette Liberona Concha, Sius-geng Salinas, Karen Veloso, Mileska Romero | abstract|Full Text|PDF (185 KB)ePub (43 KB)
Documentos
Dados e arquivos/Acervo/2021
O advento das novas tecnologias de informação e comunicação, associado a um cenário de movimentos sociais, políticos e econômicos, proporcionou um ambiente de intensas transformações no contexto da produção e circulação de objetos informacionais digitais nas últimas décadas. Considerando dados, informações e documentos como partes desses objetos informacionais digitais, grandes volumes são criados diariamente e podem ser tidos como resultado do uso intensivo da tecnologia em diversas áreas do conhecimento e da sociedade. Nesse contexto, inúmeras reflexões são necessárias e urgentes para entender as implicações, barreiras e potencialidades do uso desses objetos digitais para diferentes fins. Leia Mais
Argumentos. Fortaleza, n.26, 2021.
- Os Editores | PDF (Português (Brasil))
[Artigos]
- Nietzsche and Heidegger: truth, value and foundation
- Alonso Zengotita | PDF (Português (Brasil))
- Habermas and the public sphere: the adventures of a concept
- Juliano Cordeiro da Costa Oliveira | PDF (Português (Brasil))
- What is an art object?
- Rodrigo Cid | PDF (Português (Brasil))
- Elenchus and moral education on Plato’s Sophist
- José Wilson da Silva | PDF (Português (Brasil))
- Price and justice in exchange in Aristotle
- Mário Motta Maximo | PDF (Português (Brasil))
- African conceptions of the human being: critical readings from the Bantu Philosophy of Placide Tempels
- Tiago Tendai Chingore, Elnora Gondim | PDF (Português (Brasil))
- Allusions the first part of Thus spoke Zaratustra in Nietzsche’s letters: creation as and educational perspective
- Enock da Silva | PDF (Português (Brasil))
- How Strong is the oath?
- Ronaldo Filho Manzi | PDF (Português (Brasil))
- Hannah Arendt and the promises of politics beyond sovereignty
- João Batista Farias Junior | PDF (Português (Brasil))
- Lima Vaz: between denial of metaphysics and the anacronym of absolute reason for the epistemology of modernity
- Savio Gonçalves dos Santos, Gabriele Cornelli | PDF (Português (Brasil))
- Um A study of Spinoza’s “Ethics”: the ideal life as conscious union with God
- Gionatan Carlos Pacheco | PDF (Português (Brasil))
Interview
Paidei@. Santos, v.13, n.24, 2021.
Editorial
- Editorial
- Eliana Nardelli de Camargo | PDF
Artigos Científicos
- FORMAÇÃO DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS NA COVID-19: O DIÁLOGO FREIREANO NA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM
- Priscila Barros David, Paula Pinheiro da Nóbrega, Bruno Saboia Sobral, Indira Abreu Garcia | PDF
- FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA: AS METODOLOGIAS DE ENSINO APLICADAS EM CURSOS DE PEDAGOGIA
- Vâner Lima Silva, Celia Maria Haas, Simone Cezário da Silva, Vera Silvia Ferreira Teixeira Ramos | PDF
- EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: O PAPEL E A FORMAÇÃO CONTINUADA DO TUTOR PRESENCIAL NO ENSINO SUPERIOR NA REDE PRIVADA
- Lorena Andrade Costa, Andréia de Assis Ferreira | PDF
Relato de Experiência
- KHAN ACADEMY E DRAGON LEARN: UMA EXPERIÊNCIA COM O ENSINO DA MATEMÁTICA
- Yngrid Karolline Mendonça Costa, Paulo Alexandre Filho, Daniela Nogueira de Moraes Garcia | PDF
Artigos de Revisão
- INTEGRAÇÃO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REMOTAS
- Rosana Dantas dos Santos | PDF
- INOVAÇÃO EM EAD: O QUE MOSTRAM AS PESQUISAS DISPONÍVEIS NO EDUCATION RESOURCES INFORMATION CENTER (ERIC)
- Maria Aparecida Rodrigues da Fonseca, Simone de Paula Rodrigues Moura, Tatiane Custódio da Silva Batista | PDF
Recorridos de la historia cultural en Colombia | Hernando Cepeda Sánches e Sebastián Vargas Álvarez
Hernando Cepeda Sánches e Sebastián Vargas Álvarez | Fotos: Universidad Nacional de Colombia e Universidad del Rosario
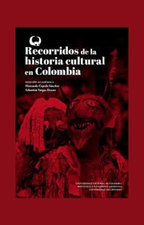 Al compás de distintas herramientas analíticas, teóricas y metodológicas, y diferentes aproximaciones temáticas y disciplinares, este libro danza el vals de la historia cultural en los quince años del grupo de investigación interinstitucional Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. En tal sentido, Recorridos de la historia cultural en Colombia, además de ser un balance de la producción académica de más de una década y media de este colectivo, es ante todo una apuesta por pensar la cultura como una categoría que, puesta en diálogo y tensión entre la historia y otros saberes, es capaz de problematizar la manera en que distintos sujetos históricos, con sus diferentes lugares de enunciación y agencias, dotan de sentido y significado a su realidad.
Al compás de distintas herramientas analíticas, teóricas y metodológicas, y diferentes aproximaciones temáticas y disciplinares, este libro danza el vals de la historia cultural en los quince años del grupo de investigación interinstitucional Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. En tal sentido, Recorridos de la historia cultural en Colombia, además de ser un balance de la producción académica de más de una década y media de este colectivo, es ante todo una apuesta por pensar la cultura como una categoría que, puesta en diálogo y tensión entre la historia y otros saberes, es capaz de problematizar la manera en que distintos sujetos históricos, con sus diferentes lugares de enunciación y agencias, dotan de sentido y significado a su realidad.
Así, entendiendo la historia cultural como un “campo específico de los estudios históricos, interesados en comprender y explicar el lugar de producción de las nociones con las que los sujetos sociales explican su presencia en el mundo” (p. 15), el libro presenta una serie de textos que, desde variadas sensibilidades y rutinas de investigación, se aproximan a la historiografía cultural en Colombia. Arte, alimentación, bestialidad, ciudadanía, democracia, espacio público, memoria, nación, microhistoria y vida cotidiana, son algunos de los temas que derivan en valiosos aportes historiográficos. Leia Mais
Lo spettacolo della mafia, storia di un immaginario tra realtà e finzione | Marcello Ravveduto
Marcello Ravveduto | Foto: Noi contro le mafie
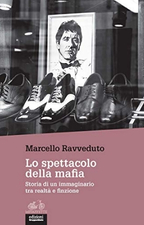 Uno de los imaginarios más importantes, en lo que refiere a su alcance, impacto y continua presencia desde la década de 1960 hasta lo que va del presente siglo, es el imaginario acerca de la mafia y su extensión en el imaginario acerca del narcotráfico en el mundo. El trabajo del profesor Ravveduto [1] consiste en demostrar cómo la historia de la mafia italiana es también la historia de su devenir espectáculo, marca e, incluso, estilo de vida. La historia de las mafias italianas hace parte de un típico caso de public history, es decir, de una historia en contacto directo con la evolución de la mentalidad, producida gracias al uso de los mass media, en la configuración de un gran sistema narrativo y perceptivo, mediante el cual se transmiten valores, símbolos, íconos, estereotipos y, sobre todo, mitos del —y en el— mundo contemporáneo.
Uno de los imaginarios más importantes, en lo que refiere a su alcance, impacto y continua presencia desde la década de 1960 hasta lo que va del presente siglo, es el imaginario acerca de la mafia y su extensión en el imaginario acerca del narcotráfico en el mundo. El trabajo del profesor Ravveduto [1] consiste en demostrar cómo la historia de la mafia italiana es también la historia de su devenir espectáculo, marca e, incluso, estilo de vida. La historia de las mafias italianas hace parte de un típico caso de public history, es decir, de una historia en contacto directo con la evolución de la mentalidad, producida gracias al uso de los mass media, en la configuración de un gran sistema narrativo y perceptivo, mediante el cual se transmiten valores, símbolos, íconos, estereotipos y, sobre todo, mitos del —y en el— mundo contemporáneo.
En el texto, el imaginario es definido como el pasado que visita y revisita continuamente el presente, pero que muchas veces no es reconocido en su presencia en la vida cotidiana. El imaginario de la mafia, en este horizonte
ha sido durante mucho tiempo, la narración de un ectoplasma. El fantasma es invisible; su existencia es negada, incluso de frente un mundo que está por fuera del control social […] donde las reglas son subvertidas (p. 168). Leia Mais
Imprimir en Lima durante la colonia. Historia y documentos, 1584-1750 | Pedro Guibovich Pérez
Pedro Guibovich Pérez | Foto: En los bordes del Archivo
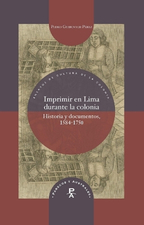 Bajo la rúbrica de Pedro Guibovich Pérez, reconocido historiador del libro en el ambiente limeño, ha aparecido esta obra, la cual, en pocas palabras, describe el funcionamiento de la imprenta en Lima y valora su impacto, en medio de las políticas reales y eclesiásticas, en dos rasgos: la localización del saber y el control por las autoridades virreinales.
Bajo la rúbrica de Pedro Guibovich Pérez, reconocido historiador del libro en el ambiente limeño, ha aparecido esta obra, la cual, en pocas palabras, describe el funcionamiento de la imprenta en Lima y valora su impacto, en medio de las políticas reales y eclesiásticas, en dos rasgos: la localización del saber y el control por las autoridades virreinales.
Dos secciones componen esta publicación: “Estudio preliminar” y “Apéndice documental”. En la primera se nos presenta lo que se sabe y lo que falta por estudiarse de la historia de la imprenta —como fenómeno social y cultural— que funcionó en la capital del virreinato del Perú, desde las gestiones previas a su instauración hasta mediados del siglo xviii. Para ello, Guibovich hace uso de fuentes notariales, específicamente de contratos convenidos entre diferentes actores editoriales (corpus principalmente transcrito en la segunda parte), de los paratextos disponibles en impresos limeños y del desarrollo del estudio del libro en España. Luego de breves reflexiones en torno al corto y lejano eco que ha tenido la disciplina de la historia del libro en el Perú, narra el arribo y asentamiento en Lima de Antonio Ricardo, italiano radicado en Nueva España, destinado a ser el primer impresor en tierras sudamericanas. Su llegada se dio en 1581, antes del alza de la veda de impresión de textos en el virreinato andino. Una de las urgencias por dar la bienvenida a Ricardo era la adecuación de la evangelización a los rasgos culturales de las poblaciones indígenas, interminable empresa que vio en la prensa una aliada indispensable. Los misioneros —sobre todo los jesuitas, que tuvieron un rol clave en los primeros concilios limenses— debían disponer de material básico en lenguas nativas que no tuviese errores de composición. En ello resonaban las enseñanzas del Concilio de Trento, las cuales marcaron un cambio en la preparación y labor de los sacerdotes por medio de una formación estandarizada que, para el Perú, adquirió características locales gracias a la imprenta. Aquí sale a flote uno de los aportes de la imprenta: contribuyó a materializar y uniformizar un saber necesario para la instauración de planes prioritarios de los sectores dominantes del virreinato. Leia Mais
Entre sequías, heladas e inundaciones. Clima y sociedad en la Sabana de Bogotá, 1690-1870 | Katherinne Pacheco
Katherinne Pacheco | Foto: AcademiaEdu
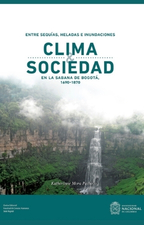 En cinco capítulos, el libro aborda las diversas respuestas adaptativas con las cuales los habitantes de la Sabana sortearon las perturbaciones y enfrentaron los cambios climáticos entre 1690 y 1870. La autora denomina estas respuestas como anticipadas e inmateriales; permanentes y materiales, e impulsadas y coartadas. El enfoque, el problema y la perspectiva regional hacen novedoso este trabajo, a la vez que constituye un aporte valioso a la historia colombiana, porque ayuda a consolidar nuestro conocimiento sobre un asunto que involucra la intervención de los habitantes de la Sabana de Bogotá y su relación con el clima y la naturaleza.
En cinco capítulos, el libro aborda las diversas respuestas adaptativas con las cuales los habitantes de la Sabana sortearon las perturbaciones y enfrentaron los cambios climáticos entre 1690 y 1870. La autora denomina estas respuestas como anticipadas e inmateriales; permanentes y materiales, e impulsadas y coartadas. El enfoque, el problema y la perspectiva regional hacen novedoso este trabajo, a la vez que constituye un aporte valioso a la historia colombiana, porque ayuda a consolidar nuestro conocimiento sobre un asunto que involucra la intervención de los habitantes de la Sabana de Bogotá y su relación con el clima y la naturaleza.
Desde el inicio, la autora refiere el problema nodal de investigación y, con base en varios autores, propone el elemento central sobre el que girarán los capítulos de la obra: “la adaptación, entendida como la capacidad para responder desafíos y perturbaciones ambientales, en este caso relacionadas específicamente con la variabilidad climática” (pp. 27-28). Más allá de lo exitoso de los resultados, las circunstancias de una coyuntura específica fueron afrontadas desde las mismas condiciones del contexto, poniendo en juego los diferentes factores sociales, económicos y técnicos que intervienen en una determinada coyuntura. Este aspecto me parece muy destacable con respecto a las fuentes documentales, cualitativas y cuantitativas, desde las cuales se han inferido las respuestas adaptativas. Leia Mais
Microhistorias | Giovanni Levi
Giovanni Levi | Foto: Universidad Austral de Chile
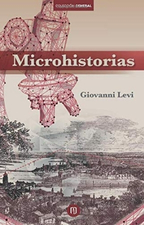 La publicación de la obra del destacado historiador italiano es un verdadero acierto editorial, entre otras razones porque Giovanni Levi ha sido ante todo un escritor de artículos de revista, siempre producto de investigaciones apoyadas en una cuidadosa consulta de archivo, pero no autor de libros, género del que solo se le conocen dos: Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, de 1985, que nunca circuló en castellano, y La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo xvii, también de 1985, traducido pronto a muchas lenguas, entre ellas al español en 1990. La publicación de esta colección de ensayos también es la ocasión para el lector de tener una perspectiva más equilibrada de la riqueza analítica de la llamada microstoria italiana, casi siempre reducida entre nosotros a una obra: El queso y los gusanos, el gran best-seller de Carlo Ginzburg de 1976, lo que significó una cierta distorsión en el conocimiento de esta importante corriente historiográfica, al reducirla a una de sus líneas, al tiempo que se empobreció la propia obra de Ginzburg, cuyos demás títulos permanecen más o menos ignorados.
La publicación de la obra del destacado historiador italiano es un verdadero acierto editorial, entre otras razones porque Giovanni Levi ha sido ante todo un escritor de artículos de revista, siempre producto de investigaciones apoyadas en una cuidadosa consulta de archivo, pero no autor de libros, género del que solo se le conocen dos: Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, de 1985, que nunca circuló en castellano, y La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo xvii, también de 1985, traducido pronto a muchas lenguas, entre ellas al español en 1990. La publicación de esta colección de ensayos también es la ocasión para el lector de tener una perspectiva más equilibrada de la riqueza analítica de la llamada microstoria italiana, casi siempre reducida entre nosotros a una obra: El queso y los gusanos, el gran best-seller de Carlo Ginzburg de 1976, lo que significó una cierta distorsión en el conocimiento de esta importante corriente historiográfica, al reducirla a una de sus líneas, al tiempo que se empobreció la propia obra de Ginzburg, cuyos demás títulos permanecen más o menos ignorados.
Microhistorias es una colección de veinte ensayos —cincuenta años de trabajo—, seleccionados por el propio Levi, reunidos en una excelente edición y con traducciones (del italiano, el francés y el inglés) que parecen muy correctas, y que dejan una imagen clara no solo de la historiografía italiana de los últimos cincuenta años, sino en gran parte de la historiografía internacional del siglo xx, y del propio recorrido intelectual de Giovanni Levy. Tal vez la gran dificultad de reseñar este volumen sea la de su amplitud temática y la riqueza de problemas que se examinan, tanto desde el punto de vista del enfoque “microanalítico” —término que también aparece en Levi—, como desde el punto de vista del “oficio de historiador”: el mundo de los archivos, el trabajo de las fuentes, la relación con las otras ciencias sociales, la primacía de los problemas y sobre todo de las preguntas sobre las técnicas, y las exigencias de claridad y precisión en la transmisión de los resultados de investigación al público lector. Leia Mais
Chinese Porcelain in Colonial Mexico. The Material Worlds of an Early Modern Trade | Meha Priyadarshini
Meha Priyadarshini | Foto: Twitter.com
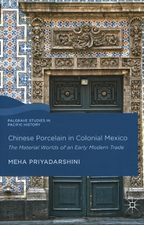 Si nos guiáramos por el título de este libro y por el tratamiento dado a la porcelana china en los estudios históricos de la cultura material, la obra de Priyadarshini podría ser ubicada rápidamente como un texto más de la historia convencional de este bien. Es decir, de aquella que trata sobre el encanto que suscitó en el mundo entero antes del descubrimiento de su secreto productivo en Europa (en 1708), pero esta vez ubicados en el contexto mexicano. No obstante, el objetivo de esta investigación no es la porcelana china en sí misma en cuanto a la fascinación que causó en el “mundo premoderno”, sino más bien sus viajes, transformaciones e hibridaciones con la cerámica local mexicana como la de Talavera. Todo ello en el marco de una historia de carácter global que ya considera lo translocal, así como de una historia multisituada que da cuenta también de las interconexiones entre los territorios de producción, distribución y venta, y de ese modo de los distintos actores partícipes en estas etapas, como los artesanos, mercaderes y consumidores.
Si nos guiáramos por el título de este libro y por el tratamiento dado a la porcelana china en los estudios históricos de la cultura material, la obra de Priyadarshini podría ser ubicada rápidamente como un texto más de la historia convencional de este bien. Es decir, de aquella que trata sobre el encanto que suscitó en el mundo entero antes del descubrimiento de su secreto productivo en Europa (en 1708), pero esta vez ubicados en el contexto mexicano. No obstante, el objetivo de esta investigación no es la porcelana china en sí misma en cuanto a la fascinación que causó en el “mundo premoderno”, sino más bien sus viajes, transformaciones e hibridaciones con la cerámica local mexicana como la de Talavera. Todo ello en el marco de una historia de carácter global que ya considera lo translocal, así como de una historia multisituada que da cuenta también de las interconexiones entre los territorios de producción, distribución y venta, y de ese modo de los distintos actores partícipes en estas etapas, como los artesanos, mercaderes y consumidores.
Y es que para Priyadarshini la conformación de la considerada “primera mercancía global del temprano mundo moderno” y la construcción de su marca no solo vinculó al lugar de elaboración y recepción sino también a los sitios intermedios que favorecieron la conducción de estas mercancías; y estuvo en las manos, no solo de quienes la produjeron y la consumieron sino también de quienes hicieron posible que llegaran a diversas regiones, es decir, los comerciantes y los tenderos (p. 30).[1] En ese sentido, el tránsito de la porcelana comenzaba con los artesanos de Jingdezhen, continuaba en manos de los mercaderes de Manila, Acapulco y del Parián en ciudad de México —quienes las dirigían hacia sus compradores—, y terminaba en Puebla, lugar en el cual sus motivos y formas fueron resignificados por los artesanos de la cerámica de Talavera que allí era producida. Leia Mais
Lectura y contralectura en la Historia de la Lectura | Alejandro Parada
Alejandro Enrique Parada | Foto: Academia.edu
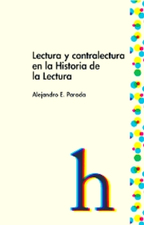 A lo largo de una propuesta que recupera, interpreta y pone en discusión una parte de las contribuciones más destacadas en la materia, Lectura y contralectura en la Historia de la Lectura proporciona un primer acercamiento y una ruta de lectura útil a quienes se inician en su estudio, pero también una serie de instrumentos provechosos para procurar la siempre necesaria renovación de un área en permanente movimiento. De los cuatro ensayos que integran la obra, todos —a excepción del final, que plantea una lectura global y crítica de los tres primeros— pueden ser leídos de manera independiente, o bien se puede optar por seguir la lógica de complejidad creciente que estructura al relato.
A lo largo de una propuesta que recupera, interpreta y pone en discusión una parte de las contribuciones más destacadas en la materia, Lectura y contralectura en la Historia de la Lectura proporciona un primer acercamiento y una ruta de lectura útil a quienes se inician en su estudio, pero también una serie de instrumentos provechosos para procurar la siempre necesaria renovación de un área en permanente movimiento. De los cuatro ensayos que integran la obra, todos —a excepción del final, que plantea una lectura global y crítica de los tres primeros— pueden ser leídos de manera independiente, o bien se puede optar por seguir la lógica de complejidad creciente que estructura al relato.
“Historia de la Lectura. Una aproximación a su identidad y definición”, el capítulo inaugural, recorre algunos desarrollos clásicos del campo para, a partir de ellos, especificar cuál es y cómo se repone la captura histórica de los lectores en el tiempo, es decir, cómo es posible conocer las prácticas lectoras del pasado. En la amplitud de las Humanidades y Ciencias Sociales, ubica a la Historia de la Lectura como un área dentro de la Nueva Historia Cultural y, en forma particular, inmersa en la Historia de la Cultura Escrita. Esta pertenencia disciplinar, junto con sus características privativas, explican tanto la riqueza como la ambivalencia que le distinguen. Si se sostiene como afirmación que la práctica lectora convulsionó modos de comprender, habitar e intervenir en el mundo a nivel individual y colectivo, la comprensión del encuentro entre los lectores y las lectoras con la palabra escrita posee una potencia peculiar para esclarecer los distintos procesos y transformaciones políticas, culturales y sociales del pasado. Sin embargo, cualquier tentativa por rastrear el cosmos lector se halla necesariamente impregnada de ambigüedades, indeterminaciones e, incluso, discrepancias. El reto no es menor: supone recuperar las representaciones y las prácticas desplegadas en torno al acto de leer —como hemos aprendido de los clásicos aportes de Roger Chartier—; significa ir en busca de las respuestas de los lectores, reconstruir los circuitos de circulación de los textos, determinar los cómo y los porqués se leía —según se desprende de las contribuciones hechas por Robert Darnton—. De esta manera, la Historia de la Lectura es una apuesta heurística que involucra el reconocimiento de voces múltiples y plurales, de las que se encuentran escasos rastros, y cuya restitución resulta forzosamente interpretativa. Por esto, resolver dicha encrucijada es, probablemente, “un intento sin conclusión” (p. 91). Leia Mais
La circulación de impresos en América Latina: del relativo aislamiento a una maraña de circuitos internos | Anuário Colombiano de Historia Social y de la Cultura | 2021
Poetas hispoano-americanos | Foto: Archivo Libanés de México | Crear en Salamanca
Desde los pioneros trabajos de Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, pero sobre todo a partir de las investigaciones y reflexiones de Roger Chartier y Robert Darnton, que abrieron senderos teóricos y metodológicos precisos en el proceso de afirmación y expansión de la nueva historia cultural, el interés de los historiadores por la circulación de libros e impresos ha ido en aumento. El modelo del circuito de la comunicación, propuesto por Darnton en 1982, fue especialmente estimulante. A pesar de las críticas recibidas y de la posterior aparición de modelos alternativos, el formulado por el historiador norteamericano se convirtió en un pilar para la historia contemporánea del libro.[1]Al recalcar la necesidad de atender los tres estadios elementales del ciclo de vida de los libros, producción, circulación y recepción, el circuito de la comunicación permitía apreciar estos materiales en su doble naturaleza, cultural y económica, así como evidenciar su dimensión social al relevar el largo y heterogéneo conjunto de actores detrás de su concepción, difusión y usos finales. En otras palabras, el constructo darntoniano favorecía, más allá de sus límites, la puesta en tensión de la autoría, el lugar especial de los mediadores y las mediaciones (encuadernadores, tipógrafos, impresores, almacenistas, proveedores, vendedores, contrabandistas, etc.), del trabajo del editor, y el peso de la lectura como práctica que, aunque concebida como última instancia, no dejaba de repercutir de nuevo sobre el ciclo mismo. Leia Mais
A Educação, a pandemia e a sociedade do cansaço | Ensaio – Avaliação em Políticas Públicas Educacionais | 2021
Mulher e cansaço | Foto: Globo.com
Han, em seu livro “A Sociedade do Cansaço”, fez um retrato do mundo de antes da pandemia da Covid-19 demonstrando que vivemos numa época de velocidade e de esgotamento, na qual o sistema de poder vigente valoriza indivíduos inquietos, hiperativos, que se arrastam no cotidiano produtivo, quase sempre bem-sucedidos e que executam inúmeras e variadas tarefas. Estamos vivendo na sociedade do desempenho, constituída por uma nova subjetividade proveniente das transformações sócio-históricas ocorridas desde o final do século XX (HAN, 2017).
Foucault, ainda antes de Han, seguia na mesma linha de pensamento ao declarar que, não no final do século XX, mas desde meados do século XVIII, vivemos em um sistema de biopoder ou biopolítica, um sistema que busca otimizar um estado de vida na população, a fim de criar indivíduos economicamente ativos. Produzir, inovar, responder com criatividade às situações de trabalho, de estudo, de relacionamento são o que se espera de todos nós. Autossuperação, iniciativa, eficiência e flexibilidade explicam a sociedade do desempenho de Han (2017) e a biopolítica de Foucault (2012) . Leia Mais
Revista TransVersos. Rio de Janeiro, n.23, 2021.
O FUTURO DO PASSADO: DESAFIOS PARA O ENSINO DA HISTÓRIA NAS ESCOLAS NUMA PERSPECTIVA GLOBAL
EXPEDIENTE
- Expediente
- Revista Transversos
APRESENTAÇÃO
- O futuro do passado: desafios para o ensino da história na escola numa perspectiva global.
- Guilherme Moerbeck, Marc-André Éthier, David Lefrançois
- PDF PDF (FRANÇAIS (CANADA))
ENTREVISTA
- Os desafios da educação para a cidadania e do ensino da História na escola: uma entrevista com François Audigier
- Guilherme Moerbeck, Marc-André Éthier
- PDF PDF (FRANÇAIS (CANADA))
- Análisis crítico de las tensiones subyacentes al campo de la didáctica de ciências humanas y sociales em la primaria em Quebec después de la aparición del informe parent
- Anderson Araújo-Oliveira
- PDF (ESPAÑOL (ESPAÑA))
- Currículos de licenciatura em História de duas universidades públicas brasileiras e a lei 10.639/2003: silêncios, disputas e resistência
- Marcos Antonio Batista Silva, Danielle Pereira de Araújo
- Por uma educação antirracista: reflexões sobre o currículo de História para a promoção das relações étnico-raciais
- Brenda Cardoso de Oliveira, Clarice Nascimento de Melo
- Prescrições curriculares de História para os anos iniciais: diálogos entre base nacional comum curricular e currículo de Pernambuco
- Danielle da Silva Ferreira
- O aparelho burocrático educacional: a organização do ensino para o mundo do trabalho
- Werbeth Serejo Belo
- A BNCC e o interesse dos jovens pela História: um olhar com dados do Projeto Residente
- Matheus Mendanha Cruz, Luis Fernando Cerri
- “Vozes do bolsonarismo”: reflexões históricas a partir de comentários de internautas pró-intervenção militar
- Fábio Alexandre da Silva, Lisiane Sias Manke
- Ensino de história e letramento digital: uma proposta de leitura crítica das fontes provenientes dos meios digitais
- Nayara Silva de Carie, Ana Paula Giavara, Glauco Costa de Souza, Heli Sabino de Oliveira
- Aprendizagem escolar de História em tempos de pandemia no Cap-UERJ: um olhar didáticohistórico sobre o tempo presente
- Giselle Pereira Nicolau, Vivian Cristina Zampa, Sonia Maria Wanderley
- Ensino de História na educação básica: a experiência histórica romana, e o tempo presente, na sala de aula
- Naicon de Souza Brinco
- Diálogos entre a História Antiga e o ensino de História: a História global no currículo da BNCC do sexto ano
- Alexandre Galvão Carvalho, Lucas Werlang Girardi, Carolina Ferreira de Figueiredo
- O ensino de História Antiga na perspectiva multicultural
- Cleberson Henrique de Moura, Fabíola Alice dos Anjos Durães, Maria Cristina Nicolau Kormikiari, Núria Hanglei Cacete
- A África e a diáspora nos livros didáticos do ensino fundamental
- Maria A. D. Castro, Antonieta Miguel
- Os problemas nos estudos das religiões afro-ameríndias e o ensino de História
- Lucas Gomes de Medeiros
ARTIGOS LIVRES
- Zumbidos do vento no mar: vozes e silêncios do Sacudón (o Caracaço)
- Livia Esmeralda Vargas González
- Figurações femininas subvertidas no conto Survival Ship (1951) de Judith Merril: ficção científica e gênero em negociação
- Janis Caroline Boiko da Rosa
Ensaio – Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Rio de Janeiro, v.29, n.112, jul./set. 2021
Editorial
- A Educação, a pandemia e a sociedade do cansaço
Dias, Érika | · texto em Português | · Português (pdf )
Artigo
- Educação durante e depois da pandemia
Gomes, Candido Alberto; Sá, Susana Oliveira e; Vázquez-Justo, Enrique; Costa-Lobo, Cristina - resumo em PortuguêsInglês | Espanhol · texto em Inglês · Inglês ( pdf )
- A produção intelectual sobre Qualis Periódicos na área de Educação: um diálogo com as pesquisas acadêmicas (2008-2018)
Carvalho, Eliane Souza de; Real, Giselle Cristina Martins - resumo em Português| Inglês | Espanhol · texto em Português · Português ( pdf )
- Efeitos da status socioeconômico no uso da linguagem escrita: estende-se ao Ensino Superior brasileiro?
Beltrão, Kaizô Iwakami; Mandarino, Mônica; Megahós, Ricardo Servare; Pedrosa, Mônica Guerra Ferreira - resumo em Português| Inglês | Espanhol · texto em Inglês · Inglês ( pdf )
- Avaliação do nível de satisfação discente de uma instituição de Ensino Superior: uma análise dos métodos da Teoria Clássica da Medida e da Teoria da Resposta ao Item
Petrassi, Anna Cecilia Amaral; Bornia, Antonio Cezar; Andrade, Dalton Francisco - resumo em Português|Inglês | Espanhol · texto em Português · Português ( pdf )
- Percursos de estudantes da Educação Superior com trajetórias de insucesso
Frison, Lourdes Maria Bragagnolo; Simão, Ana Margarida Veiga; Ferreira, Paula da Costa; Paulino, Paula - resumo em Português|Inglês | Espanhol · texto em Português · Português ( pdf )
- Equilíbrio entre trabalho e vida no Ensino Superior: uma revisão sistemática do impacto no bem-estar dos professores
Franco, Luciane Silva; Picinin, Claudia Tania; Pilatti, Luiz Alberto; Franco, Antonio Carlos - resumo em Português| Inglês | Espanhol · texto em Inglês · Inglês ( pdf )
- Juvenilização da EJA e as implicações no processo de escolarização
Souza Filho, Alcides Alves de; Cassol, Atenuza Pires; Amorim, Antonio - resumo em Português | Inglês | Espanhol · texto em Português · Português ( pdf )
- A inclusão educacional de estudantes universitários com deficiência em Honduras
Paz-Maldonado, Eddy - resumo em Português| Espanhol | Inglês · texto em Espanhol · Espanhol ( pdf )
- Escala de sondagem do desenvolvimento neuropsicomotor e de habilidades acadêmicas para o Ensino Fundamental I: percepção de professores
Julião, Bruna de Oliveira; Piza, Carolina Toledo; Mello, Claudia Berlim de - resumo em Português| Inglês | Espanhol · texto em Português · Português ( pdf )
- Uma base comum na escola: análise do projeto educativo da Base Nacional Comum Curricular
Filipe, Fabiana Alvarenga; Silva, Dayane dos Santos; Costa, Áurea de Carvalho - resumo em Português| Inglês | Espanhol · texto em Português · Português ( pdf )
- Modelagem de Equações Estruturais e os testes de seleção – Caso do vestibular da Universidade Estadual do Ceará
Maia, José Leudo; Lima, Marcos Antonio Martins - resumo em Português| Inglês | Espanhol · texto em Português · Português ( pdf )
Página Aberta
- Avaliação do processo de formação do caráter em crianças na Educação Infantil
Miranda, Bruna Rodrigues Cardoso; Lins, Maria Judith Sucupira da Costa - resumo em Português| Inglês | Espanhol · texto em Português · Português ( pdf )
Castigar la disidencia. Juicios y condenas en la elite dirigente rioplatense, 1806/1808- 1820 | Irina Poastrelli
Acreedor del Premio de la Academia Nacional de la Historia a las Obras Inéditas (2015-2016) y publicado como resultado en 2019, Castigar la disidencia presenta una versión revisada de la tesis doctoral defendida por Irina Polastrelli en la Universidad Nacional de Rosario durante 2016. En ella, la autora abordó un problema medular de la política argentina: la conflictividad en la tramitación de la oposición en el momento mismo en que la crisis del orden colonial y la disrupción revolucionaria inauguraban la era de la política en el Río de la Plata. Su investigación explora los mecanismos judiciales para procesar la conflictividad política en el período que va desde la crisis desatada por las Invasiones Inglesas en 1806 y 1807 hasta la disolución del poder central en 1820, revisando, de manera crítica, la literatura elaborada por la historia tradicional del derecho que ha señalado, de manera anacrónica, que esa conjunción de la justicia y la política atentaba contra la independencia de los poderes públicos.
Como la autora señala en la introducción, las preocupaciones por la gobernabilidad y la domesticación del conflicto estuvieron anudadas a lo largo del período al anhelo por la recomposición del cuerpo político, que tanto las autoridades coloniales como las dirigencias revolucionarias entendieron como fracturado por la inestabilidad abierta con la respuesta a las Invasiones Inglesas, y luego, por las disidencias sostenidas sobre el rumbo que debía seguir el proceso revolucionario. Es decir que los mecanismos por los cuales se intentó pacificar la política en esos años estuvieron siempre informados por una forma particular de entender las disputas y la disidencia: como elementos extraños y accidentales, no constitutivos, del orden político (colonial o revolucionario) que buscaba preservarse. Leia Mais
Historia de la prensa escrita en San Juan. Publicaciones sanjuaninas en tiempos de la Organización Constitucional (1852-1858) | María Gnecco, Fabiana Puebla, Carlos Moreno, Gema Contreras, Inés Rueda, Yemina Chiefalá, Silvia Sánchez, Guillermo Pereira, Enrique Rodríguez, Diego Heredia e Verónica Robles
La importancia de la prensa como fuente y objeto de estudio conforma una de las principales variantes de la renovación historiográfica experimentada en las últimas décadas. Esa concepción es la que toman y profundizan las y los investigadores en Historia de la prensa escrita en San Juan. Publicaciones sanjuaninas en tiempos de la Organización Constitucional (1852-1858). 1 Dicha publicación, si bien escrudiña en los aspectos generales apuntados en la primera línea, a través de los diferentes capítulos propone y desarrolla diversos objetivos atinentes a la historia provincial y nacional, incluso, incurre en ciertas propuestas metodológicas.
La investigación centra su atención en los avatares políticos del convulsionado territorio de San Juan de mediados del siglo XIX, donde el traspaso hacia nuevos tiempos llevó a implementar a nivel local inéditas experiencias institucionales –como la sanción de la primera constitución– acompañadas, al mismo tiempo, de la acrecentada violencia ejercida en manos de grupos en disputa por el poder en la escena política sanjuanina. La particularidad del mentado espacio cuyano trascendió notablemente al nivel de la Confederación Argentina, producto de distintos magnicidios –por ejemplo, el asesinato del exgobernador Nazario Benavides– que contribuyeron a la inestabilidad del proyecto nacional inaugurado por Justo J. de Urquiza a comienzos de la década de 1850. Esta vorágine es abordada mediante el prólogo y diez capítulos donde pueden identificarse tres tipos de trabajos –no presentados en forma consecutiva– caracterizados por la indagación de cuestiones teóricas, un periódico en particular o estudios de caso dentro de la prensa. Leia Mais
Los “indios de la Pampa” a través de la mirada misionera: un relato fotográfico del “dilatado yermo pampeano” | Ana María T. Rodríguez
Esta publicación es un nuevo aporte a uno de los objetivos que desde hace más de una década se incorporó a las distintas líneas de investigación y de extensión universitaria en el Instituto de Estudios Socio-Históricos (FCH-UNLPam): la inclusión de un área transversal destinada a la recuperación de fuentes y documentación histórica. De ese modo, se pretende socializar documentación, imágenes y testimonios para futuros estudios y la consulta del público.
En la línea de lo que podríamos denominar genéricamente “estudios de la religión”, el equipo dirigido por Ana María T. Rodríguez (2008) publicó inicialmente la traducción al español de Nella Pampa Central, donde el padre inspector salesiano José Vespignani historiza la presencia de los salesianos entre 1895 a 1922. El manuscrito, precedido por tres textos que lo contextualizan, fue redactado para dar cuenta del accionar religioso de esa congregación en esta región. Leia Mais
Caminhos da História. Montes Claros, v.26, n.2, 2021.
Dossiê “História e Saúde: as interfaces entre a ação pública, as iniciativas da sociedade civil e as inovações tecnológicas”, sob a coordenação e organização da Profa. Dra. Vanessa Lana (UFV) e do Prof. Dr. Luiz Antônio Teixeira (PPGHCS/COC/Fiocruz).
Editorial
Dossiê
- Apresentação – Dossiê – História e saúde: as interfaces entre a ação pública, as iniciativas da sociedade civil e as inovações tecnológicasPresentation – Dossier – History and health: interfaces between public action, civil society initiatives and technological innovations
- Vanessa Lana, Luiz Antônio Teixeira | PDF
- Por uma história da saúde do Vale do Jequitinhonha: reflexões sobre práticas populares de curaFor a history of health in the Vale do Jequitinhonha: reflections on popular healing practices
- Keila Auxiliadora Carvalho, Ramon Feliphe Souza | PDF
- A atenção primária à saúde no SUS: o processo de construção de uma política nacional (1990-2006)Primary health care in SUS: the process of building a national policy (1990 – 2006)
- Carlos Henrique Assunção Paiva | PDF
- Políticas de controle do câncer de mama no BrasilBreast cancer control policies in Brazil
- Thaislayne Nunes de Oliveira, Mônica de Castro Maia Senna | PDF
- Quantificar, padronizar e planejar: registros de câncer e atenção oncológica no Brasil (1960-1980)Quantify, standardize and plan: cancer registries and cancer care in Brazil (1960-1980)
- Luiz Alves Araújo Neto | PDF
- Câncer de mama: uma preocupação para a mulher cearense, 1950 a 1980Breast cancer: a concern for women from Ceará, 1950 to 1980
- Thayane Lopes Oliveira | PDF
- O câncer de mama e a sociedade civil: as ações da FEMAMA na regulamentação temporal para diagnóstico e tratamento da doença no BrasilBreast cancer and civil society: actions of FEMAMA in the temporal regulation for diagnosis and treatment of the disease in Brazil
- Vanessa Lana, Luiz Antônio Teixeira | PDF
- Narrativas sobre a Síndrome Pós-pólio em associações de pacientes do Brasil e da Espanha nos meios digitaisPostpolio syndrome narratives in Brazilian and Spanish patient associations in digital media
- Danielle Souza Fialho da Silva | PDF
Artigos Livres
- “Entre a cruz e a coroa, o trono e o altar, a fé e o império”: o padroado real e a colonização brasileira a partir das minas do Serro do Frio e Vila do Príncipe, Minas Gerais, 1702-1721“Between cross and crown, throne and altar, faith and empire”: the real standard and Brazilian colonization from the mines of Serro do Frio and Vila do Príncipe, Minas Gerais, 1702-1721
- Danilo Arnaldo Briskievicz | PDF
- A lança de Aquiles e a opinião pública nos jornais do Rio de Janeiro (1875-1889)The spear of Achilles and public opinion in the newspapers of Rio de Janeiro (1875-1889)
- George Vidipó | PDF
- Deficiência, educação e trabalho na 1ª Conferência Nacional de Educação (1927)Disability, education and work at the 1ª National Conference on Education (1927)
- Audrei Rodrigo da Conceição Pizolati | PDF
- Intelectuais paranaenses e a construção do pensamento social no ParanáParaná intellectuals and the construction of social thought in Paraná
- Letícia Leal de Almeida | PDF
- Pesquisador ou professor: o conflito identitário do historiadorResearcher or teacher: the conflict of historian identity
- Ricardo de Aguiar Pacheco | PDF
Resenha
- Civilização, tronco de escravos: um protesto radical pela liberdade integralCivilization, slave trunk: a radical protest for integral freedom
- Nabylla Fiori de Lima | PDF
Publicado:2021-07-01
Der Briefwechsel: 1953–1983 | Reinhart Koselleck e Carl Schmitt || Der Begriff der Politik: Die Moderne als Krisenzeit im Werk von Reinhart Kosellec | Genaro Imbriano
Reinhart Koselleck e Carl Schmitt | Fotos: Neue Bürcher Zeitung e Prodavinci
 The correspondence between the conceptual historian Reinhart Koselleck (1923–2006) and the radical-conservative legal and political theorist Carl Schmitt (1888–1985) is certain to attract scholarly attention—and to produce expectations. So far, we have only caught unsystematic glimpses of these theorists’ private exchanges, which began in the early 1950s. Scholarship on Koselleck, particularly Niklas Olsen’s History in the Plural: An Introduction to the Work of Reinhart Koselleck and Gennaro Imbriano’s Der Begriff der Politik: Die Moderne als Krisenzeit im Werk von Reinhart Koselleck, which is under review here, has utilized the correspondence and related archival sources, albeit noncomprehensively and without assessing their overall import for the Schmitt/Koselleck question.1 With the letters now made available in 2019’s Der Briefwechsel: 1953–1983, edited by Jan Eike Dunkhase, the wider (German-speaking) audience can form its own opinions about the thinkers’ relationship and assess their similarities and differences. Leia Mais
The correspondence between the conceptual historian Reinhart Koselleck (1923–2006) and the radical-conservative legal and political theorist Carl Schmitt (1888–1985) is certain to attract scholarly attention—and to produce expectations. So far, we have only caught unsystematic glimpses of these theorists’ private exchanges, which began in the early 1950s. Scholarship on Koselleck, particularly Niklas Olsen’s History in the Plural: An Introduction to the Work of Reinhart Koselleck and Gennaro Imbriano’s Der Begriff der Politik: Die Moderne als Krisenzeit im Werk von Reinhart Koselleck, which is under review here, has utilized the correspondence and related archival sources, albeit noncomprehensively and without assessing their overall import for the Schmitt/Koselleck question.1 With the letters now made available in 2019’s Der Briefwechsel: 1953–1983, edited by Jan Eike Dunkhase, the wider (German-speaking) audience can form its own opinions about the thinkers’ relationship and assess their similarities and differences. Leia Mais
History & Theory. v.60, n.3, sept. 2021.
Issue Information
- Free Access
- Issue Information
- First Page
- Request permissions
Iterations: Historical Futures, edited by Zoltán Boldizsár Simon and Marek Tamm
- HOMO COMPLEXUS: THE “HISTORICAL FUTURE” OF COMPLICITY
- NITZAN LEBOVIC
- Abstract
- Full text
- Request permissions
The Eighth History and Theory Lecture and Responses
- CHRONOS, KAIROS, KRISIS: THE GENESIS OF WESTERN TIME
- FRANÇOIS HARTOG
- First Page
- Full text
- Request permissions
Responses
- A Response toFrançois Hartog, “Chronos, Kairos, Krisis: The Genesis of Western Time”
- GABRIELLE M. SPIEGEL
- First Page
- Full text
- Request permissions
- A Response toFrançois Hartog, “Chronos, Kairos, Krisis: The Genesis of Western Time”
- DANA SAJDI
- First Page
- Full text
- Request permissions
- A Response toFrançois Hartog, “Chronos, Kairos, Krisis: The Genesis of Western Time”
- NITZAN LEBOVIC
- First Page
- Full text
- Request permissions
- A Response toFrançois Hartog, “Chronos, Kairos, Krisis: The Genesis of Western Time”
- ETHAN KLEINBERG
- First Page
- Full text
- Request permissions
- A Response toFrançois Hartog, “Chronos, Kairos, Krisis: The Genesis of Western Time”
- ZVI BEN-DOR BENITE
- First Page
- Full text
- Request permissions
- A Response toFrançois Hartog, “Chronos, Kairos, Krisis: The Genesis of Western Time”
- DIPESH CHAKRABARTY
- First Page
- Full text
- Request permissions
Articles
- GETTING BACK TO NORMAL: ON NORMATIVITY IN HISTORY AND HISTORIOGRAPHY
- DANIEL WOOLF
- Abstract
- Full text
- Request permissions
- THE ESSENTIAL TENSION: HISTORICAL KNOWLEDGE BETWEEN PAST AND PRESENT
- GEORG GANGL
- Abstract
- Full text
- Request permissions
Forum: What Is a Postcolonized History? Seeing India through Mexico
- CHASING INDIA IN MEXICO CITY
- TAYMIYA R. ZAMAN
- Abstract
- Full text
- Request permissions
- READING ACROSS FIRISHTA AND CHIMALPAHIN
- MANAN AHMED ASIF
- Abstract
- Full text
- Request permissions
- RESPONSES FROM LATIN AMERICA: THOUGHTS OF A CONTEMPORARY SCHOLAR AND OF THE SEVENTEENTH-CENTURY INDIGENOUS HISTORIAN CHIMALPAHIN
- CAMILLA TOWNSEND
- Abstract
- Full text
- Request permissions
Review Essays
- Open Access
- THE LONG GOODBYE: RECENT PERSPECTIVES ON THE KOSELLECK/SCHMITT QUESTION
- Timo Pankakoski
- Abstract
- Full text
- Request permissions
- CATASTROPHE NOW
- Jonathon Catlin
- Abstract
- Full text
- Request permissions
September 2021
Boletim de História e Filosofia da Biologia. [?] v.15, n.3, 2021.
VOLUME 15, NÚMERO 3
SETEMBRO DE 2021
- Publicado pela Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia (ABFHiB)
- Encontro de História e Filosofia da Biologia 2022
- Chamada para publicação “Dossiê História e Filosofia da Genética”
- Celebração dos 30 anos do GHTC
- Comemoração dos 150 anos de The Descent Of Man, de Charles Darwin
- Dissertações e teses
- Tradução: “A contínua importância da obra de Giuseppe Raddi”, por Susanne Renner
- Tradução: “Ética evolutiva: o ressurgir da fênix”, por Michael Ruse
Escravidão e Pós-Abolição no Brasil | Crítica Histórica | 2021
Em um momento de transformações e muitas reflexões acerca do mundo pandêmico em que vivemos, pensar e produzir ciência no Brasil tem sido cada vez mais desafiador. Além da covid-19 e suas variantes, vivemos em meio aos ataques que sofrem cientistas, pesquisadores, professores e todo sistema de ensino. Em vista disso, fazer ciência e produzir conhecimento têm sido uma tarefa que serve para mostrar nossa capacidade de sermos resilientes e resistentes. Ao idealizarmos a proposta deste dossiê temático, que agora será visto concretizado nas páginas que seguem, pensávamos em trazer novos detalhes de um processo que começou com a escravização de homens e mulheres e que reverbera até hoje em nosso Brasil. Um país racista, apesar de muitos não conseguirem reconhecer e/ou enxergar tal assertiva, que tem uma sociedade marcada por divisões socais que muitas vezes remontam às práticas de um Antigo Regime.
Em vista disso, lembramos que existem ao menos três décadas que a academia brasileira vem produzindo de modo sistemático pesquisas sobre o processo de escravidão e do pós-abolição, mostrando uma preocupação com o papel dos escravizados e de seus descendentes. Vários autores e autoras têm mostrado a partir da ampliação das fontes, dos métodos e das temáticas centradas nos indivíduos, grupos e sociabilidades como o processo de escravização e o pós-13 de maio são marcados por contradições e nuances que sofrem variações dependendo do local e época de abordagem. Tais estudos têm identificado que sempre existiram muitas lutas por autonomia e afirmação da liberdade. Leia Mais
Territorialidad y poder regional de las intendencias en las independencias de México y Perú | Scarlett O’phelan, Ana Carolina Ibarra
Los vínculos entre poder y territorio han constituido un fructífero campo de investigación desde que, en la década de 1990 -principalmente, aunque con algunos antecedentes significativos-, se pusiera mayor énfasis en la interdependencia entre lo político-institucional y la dimensión espacial. En el caso de la monarquía hispánica, durante el lapso transcurrido entre las reformas borbónicas y el nacimiento de las repúblicas americanas, asistimos a una redefinición de la territorialidad y de las relaciones de poder, especialmente perceptible en el ámbito regional. Lo acontecido en los virreinatos del Perú y Nueva España durante el largo periodo de las guerras de independencia constituye un laboratorio de experiencias para comparar y explicar procesos complejos, no siempre bien interpretados. Sobre ambas vastas áreas tuvieron especial impacto los cambios organizativos introducidos por la corona española a finales del siglo XVIII, las crisis derivadas del estallido de movimientos insurgentes y revolucionarios, las dificultades para aplicar la legislación liberal, la preponderancia que adquirían las armas en la resolución de los conflictos y la configuración variable de límites fronterizos. Así, el control del territorio, en sus diversas posibilidades, constituyó un asunto prioritario en ese tiempo de cambios acelerados e incertidumbre. Políticos, funcionarios, eclesiásticos, comerciantes y militares, entre otros, tomaron plena conciencia de que el dominio del espacio y el buen conocimiento de la geografía eran la mejor garantía para sus distintos intereses. Leia Mais
Anuário Colombiano de História Social y de la Cultura. Bogotá, v. 48, n.2, 2021.
La circulación de impresos en América Latina
Editorial
- Editorial. La circulación de impresos en América Latina: del relativo aislamiento a una maraña de circuitos internosEditorial. The Circulation of Printed Matter in Latin America: From Relative Isolation to a Tangle of Internal CircuitsEditorial. A circulação de impressos na América Latina: do relativo isolamento a um emaranhado de circuitos internos
- Juan David Murillo Sandoval, Aimer Granados
- PDF Texto completo XHTML
Obituario
- Obituario. Mario Arrubla YepesObituary. Mario Arrubla YepesObituário. Mario Arrubla Yepes
- Sandra Jaramillo Restrepo
- PDF Texto completo XHTML
Artículos / Dossier
- “Que se han de embarcar para la provincia del Paraguay”. Procuradores jesuitas y circulación de libros en el Río de la Plata, mediados del siglo XVIII“To be Shipped to the Province of Paraguay”. Jesuit Procurators and Circulation of Books in Río de la Plata, Middle of the 18th Century“Que têm que embarcar para a província do Paraguai”. Procuradores jesuítas e circulação de livros no Río de la Plata, meados do século XVIII
- Fabián R. Vega
- PDF Texto completo XHTML
- La “donación patriótica” de Manuel Ancízar a la Biblioteca Nacional (1849-1853)Manuel Ancízar’s “Patriotic Donation” to the National Library (1849-1853)A “doação patriótica” de Manuel Ancízar à Biblioteca Nacional (1849-1853)
- Juan Pablo Arango Cortés, Javier Ricardo Ardila, Isabel Cristina González Moreno, Diana Monroy-García, Óscar Yesid Zabala Sandoval
- PDF Texto completo XHTML
- Imaginarios racializados: impresos sobre tipos cubanos del español Víctor Patricio de Landaluze durante la segunda mitad del siglo XIXRacialized Imaginaries: Prints of Cuban Types by the Spanish Victor Patricio de Landaluze during the Second Half of the 19th CenturyImaginários racializados: impressos de tipos cubanos do espanhol Victor Patricio de Landaluze durante a segunda metade do século XIX
- Olga María Rodríguez Bolufé
- PDF Texto completo XHTML
- Edición y frustración. El fracaso de la colección Poetas Hispano-Americanos y los límites del comercio de librería en América Latina a fines del siglo XIXPublishing and Frustration. The Failure of the Poetas Hispano-Americanos Collection and the Limits of the Bookstore Trade in Latin America in the Late 19th CenturyEdição e frustração. O fracasso da coleção Poetas Hispano-Americanos e os limites do comércio livreiro na América Latina no final do século XIX
- Juan David Murillo Sandoval
- PDF Texto completo XHTML
- Duelos impressos: a circulação de notícias sobre duelos na imprensa brasileira. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 1910-1930Printed Duels: The Circulation of News about Duels in Brazilian Press. Rio Grande do Sul and Rio de Janeiro, 1910-1930Duelos impresos: la circulación de noticias sobre duelos en la prensa brasileña. Río Grande del Sur y Río de Janeiro, 1910-1930
- Mariana Flores Da Cunha Thompson Flores, José Martinho Rodrigues Remedi
- PDF (Português) Texto completo XHTML
- Livros e política nas relações culturais dos Estados Unidos com o Brasil (1930-1946)*Books and Politics in the United States’ Cultural Relations with Brazil (1930-1946)Libros y política en las relaciones culturales de Estados Unidos con Brasil (1930-1946)
- Eliza Mitiyo Morinaka
- PDF (Português) Texto completo XHTML
- El Manifiesto comunista en Chile: circulación y ediciónThe Communist Manifesto in Chile: Circulation and EditionO Manifesto comunista no Chile: circulação e edição
- Horacio Tarcus
- PDF Texto completo XHTML
- El Fondo de Cultura Económica y su sucursal en Argentina: convenios comerciales y circulación de producciones editoriales (1945-1955)The Fondo de Cultura Económica and its Branch in Argentina: Trade Agreements and Circulation of Editorial Productions (1945-1955)O Fondo de Cultura Económica e sua filial na Argentina: acordos comerciais e circulação de produções editoriais (1945-1955)
- Francisco Joel Guzmán Anguiano
- PDF Texto completo XHTML
Artículos / Historiografía y Teoría
- Hacia un mapa de revistas de la Nueva Izquierda intelectual colombiana surgida en la década de 1960Towards a Map of Magazines of the Colombian Intellectual New Left that Emerged in the 1960sEm direção a um mapa de revistas da Nova Esquerda intelectual colombiana surgida na década de 1960
- Sandra Jaramillo Restrepo
- PDF Texto completo XHTML
Artículos / Tema Libre
- Permanencias y transformaciones: el territorio muisca en la Sabana de Bogotá en la segunda mitad del siglo XVIPermanencies and Transformations: The Muisca Territory in the Sabana de Bogotá in the Second Half of the 16th CenturyPermanências e transformações: o território Muisca da Sabana de Bogotá na segunda metade do século XVI
- Lorena Rodríguez Gallo
- PDF Texto completo XHTML
- La devoción de las tinieblas. Génesis y rituales de la fiesta de la Candelaria de Medellín, 1630-1800La devoción de las tinieblas. Genesis and Rituals of the Candelaria Festival in Medellín, 1630-1800La devoción de las tinieblas. Gênesis e rituais da festa da Candelaria em Medellín, 1630-1800
- Orián Jiménez Meneses
- PDF Texto completo XHTML
- Socialistas y comunistas como agentes tipográficos en Colombia (1920-1932)Socialists and Communists in Colombia as Typographic Agents (1920-1932)Socialistas e comunistas na Colômbia como agentes tipográficos (1920-1932)
- Andrés Caro Peralta
- PDF Texto completo XHTML
Reseñas
- Alejandro E. Parada. Lectura y contralectura en la Historia de la Lectura.
- Ayelén Dorta
- PDF Meha Priyadarshini. Chinese Porcelain in Colonial Mexico. The Material Worlds of an Early Modern Trade.
- María Astrid Ríos Durán
- PDF Pedro Guibovich Pérez. Imprimir en Lima durante la colonia. Historia y documentos, 1584-1750.
- Carlos Zegarra Moretti
- PDF Giovanni Levi. Microhistorias.
- Renán Silva
- Katherinne Mora Pacheco. Entre sequías, heladas e inundaciones. Clima y sociedad en la Sabana de Bogotá, 1690-1870.
- Diana Bonnett Vélez
- Marcello Ravveduto. Lo spettacolo della mafia, storia di un immaginario tra realtà e finzione.
- Hernán Rodríguez Vargas
- Hernando Cepeda Sánchez y Sebastián Vargas Álvarez, eds. Recorridos de la historia cultural en Colombia.
- Gabriel Eduardo Mejía Cepeda, Manuela Parra Echeverri, Andrés Felipe Ruiz Gallego
- Yobenj Chicangana-Bayona, María Cristina Pérez Pérez y Ana María Rodríguez Sierra, comps. El oficio del historiador. Reflexiones metodológicas en torno a las fuentes.
- Sebastián Vargas Álvarez
- Juan Carlos Gaona. Disidencia religiosa y conflicto sociocultural. Tácticas y estrategias evangélicas de lucha por el modelamiento de la esfera pública en Colombia (1912-1957).
- Daniel Andrés Zambrano
- Aimer Granados y Sebastián Rivera Mir, coords. Prácticas editoriales y cultura impresa entre los intelectuales latinoamericanos en el siglo XX.
- Rafael Rubiano Muñoz
Publicado: 2021-06-11
A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil | Lilia M. Schwarcz e Heloísa M. Starling
A pandemia de gripe espanhola foi um dos fenômenos mais devastadores que a humanidade já vivenciou. A doença irrompeu no hemisfério norte na primavera de 1918 e em menos de seis meses, matou milhões de pessoas em todo o mundo. Fenômeno global, a pandemia teve maior alcance e ceifou mais vidas do que a peste bubônica, que assolou grande parte da Ásia e da Europa em meados do século XIV. Apesar da abrangência e da destrutividade da pandemia de gripe de 1918-1919, durante muitos anos ela foi silenciada não só pelos que sobreviveram à catástrofe, mas também pelos historiadores, mais inclinados a investigar questões relativas à economia, à política e às guerras. Não à toa, o historiador norte-americano Alfred Crosby a denominou de “a pandemia esquecida”.
Contudo, nas últimas décadas do século XX, período marcado por sucessos da medicina, como a erradicação da varíola, e de derrotas imprimidas pela reemergência de doenças tidas como erradicadas e surgimento de novas, como a Aids, o olhar dos historiadores se voltou para a história da saúde e das doenças. Nesse contexto, estudos sobre epidemias e pandemias se multiplicaram em vários países e o Brasil tem seguido essa tendência com uma produção crescente de estudos sobre epidemias e pandemias do passado, realizados, sobretudo, nos programas de pós-graduação. Dentre as epidemias e pandemias estudadas, figura a de gripe espanhola (1918-1919), que vem sendo mapeada em várias partes do mundo, incluindo-se o Brasil. Leia Mais
O feroz mosquito africano no Brasil: o Anopheles gambiae entre o silêncio e a sua erradicação (1930-1940) | Gabriel Lopes
Já vai longe o tempo da história dos grandes homens, dos manuais escolares ilustrados com figuras varonis. Nas últimas décadas, o público leitor se acostumou com histórias da vida privada, do cotidiano, das mulheres e de outros atores ou mesmo protagonistas que até então eram vistos como subalternos ou meros coadjuvantes de uma história por demais eurocêntrica. Em 1961, Jean-Paul Sartre anteviu a emergência de novos atores na contemporaneidade ao prefaciar o livro Os condenados da terra, de Frantz Fanon. O filósofo percebeu que os indivíduos do “terceiro mundo” seriam os novos protagonistas de uma história pós-colonial. Alguns anos depois, Emmanuel Le Roy Ladurie propôs uma história assaz diferente. Ao estudar as oscilações climáticas na longa duração, o historiador contribuiu para relativizar o papel do ser humano e do seu lugar no palco da história.1 Na década seguinte, o balbuciar de uma história ambiental favoreceu novas perspectivas, menos dualistas e mais ecológicas, com ênfase nas complexas interações entre os seres vivos e suas correlações em diferentes ecossistemas (PÁDUA, 2010). Leia Mais
Pandemia cristofascista | Fábio Py
O pesquisador Fábio Py lançou, em junho de 2020, Pandemia cristofascista, publicação em formato e-book, pela editora Recriar. A obra é o quarto volume da série “Contágios infernais”, organizada por Fellipe dos Anjos e João Luiz Moura. O autor da obra em questão é doutor em teologia pela PUC-Rio e professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). O texto de Fábio Py chama a atenção logo no título, que é justificado pelo próprio autor:
São reflexões que versam sobre o contexto e vivência da pandemia desde os primeiros casos do novo coronavírus, no território. No título, há o termo ‘cristofascista’ porque essa é a forma de governo que está gerindo o contexto da pandemia. ‘Cristofascista’ porque instrumentaliza seu mandato pelo fundamentalismo evangélico conservador (PY, 2020, p. 9). Leia Mais
A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade | Ulrich Beck
O diálogo com sociólogos como Jürgen Habermas e Pierre Bourdieu ampliaram os horizontes da História e levaram a produções fundamentais dentro da historiografia. Contudo, parece que o trabalho de Ulrich Beck ainda não foi devidamente apreciado pelos historiadores. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade pode ser uma oportunidade interessante para se aproximar de sua teoria social, além disso, é um diagnóstico histórico ambicioso sobre as transformações do mundo contemporâneo.
Ulrich Beck foi professor de sociologia na Universidade de Munique, na London School of Economic’s and Political Science e doutor honoris causa por diversas universidades europeias. As preocupações e questões desenvolvidas no conjunto de sua obra o colocam ao lado dos grandes intérpretes da modernidade, como o próprio Jürgen Habermas, Michel Foucault e Zygmunt Bauman. Beck tornou-se conhecido após a publicação de Risikogesellshaft (1986), traduzido para o português com o título Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade (BECK, 2011). Esse livro foi publicado no mesmo ano em que ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl, as incertezas e o sentimento de falta de controle em relação ao uso da energia nuclear apresentavam uma impressionante coincidência com as análises desenvolvidas por Beck. Leia Mais
História & Luta de Classes. [?], v.17, n.32, set. 2021.
História e Gênero
- Resumo
- O que vemos através da lente da Teoria da Reprodução Social? (Clara Saraiva)
- A presença da mulher no anarquismo internacional. (Nicole Angélica Schneider)
- A mulher na história das lutas socialistas no Brasil. (Ândrea Francine Batista)
- Gênero, raça e classe no movimento feminista brasileiro nas décadas de 1970 e 1980: uma discussão a partir da experiência de mulheres negras. (Bárbara Araújo Machado)
- Encarnar a revolução nos corpos: a militância do PRT-ERP durante os anos 70 (María Gracia Tell)
- Operadoras de telemarketing: uma abordagem acerca da precarização do trabalho (Gabriella Monteiro Vieira.)
- O Partido Socialista Revolucionário e a alternativa trotskista ao PCB e à “União Nacional” (1945-1947). (Henrique de Bem Lignani)
- A história soviética em perspectiva – Resenha de: SECCO, Lincoln. História da União Soviética: uma introdução (Frederico Duarte Bartz)
Pandemias e epidemias em perspectiva histórica | Topoi | 2021
Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o narrador registra sua perplexidade e sofrimento contido pela morte de sua pretendente. Esta, entre muitas mortes, fora causada pela chegada e instalação da febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império, na segunda metade do século XIX:
[…] doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que, matando à direita e à esquerda, levou também uma jovem dama que tinha de ser minha mulher; não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes (ASSIS, 1881, cap. 126 – Desconsolação, p.327-328.).
Há inúmeras passagens na literatura brasileira sobre epidemias, especialmente a febre amarela, a varíola, a gripe espanhola e, mais recentemente HIV-Aids, seja como pano de fundo e contexto, seja quase como um personagem. De Machado de Assis a Caio Fernando de Abreu, passando por João do Rio, Erico Verissimo e Pedro Nava, entre muitos outros, epidemias e pandemias estão presentes nas várias expressões da cultura brasileira e latino-americana. Resultam de experiências que, ao mesmo tempo, são individuais e coletivas, subjetivas e realistas, singulares e universais que têm sido crescentemente escrutinadas por historiadores e historiadoras, especialmente diante da mesma perplexidade produzida pela pandemia de COVID-19. Leia Mais
Revisitações à obra de Rosa Virgínia Mattos e Silva | LaborHistórico | 2021
O nome de Rosa Virgínia Mattos e Silva (1940-2012) e a área da Linguística Histórica confundem-se no Brasil, sendo praticamente impossível fazer remissão a uma desconsiderando a outra. Quando quase ninguém mais no país estudava de modo sistemático a história da língua portuguesa e o seu período arcaico (séculos XIII a XVI), impulsionada pelo seu grande mestre, o Prof. Nelson Rossi, despontava já nos anos 60 essa linguista baiana na tessitura de laços entre o labor filológico e a análise linguística historicocêntrica, colaborando na edição do Livro das Aves (séc. XIV)1.
Durante uma carreira de mais de 40 anos, lançou-se, sem pausa, a uma perscrutação da língua portuguesa em seus primórdios, projetando-se como a estudiosa, por antonomásia, das sincronias mediévicas do português. Primeira linguista a obter o título de Pioneira da Ciência no Brasil, pelo CNPq (em 2015)2 -autora de diversos livros, capítulos de livros e artigos; orientadora de dezenas de teses de doutorado, dissertações de mestrado e projetos de iniciação científica3 – foi e continua sendo uma referência obrigatória para os que se debruçam sobre a Linguística Histórica e sobre o fluxo temporal constitutivo do português, por ser ela, nas palavras de Carlos Faraco (2021)4 , uma figura especial, um verdadeiro “[…] elo entre a tradição filológica e as tendências correntes na linguística contemporânea.” (FARACO, 2021, p. 8) 5. Não é por acaso que a sobredita pesquisadora é considerada como um dos principais agentes envolvidos no processo de ressurgimento da fênix — a Linguística Histórica — no domínio da língua portuguesa (CASTILHO, 2012 6; FARACO, 2018 7, 20098 ). Daí a afirmação de Castilho (2012)9 de que celebrar tal linguista é, em outras palavras, celebrar a Linguística Histórica no Brasil. Leia Mais
Antrope. Tomar, n.13, set. 2021.
Artigos
Editorial
- Ana Pinto da Cruz
- Download (pdf) >>
- PONTAS BIFACIAIS DO PAMPA SUL-RIOGRANDENSE: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE TECNOLÓGICA PARA MATERIAIS FORA DE CONTEXTO OU EM CONTEXTO PERTURBADO
- Átila Perillo Filho
- Resumo | Download (pdf) >>
- SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA PCH BEDIM, PARANÁ: APRESENTAÇÃO DA INDÚSTRIA LÍTICA DO SÍTIO BARRO MOLE
- Jardel Stenio de Araújo Barbosa, Marcos Vinicius Oliveira dos Santos, Paula Rocha Marino de Araújo e Jaisson Teixeira Lino
- Resumo | Download (pdf) >>
- CULTURA MATERIAL DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO SC-ARA-001 ZULEMAR MARIA DE SOUZA EM BALNEÁRIO RINCÃO – SANTA CATARINA (BRASIL)
- Valmir Manoel Mendes Junior e Willian Carboni Viana
- Resumo | Download (pdf) >>
- PAISAGEM CULTURAL MARÍTIMA, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ARQUEOLOGIA NOS CONCHEIROS NO SENEGÂMBIA
- Alioune Dème, Moustapha Sall e Maguèye Thioub
- Resumo | Download (pdf) >>
- PRESUMÍVEIS MILIÁRIOS DO ITINERÁRIO ROMANO PESO DA RÉGUA – MOIMENTA (ARABRIGA?) – MARIALVA (CIVITAS ARAVORVM)
- José d’Encarnação e José Carlos Santos
- Resumo | Download (pdf) >>
- INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA NO ANTIGO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA, EM SETÚBAL: A PLANTA QUINHENTISTA
- Carlos Fernando Russo dos Santos, Raquel Florindo e José Luís Neto
- Resumo | Download (pdf) >>
- ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO NO FÓRUM LUÍSA TODI SUBSÍDIO PARA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS NA CIDADE DE SETÚBAL
- José Luís Neto e Maria João Cândido
- Resumo | Download (pdf) >>
- TALES FROM THE GRAVE – TWO XVIITH CENTURY TOMBSTONES OF DUTCH MERCHANTS FROM THE UNITED EAST INDIA’S COMPANY (VOC) – A REDISCOVERY IN NAGULAWANCHA (NAGELWANZEE), INDIA
- Marco Valente e Sachin Kr. Tiwary
- Resumo | Download (pdf) >>
- UMA CARAVELA EM DUAS MADEIRAS – O NAVIO DO VARADOURO DO RIO CÁVADO, ESPOSENDE (NORTE DE PORTUGAL)
- Ivone Magalhães
- Resumo | Download (pdf) >>
- O NAUFRÁGIO DO NAVIO-VAPOR CHILDWALL HALL, 1878
- Nuno Miguel Marçal Duque Ribeiro
- Resumo | Download (pdf) >>
- ARQUEOMETRÍA DE CERÁMICA ARQUEOLÓGICA Y TRADICIONAL DE GRAN CANARIA. COMPARACIÓN CON ANÁLISIS DE CERÁMICAS DE FUERTEVENTURA, LANZAROTE Y LA PALMA Y CON OTROS PUBLICADOS DE GRAN CANARIA
- Óscar Lantes-Suárez e Jose Manuel Vázquez Varela
- Resumo | Download (pdf) >>
- ARQUEOLOGIA E SIMULAÇÃO: CONTRIBUTO PARA UM DEBATE SOBRE A REALIDADE
- Pedro da Silva
- Resumo | Download (pdf) >>
- POR ENTRE PEDRAS E CACOS: À DESCOBERTA DA ARQUEOLOGIA EM AVIS
- Ana Cristina Ribeiro
- Resumo | Download (pdf) >>
- UMA CONSTELAÇÃO DE IMAGENS: DO FRAGMENTO AO ATLAS
- Manuel Horta
- Resumo | Download (pdf) >>
Crítica Historiográfica. Natal, v.1, n.1, set./out. 2021.
- Heterocronias – Estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos | Marlon Salomon
- Resenhado por Tiago Santos Almeida
- O uso dos jogos de tabuleiro e do e-portfólio do corpo brincante no processo educativo | Cadernos didáticos: o uso de jogos no processo educativo | Márcia Ambrósio e Eduardo Mognon Ferreira
- Resenhado por Lucas Victor da Silva
- O trato da perpétua tormenta: a conversão Kiriri nos sertões de dentro na América portuguesa | Ane Luíse Silva Mecenas Santos
- Resenhado por Ruy Moisés Araujo Bispo
- Que pedir aos historiadores? | Marc Bloch
- Resenhado por Itamar Freitas
- A aprendizagem histórica e os professores de história (Ciências Sociais) | Marcos Roberto Barbosa || Aprendizagem histórica: espaços, suportes e experiências | José Vieira da Cruz e Fábio Alves dos Santos
- Resenhado por Leila Angélica Oliveira Moraes de Andrade
- A História “encastelada” e o ensino “encurralado”: escritos sobre História, ensino e formação docente | Eri Cavalcanti
- Resenhado por Margarida Maria Dias de Oliveira
- As Manifestações de junho de 2013 em Alagoas | Sara Angélica Bezerra Gomes Resenhado por José Vieira da Cruz
- Resenhado por José Vieira da Cruz
Antiguidade Oriental no Brasil pesquisas e perspectivas/Mythos – Revista de História Antiga e Medieval/2021
Assim como a universidade em solo pátrio, nascida somente nas primeiras décadas do século XX, a História enquanto disciplina é algo relativamente recente, bem como a História Antiga também o é. Provavelmente os primórdios dessa última no país remontam a 1934, quando a disciplina História da Civilização Antiga e Medieval existia no curso unificado de Geografia e História em funcionamento na Universidade de São Paulo (USP) (CAPELATO, GLEZER, FERLINI, 1994). Anos mais tarde, na década de 1950, o docente Eurípedes Simões de Paula fundava a cátedra de História Antiga na referida universidade. O docente em tela, inclusive, também é requerido como o precursor da área de História Medieval no Brasil (MACEDO, 2012). Leia Mais
Histórias, direitos e artes na América Latina plural/História Revista/2021
O Dossiê Histórias, direitos e artes na América Latina plural propõe denunciar e discutir, sob diversas perspectivas, a estrutura colonial e seus instrumentos de dominação, notadamente na América Latina. Visa a mostrar contextos e processos decoloniais, e sujeitos insurgentes que protagonizam tais processos nas artes e na história, construindo os direitos dos povos. Leia Mais
Crítica Historiográfica | UFRN/UFS | 2021
Crítica Historiográfica (Natal/Aracaju, 2021-) Publica resenhas de livros e de dossiês de artigos de revistas especializadas, resultantes da reflexão, investigação, comunicação e/ou consumo da escrita da História.
A revista cumpre o objetivo de fomentar a cultura da avaliação da escrita da História, com foco no diálogo entre autores(as) de resenhas e autores(as) e leitores(as) de obras de História. Assim, abre espaço não apenas para a resenha, mas aceita também as réplicas dos autores e eventuais comentários dos leitores da obra resenhada e da resenha.
A revista também se engaja na valorização do gênero textual resenha como instrumento de comunicação científica, reivindicando, inclusive, a sua inclusão como produto intelectual na Plataforma Lattes e no Sistema de Coletas Capes.
Crítica Historiográfica aceita e publica em média sete trabalhos por volume bimestral, produzidos por pesquisadores(as) de todos os níveis de formação, com espaço distribuído na seguinte proporção: doutores (a partir de 50%), doutorando(a)s, mestre(a)s, mestrando(a)s/especialistas/graduado(a)s graduandos (até 50%).
Trata-se de empreendimento criado e mantida por um consórcio de grupos de pesquisa radicados em instituições públicas de ensino superior: a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Periodicidade bimensal
ISSN SSN 2764-2666
Acessar resenhas
Acessar dossiês [Não publicou dossiês até 2021]
Acessar sumários
Acessar arquivos
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, v. 182 n. 487 set./dez. 2021.
Carta ao Leitor
I – ARTIGOS E ENSAIOS
- ARTICLES AND ESSAYS
- A Pena de Morte e o Livro V: Ações criminosas, formas de condenação, penas adicionais e distinção social nas Ordenações Manuelinas e Filipinas
- The Death Penalty and Book V: Criminal actions, forms of condemnation, additional penalties and social distinction in Manueline and Philippines Ordinations
- Recursos Ultramarinos: Apelações e Agravos cíveis da América Portuguesa à Casa da Suplicação de Lisboa (1754-1822)
- Appealls from Overseas: Civil Appeals and Grievances from Portuguese America to the Casa da Suplicação in Lisbon (1754-1822)
- Entre o malho e a bigorna: o Tratado de Comércio e Navegação de 1810 e os interesses mercantis luso-brasileiros
- Between the Hammer and the Anvil: the Trade and Navigation Treaty of 1810 and the Luso-Brazilian Commercial Interests
- William Swainson: um naturalista britânico no Brasil (1817-1818)
- William Swainson: A British Naturalist in Brazil (1817-1818)
- A questão do fim do tráfico de escravos em Portugal: aportes da teoria da mudança institucional gradual
- The Issue of the End of the Slave Trade in Portugal: Contributions from the Theory of Gradual Institutional Change
- O common law e o Direito Brasileiro: um olhar crítico sobre o Decreto 848/1890 e a esquecida decisão de 1902 do Supremo Tribunal Federal
- Common Law and the Brazilian Criminal Procedure: a Critical Look at Decree no. 848/1890 and the Forgotten 1902 Supreme Court’s Decision
- A regulação nacional do trabalho no Código de Menores. Legislação, dissenso e reações sociais (1925-1930)
- The National Regulation of Labor in the Children´s Code. Legislation, Dissent and Social Reactions (1925-1930)
- A guerra secreta de Vargas: O serviço secreto brasileiro e a Segunda Guerra Mundial
- Vargas’ secret war: Tthe brazilian secret service and the World Second War
II – COMUNICAÇÕES
- NOTIFICATIONS
- António Manuel Hespanha: o historiador como antropólogo e o direito como uma forma de vida
- António Manuel Hespanha: the Historian as Anthropologist and Law as a Way of Life
- Oscar Dias Correa e o Instituto Histórico
- Oscar Dias Correa and the Historical Institute
III – DOCUMENTOS
- DOCUMENTS
- “O ensino religioso em face do livre pensamento”, do jovem Sérgio Buarque de Holanda
- “Religious teaching in the face of free thought,” by the young Sérgio Buarque de Holanda
- Informação das Terras do Camamu no ano de 1586. Manuscrito sobre a Sesmaria dos jesuítas
- Information of the Lands of Camamu in the Year 1586. Manuscript on the Jesuit Sesmaria
VI – RESENHAS
- REVIEW ESSAYS
- Um subúrbio carioca em plena Zona Sul
- Benfeitores da Revista do IHGB
- Colaboradores Pareceristas
- Normas de publicação
- Guide for the authors
Leão, o Africano. A África e o Renascimento vistos por um árabe | Murilo Sebe Bom Meihy
Com um título que nos remete ao celebrado trabalho do escritor Amin Maalouf (As cruzadas vistas pelos árabes, 1988, ed. Brasiliense), segundo o autor, esta obra traz como uma das propostas analisar o ambiente cultural do Mediterrâneo do princípio da era moderna, ainda que aborde situações aproximadas em períodos anteriores. Neste cenário Meihy se debruça na surpreendente jornada de uma figura singular em suas diversas vidas que incluem eventos comuns às populações do entorno: o exílio, a experiência de viagens como modo de vida, a privação de liberdade, a escravização, a conversão forçada ao cristianismo, a trajetória de erudito, professor de árabe, tradutor, e, sobretudo, a atividade de escrita em meio a uma incessante circulação cultural, acompanhada inevitavelmente pelo protagonista e documentada em seu escrito Della descrittione dell’Africa e dele cose notabli che ivi sono. Leia Mais
Maternidades plurais: os diferentes relatos, aventuras e oceanos das mães cientistas na pandemia | Ana Carolina Eiras Coelho Soares, Camilla de Almeida Santos Cidade e Vanessa Clemente Cardoso
Não há como uma pesquisadora e mãe ler 824 páginas compostas por 134 relatos de outras mães e pesquisadoras sem criar uma conexão autoral e afetiva. Em alguns momentos era como se estivesse lendo a minha própria experiência como mãe e pesquisadora tendo que escolher entre o Lattes e o leite1, a maternidade2 e a ciência. Uma escrita afetiva que demonstra o poder feminista e coletivo de transformar o patriarcado com seus estatutos e normas violadores e a beleza de nossas lutas para reexistir como mães e cientistas que precisam mais do que um teto todo seu (WOOLF, V. 1929). Mas de ocupar todo o mundo!
E precisamos travar batalhas, pois, muitas de nós, mesmo as “estabelecidas” no mundo acadêmico e profissional, ainda precisam viver como se entre mundos, tendo que conciliar, escolher, desafiar, revirar, reclamar. Fazer dos lutos a substância das lutas, como disse na apresentação ao livro Marinete da Silva, mãe de Marielle Franco e manifestar a presença de nossas grafias de mulheres, sobre mulheres, sobretudo para mulheres, como prefaciou Manuela D´avila, mesmo que às mães os dias pareçam se escassear de tempo, mas não de exaustão e de cansaços. Leia Mais
Relações de gênero e história: emoções, corpos e sexualidades | Projeto História | 2021
A virada epistemológica da historiografia na segunda metade do século XX, marcada por diversos movimentos sociais e uma grande ebulição política, econômica e cultural, possibilitou a emergência de uma categoria polissêmica, multifacetada e diretamente ligada às questões que discutem as relações de poderes na sociedade: os chamados estudos de gênero, categoria analítica cunhada por Joan W. Scott em seu ensaio “Gênero: uma categoria útil de análise histórica (1995). Em meio a essa renovação analítica, os estudos culturais na historiografia avançaram e propuseram mudanças epistemológicas fundamentais para a escrita da História. Tendo como ponto de reflexão as discussões de pesquisadoras como Joan Scott, Judith Butler, Joana Maria Pedro, Maria Izilda Matos, Rachel Soihet e Margareth Rago, a História precisou caminhar para um novo escrever e narrar sobre os corpos, os desejos, as emoções e as sexualidades. Dentro da perspectiva de uma então recente História cultural emergiram análises e críticas fundamentais aos alicerces de poderes, saberes e narrativas sobre o passado, provida de um olhar que entendia que “o pessoal é político” e histórico e, portanto, do ofício das/dos historiadoras/es. Leia Mais
Projeto História. São Paulo, v.71, 2021.
MAI/AGO HISTÓRIA E VISUALIDADE NO BRASIL
Apresentação
- APRESENTAÇÃO
- Alberto Luiz Schneider, Felipe Martinez
Artigos Dossiê
- O ATELIÊ COMO AUTORRETRATO DO ARTISTAAFIRMAÇÃO E TRAGÉDIA NAS ARTES E NOS ROMANCES LITERÁRIOS BRASILEIROS
- Elaine Dias, Natália Cristina Aquino Gomes
- ENTRE MUSEUS E TUBARÕESGONTRAN GUANAES NETTO E A ESTÉTICA NACIONAL-POPULAR, 1950-1969)
- Leandro Candido de Souza
- AS MOSTRAS DA GALERIA DE FOTOGRAFIA DA FUNARTEO TRÂNSITO DAS IMAGENS ENTRE AS PÁGINAS DO JORNAL E O CAMPO DAS ARTES VISUAIS
- Charles Monteiro
- O INSTAGRAM COMO LUGAR DE CONFLITO ENTRE A FOTOGRAFIA ARTE E TODAS AS DEMAIS MANIFESTAÇÕES FOTOGRÁFICAS QUE PERMEIAM ESTA REDE SOCIAL
- Juliana Andrade Leitão
- CENA DO CRIME, FOTOGRAFIA E MEMÓRIA EM EVIDÊNCIAS E SURVIVORS
- Rafael Tassi Teixeira
- “CINEMA NEGRO”TRAJETÓRIAS E PERSPECTIVAS ESTÉTICAS EM ENTREVISTAS DE HISTÓRIA ORAL COM TRÊS ARTISTAS
- Samuel Silva Rodrigues de Oliveira, Erickson dos Anjos Amaral, Roberto Carlos da Silva Borges
- VISUALIDADES DA FLORESTAO AMAZONAS NA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL – CHICAGO, 1893
- Yvone Dias Avelino, Bruno Miranda Braga
Artigos livres
- À LUZ DE DOCUMENTOS E MEMÓRIASUMA NOVA INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA DOS ARAXÁ – OS INDÍGENAS DA TERRA “ONDE PRIMEIRO SE AVISTA O SOL”
- Robert Mori
- ENTRE MEMÓRIAS E CONFLITOSA COMUNIDADE NEGRA RURAL DE HELVÉCIA E O RECONHECIMENTO COMO REMANESCENTE QUILOMBOLA
- Ramom de Jesus Moreira, Felipe Eduardo Ferreira Marta, Estefânia Knotz Canguçu Fraga
- “INJUSTAMENTE POSSUÍDOS COMO ESCRAVOS”EMBATES JURÍDICOS EM TORNO DA LIBERDADE DOS INDÍGENAS E SEUS DESCENDENTES (MARIANA/MG, SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVIII)
- Fernanda Domingos Pinheiro
- ESTRATÉGIAS DO SUBÚRBIOA EXPERIÊNCIA DO SPORT CLUB MACKENZIE (RIO DE JANEIRO; 1914-1932)
- Victor Andrade de Melo, Bruno Adriano Rodrigues Silva
- MEDICINA E POLÍTICA EM UMA CIDADE IMPERIALJOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE NO SERRO (MG)
- Marcos Lobato Martins
- A TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE FRANKLIN LEOPOLDO E SILVAHISTÓRIA, MEMÓRIA E TENSÕES DO TEMPO
- Glauber Cícero Ferreira Biazo
Entrevistas
- KLEBER AMANCIOREFLEXÕES SOBRE RAÇA E HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL
- Bethânia Santos Pereira, Patrícia Oliveira
Resenhas
- CIDADANIA E SOCIABILIDADESPOPULAÇÕES DE ORIGEM AFRICANA EM FLORIANÓPOLIS/SC, 1920-1950)
- Ana Júlia Pacheco
- IMIGRAÇÃO, CRIME E JUSTIÇA
- Júlia Leite Gregory
- Notícia de Pesquisa
- A PENA DE GALÉS NA CAPITAL PAULISTA (1830-1850)UMA PENA DE TRABALHO FORÇADO NA CIDADE DE SÃO PAULO
- Alex de Jesus Santos
Publicado: 2021-09-01
Acervo. Rio de Janeiro, v.34, n.3, 2021.
- Dados e arquivos
- Publicado em 1 setembro 2021
- Descrição da edição
- PUBLICAÇÃO CONTÍNUA
- Páginas iniciais
- Vanessa Jorge, Luís Fernando Sayão
- 1-2
- Apresentação
- Entrevista
- Neide Alves Dias De Sordi
- 1-7
- Interview with John Sheridan
- PDF (English)
- Dossiê Temático
- Lenora Schwaitzer, Natália Nascimento, Alexandre de Souza Costa
- 1-17
- Reflexões sobre a contribuição da gestão de documentos para programas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
- Cláudio Sonaglio Albano, Gisele da Silva Craveiro, João Roberto de Lima Gaffrée
- 1-18
- Oferta de dados abertos em universidades federais brasileiras: um estudo dos Planos de Dados Abertos
- Jorge Machado; Daniel Lino
- 1-18
- Gerencialismo e justiça aberta
- Manuela Moro-Cabero
- 1-23
- Datos y archivos: retos para una profesión agitada por la transformación digital
- PDF (Español (España))
- Jair Martins de Miranda
- 1-26
- Records in Contexts (RiC): análise da sua aplicação em arquivos, à luz das tecnologias Linked Open Data (LOD)
- PDF (English)
- José Augusto Bagatini, José Augusto Chaves Guimarães, Ricardo César Gonçalves Sant’Ana
- 1-20
- Gerenciamento dos dados pessoais em arquivos: uma perspectiva centrada no indivíduo com base na LGPD
- Paulo Roberto Elian dos Santos
- 1-22
- Arquivologia, laboratórios e ciência aberta: contribuições e desafios para a gestão de documentos e dados
- PDF (English)
- Júlia Rabetti Giannella
- 1-18
- Paradigmas contemporâneos para difusão e consulta de artefatos da cultura visual
- Fernanda Roma Sobreira, Melina de Brito dos Santos, Jeorgina Gentil Rodrigues
- 1-17
- A importância dos dados arquivísticos escolares como fonte de pesquisa: o arquivo do Colégio Cruzeiro:
- Ivone Pereira de Sá, Aline Lopes de Lacerda, Eliane Monteiro de Santana Dias, Marcus Vinícius Pereira da Silva, Renata Lourenço Mendes Kesseler, Karina Praxedes
- 1-15
- Metodologia para identificação de tipos de dados de pesquisa: a experiência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
- Artigos Livres
- Beatriz Carvalho Betancourt, Eliezer Pires da Silva, Priscila Ribeiro Gomes
- 1-17
- Currículo e identidade profissional: a formação do arquivista no Brasil (1911-1977)
- Lucia Moreira Dias, Antonio Adami, Manuel Sande
- 1-16
- Revistas especializadas de rádio no Brasil e a espetacularização (décadas de 1920 a 1950)
- Rosane Marcia Neumann; Paulo Rogério Friedrichs Adam
- 1-20
- O uso de fontes de arquivos dos poderes Executivo e Legislativo em estudos de imigração e colonização
- Thiago Cavaliere Mourelle
- 1-19
- União Trabalhista do Distrito Federal: pioneirismo e inovação na relação entre Estado e trabalhadores nos anos 1930
- Resenha
- Fabricio Souza
- 1-5
- Snowden: da internet livre ao passado vigiado, sobre a obra de Edward Snowden “Eterna vigilância”
- Documento
- João Carlos Nara Júnior
- 1-21
- Análise do arrendamento do imóvel do Cemitério de Pretos Novos do Valongo (30 de abril de 1774)
- Pareceristas da edição
Estudos Ibero-Americanos. Porto Alegre, v.47, n.2, 2021.
APRESENTAÇÃO
- História Pública na América LatinaMediações do passado, demandas sociais e tempo presente
- Adriane Vidal Costa, Juniele Rabêlo de Almeida, Lourdes Roca
- e40424
HISTÓRIA PÚBLICA NA AMÉRICA LATINA: MEDIAÇÕES DO PASSADO, DEMANDAS SOCIAIS E TEMPO PRESENTE
- Levantando a quarta paredehistória oral e entrevistas públicas
- Ricardo Santhiago
- e37272
- Culturas negras, memórias e consciência históricaexperiências de história pública
- Marcos Ferreira de Andrade, Silvia Maria Jardim Brügger, Cássia Rita Louro Palha
- e38998
- O Museu Regional do Iguaçu e suas audiênciasnarrativas institucionais e autobiográficas
- Michel Kobelinski
- e38899
- PDF (English)
- UERJ 70comemorações e histórias de uma universidade pública
- Carlos Eduardo Pinto de Pinto, Márcia de Almeida Gonçalves, Rui Aniceto Nascimento Fernandes
- e38999
- Enfrentando a berlindausos públicos da História e patrimônio cultural no sertão cearense
- Mário Martins Viana Júnior, Antônio Gilberto Ramos Nogueira
- e38714
- Todos podem ser divulgadores?Wikipédia e curadoria digital em Teoria da História
- Flávia Florentino Varella, Rodrigo Bragio Bonaldo
- e38806
- Projetos editoriais e mediações do passadoa experiência brasileira em uma cartografia de revistas de divulgação histórica
- Fernando Perli
- e39017
- História Pública, História em Quarentena e Ditadura
- Antonio Mauricio Freitas Brito, Iracélli da Cruz Alves, Rafael Rosa da Rocha
- e39013
- História em Quarentenapropostas para uma história pública em tempos de pandemia
- Paulo Cesar Gomes, Carlos Benitez Trinidad
- e39016
- Entre a revolução, a instabilidade política e a ruptura democráticaum olhar sobre a história do tempo presente boliviana entre 2006 e 2019
- Rafael Pinheiro de Araujo
- e38579
- Nicanor Parrapoesia de praça pública & protesto social
- Sebastião Vargas
- e38850
- Contextos ideacionais e redes ativistas em processos de difusão institucionalo caso da reforma universitária de 1918
- Adolfo Garcé, Alejandro Milanesi
- e37375
- PDF (Español (España))
ENTREVISTA
- Dimensões públicas da história e relações culturais em perspectiva transnacionalConversação com Richard Cándida Smith
- Ana Maria Mauad, Juniele Rabêlo de Almeida
- e40425
SEÇÃO LIVRE
- Os afazeres do intelectual em tempos de criseresponsabilidade e expectativa no discurso de agradecimento de Caio Prado Júnior pelo prêmio Juca Pato
- Sérgio de Sousa Montalvão
- e34319
- Livros, gravuras e pinturas na Igreja da Ordem Terceira Carmelita do Recifeapropriações e usos das imagens sacras na América portuguesa
- André Cabral Honor
- e35297
- Proteção das águas e desenvolvimento em debate no sul do Brasilo conflito ambiental no Polo Petroquímico de Triunfo (1975-1982)
- Elenita Malta Pereira, Claudia Ribeiro
- e35616
- PDF (English)
- Presença espanhola na cidade da borrachaManaus, 1901-1922
- Maria Luiza Ugarte Pinheiro
- e35761
RESENHA
- Por uma história pública
- Lucas Carvalho Soares de Aguiar Pereira
- e40230
- História pública e ensino de históriaconvergências entre a escrita da história e o ensino em contexto
- Everardo Paiva de Andrade
- e40294
Publicado: 2021-08-31
Mulheres intelectuais: práticas culturais de mediação | Estudos Ibero-Americanos | 2021
Em tempos de pandemia, organizar um dossiê sobre as práticas culturais de mediação, especificamente sobre o lugar e o papel das mulheres intelectuais, obrigou-nos a refletir sobre nossas próprias práticas mediadoras, como professoras e pesquisadoras. Lendo os artigos enviados, pensando em pareceristas e lendo os pareceres, quer dizer, atuando como editoras (uma prática de mediação cultural), íamos nos dando conta das temáticas, períodos e possibilidades de ação das mulheres, quando se dedicavam à mediação cultural. Nessa atividade editorial, fomos também nos apercebendo do nosso papel como intelectuais mediadoras. Por isso, iremos começar essa apresentação, usando o nosso próprio exemplo de mulheres professoras universitárias para pensar a categoria de intelectual mediador(a). Isso porque, se tal categoria é bastante operacional, não deve ser banalizada, correndo o risco de perder seu valor cognitivo.
Desde que o isolamento social se fez necessário, fomos desafiadas a, não só transformar nossas práticas de ensino, que de uma sala de aula “real” foi para uma sala “virtual” de mídia eletrônica; como também, nossas práticas de divulgação do conhecimento, que passaram a se voltar para públicos mais amplos e diferenciados, além do público de pares e estudantes costumeiro. Foi necessário reinventar formas de continuar ministrando aulas, de realizar e publicizar pesquisas, mas nos acostumando – não sem dificuldades – com tipos de comunicação a distância e com novos públicos. Assim, muitos de nós experimentamos, pela primeira vez, os procedimentos da produção de vídeos, podcasts, aulas abertas e entrevistas, disponibilizadas em plataformas digitais, que além de alcançar nossos alunos e pares, ultrapassam em muito o mundo acadêmico. Leia Mais
Fundação Rockefeller e o desenvolvimento da Saúde Global: contornos locais e circulações internacionais | História Debates e Tendências | 2021
De tempos em tempos, a historiografia passa por transformações que impactam o trabalho dos historiadores e conduzem reavaliações em termos de perspectivas teóricas, conceituais e metodológicas. Tratam-se das reconfigurações nos modos de produção de conhecimento, que alteram os diálogos entre os integrantes de um campoi e produzem novas relações com outras áreas do saber.
O dossiê que apresentamos nesta edição da revista História: Debates e Tendências discute o papel da Fundação Rockefeller na saúde, em uma perspectiva histórica – com a contribuição de pesquisadores de diferentes gerações dos estudos sobre a agência internacional –, e sob a lente de dois conceitos que se impõem como desafios na atualidade: Saúde Global e Circulação. Leia Mais
LOPES, Gabriel. O Feroz Mosquito africano no Brasil: o Anopheles gambiae entre o silêncio e a sua erradicação (1930-1940)
Gabriel Lopes | Foto: Johns Hopkins School of Medicine
 O livro de Gabriel Lopes, O Feroz Mosquito africano no Brasil, faz um trabalho de investigação histórica minucioso sobre eventos da década de 1930 que marcam a construção de um problema de saúde pública em torno do Anopheles gambiae. Por meio de uma acurada e diversificada investigação arquivística, o autor se dedica a reconstituir e a analisar dois momentos em torno do vetor transmissor da malária: o primeiro deles corresponde ao primeiro surto, entre 1930-1932, no Rio Grande do Norte; o segundo, entre 1938-1940, de impactos maiores e que atinge também o estado do Ceará, exigindo mobilizações em vários campos. Dois pontos chamam atenção no percurso da análise. O primeiro deles é a particularidade da obra em olhar com lentes ampliadas a trajetória do vetor, o Anopheles gambiae. Este recorte não é trivial e tem importância nas escolhas do livro, empíricas e teóricas, e uma “inversão” que está em afinidade e comprometida com a própria historicidade da malária. O segundo se refere ao hiato que acontece do primeiro ao segundo surto. Período que é cuidadosamente abordado, evidenciando um movimento de prospecção dos sujeitos e da própria história que está sendo tecida. O silêncio é redimensionado em termos materiais e simbólicos, pois nele reside a gênese de diversas ações postas em prática a partir de 1938. Leia Mais
O livro de Gabriel Lopes, O Feroz Mosquito africano no Brasil, faz um trabalho de investigação histórica minucioso sobre eventos da década de 1930 que marcam a construção de um problema de saúde pública em torno do Anopheles gambiae. Por meio de uma acurada e diversificada investigação arquivística, o autor se dedica a reconstituir e a analisar dois momentos em torno do vetor transmissor da malária: o primeiro deles corresponde ao primeiro surto, entre 1930-1932, no Rio Grande do Norte; o segundo, entre 1938-1940, de impactos maiores e que atinge também o estado do Ceará, exigindo mobilizações em vários campos. Dois pontos chamam atenção no percurso da análise. O primeiro deles é a particularidade da obra em olhar com lentes ampliadas a trajetória do vetor, o Anopheles gambiae. Este recorte não é trivial e tem importância nas escolhas do livro, empíricas e teóricas, e uma “inversão” que está em afinidade e comprometida com a própria historicidade da malária. O segundo se refere ao hiato que acontece do primeiro ao segundo surto. Período que é cuidadosamente abordado, evidenciando um movimento de prospecção dos sujeitos e da própria história que está sendo tecida. O silêncio é redimensionado em termos materiais e simbólicos, pois nele reside a gênese de diversas ações postas em prática a partir de 1938. Leia Mais
História Debates e Tendências. Passo Fundo, v.21, n.3, set./dez. 2021
Dossiê Fundação Rockefeller e o desenvolvimento da Saúde Global: contornos locais e circulações internacionais
Apresentação
- Apresentação do Dossiê
- Ricardo dos Santos Batista, Paloma Porto | PDF | PDF (English) | PDF (Español (España))
Dossiê
- “Um investimento em Liderança”: Bolsas da Fundação Rockefeller e a Globalização do Conhecimento em Saúde Pública, 1915-1940
- Darwin H. Stapleton | PDF (English)
- A Fundação Rockefeller e a Liga das Nações: saúde pública na Europa (1920-1945)
- Josep L. Barona | PDF (English)
- Saúde Global da Fundação Rockefeller e Desenvolvimento da Saúde Moderna da China
- Liping Bu | PDF (English)
- Influências dos modelos de formação e prática médicas no Brasil:o desenvolvimento da saúde global
- Lina Faria, Luiz Antonio Castro Santos | PDF
- A Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela da Fundação Rockefellerum experimento de saúde global no período entre guerras (1918-1939)
- Rodrigo Cesar da Silva Magalhães | PDF
- Ligações internacionais e saúde públicapegadas da Fundação Rockefeller na Argentina, 1930-1950
- Federico Rayez, Karina Inés Ramacciotti | PDF (Español (España))
- Organizações da Sociedade Civil e Saúde GlobalFilantropia Rockefeller no Sri Lanka
- Soma Hewa | PDF (English)
- A participação da Fundação Rockefeller no processo de institucionalização da Escola de Enfermeiras Visitadoras na Colômbia
- Polyana Aparecida Valente, Denise Nacif Pimenta | PDF
- O “Viveiro” de Baeta ViannaA Formação de Médicos-Cientistas na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte (1925-1949)
- Rita de Cássia Marques | PDF
- Um vetor de ciência, tecnologia e governo da vidaO mosquito Aedes aegypti e constituição insecto-viral das políticas públicas de saúde
- Jean Segata, Elisa Oberst Vargas, Nathália dos Santos Silva | PDF
Fontes Comentadas
- A Fundação Rockefeller e a organização e execução dos trabalhos da Comissão de Febre Amarela no Brasil
- Christiane Maria Cruz de Souza | PDF
Entrevistas
- Fundação Rockefeller e Saúde Globalhistória e historiografia em entrevista com Marcos Cueto
- Paloma Porto, Ricardo dos Santos Batista | PDF
Resenhas
- A construção de um problema de saúde pública no Brasil da década de 1930 em torno do Anopheles gambiae
- Bráulio Silva Chaves | PDF
Artigos Livres
- O projeto da Frente Popular e a crise política no Brasil
- Vitor Wagner Neto de Oliveira | PDF
- Agremiação minoritária, líderes operários e desacordos internosorigem e extinção do Partido Reivindicador Proletário do Paraná (1933-1934)
- Sandro Aramis Richter Gomes | PDF
- Subdesenvolvimento e desenvolvimento no contexto da Cepal: o embate entre dependência e interdependência na América Latina
- Jadir Peçanha Rostoldo | PDF
- História, política e prática poética em AngolaAgostinho Neto e Sagrada Esperança
- Gabriela de Lima Grecco, Diego Sebastián Crescentino | PDF
Publicado: 2021-08-31
História pública e ensino de história | Miriam Hermeto e Rodrigo de Almeida Ferreira
Miriam Hermeto e Rodrigo de Almeida Ferreira (em primeiro plano) | Fotos: UFMG e UFF
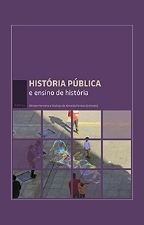 O estranhamento de todo dia para aqueles e aquelas que experimentam, seja na formação inicial ou continuada, seja no trabalho escolar ou na pesquisa acadêmica, o ensino de história como um campo de conhecimento, mas também de práticas profissionais, talvez seja muito semelhante à experiência de um estrangeiro olhando as suas fontes e os seus materiais, interagindo com os sujeitos do campo, buscando sempre autorizar a superação da dolorosa sensação de alheamento e exterioridade com a sua prática e a experiência que dela decorre. Quem sabe, eles não encontrem nesse belo trabalho organizado por Miriam Hermeto e Rodrigo de Almeida Ferreira, com a contribuição de especialistas sempre (ou quase sempre) compartilhando a autoridade com professores de ofício da educação básica – via de regra experimentando percursos de formação continuada –, uma aliança generosa e solidária? Que esta resenha possa somar-se a essa aliança potente, em uma perspectiva de compreensão narrativa e empatia (RITIVOI, 2018), assumindo um lugar de professor entre professores de História.
O estranhamento de todo dia para aqueles e aquelas que experimentam, seja na formação inicial ou continuada, seja no trabalho escolar ou na pesquisa acadêmica, o ensino de história como um campo de conhecimento, mas também de práticas profissionais, talvez seja muito semelhante à experiência de um estrangeiro olhando as suas fontes e os seus materiais, interagindo com os sujeitos do campo, buscando sempre autorizar a superação da dolorosa sensação de alheamento e exterioridade com a sua prática e a experiência que dela decorre. Quem sabe, eles não encontrem nesse belo trabalho organizado por Miriam Hermeto e Rodrigo de Almeida Ferreira, com a contribuição de especialistas sempre (ou quase sempre) compartilhando a autoridade com professores de ofício da educação básica – via de regra experimentando percursos de formação continuada –, uma aliança generosa e solidária? Que esta resenha possa somar-se a essa aliança potente, em uma perspectiva de compreensão narrativa e empatia (RITIVOI, 2018), assumindo um lugar de professor entre professores de História.
Bons textos nos fazem pensar uma segunda vez sobre o que já sabemos, ou julgamos saber. E pensar ainda uma vez mais sobre o repensado, em uma espiral de sentidos que não se esgota entre paredes, nem do laboratório nem da sala de aula. E ainda que esses espaços sejam, às vezes, referências incontornáveis para o que pensamos e para o modo como pensamos, também eles não cabem definitivamente em si mesmos. Estão aí estes tempos de pandemia e de afastamento social a forçar a dilatação paradoxal das nossas referências e das nossas reflexões. O que sabemos sobre o ensino de história? O que sabemos sobre a história pública? O que sabemos sobre esse lugar para onde convergem nossos saberes sobre ambos? Se não trazem respostas prontas e definitivas a tantas perguntas, os textos reunidos em História pública e ensino de história parecem seguir o conhecido conselho de Clifford Geertz (2009), segundo o qual, quando não conhecemos bem a resposta, devemos discutir a pergunta: eles trazem, sem dúvida, uma excelente contribuição à continuidade do debate. Leia Mais
Que história pública queremos? What Public History do we want? | Ana Maria Mauad e Ricardo Santhiago
Ana Maria Mauad e Ricardo Santhiago | Fotos: Bazar do Tempo e Hypotheses
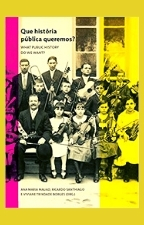 Os estudos históricos têm enfrentado, nas últimas décadas, desafios relacionados à sua legitimidade, credibilidade e autorização social em diferentes níveis. O maior deles é o caso do crescente negacionismo que atravessa o combate pela história de modo cada vez mais frequente.
Os estudos históricos têm enfrentado, nas últimas décadas, desafios relacionados à sua legitimidade, credibilidade e autorização social em diferentes níveis. O maior deles é o caso do crescente negacionismo que atravessa o combate pela história de modo cada vez mais frequente.
Nesse cenário, as atividades de história pública vem sendo conduzidas no sentido de desestabilizar essas críticas, uma vez que têm como característica a participação do público nos debates que envolvem a construção das próprias pesquisas e/ou do seu produto final. Leia Mais
Capital e Ideologia | Thomas Piketty
Thomas Piketty | Foto: Instituto Mercado Popular
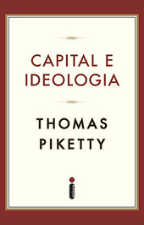 Em seu novo livro, Capital e ideologia, Piketty estende seu influente e igualmente monumental Capital no século XXI – ambas as obras têm por volta de mil páginas. A extensão se dá em duas frentes. Primeiro, o livro aborda diversos países como Índia, Japão, China, Rússia e, dentre outros, Brasil. O economista francês reage aos críticos que taxaram seu livro anterior de “western-centered”. Este é o resultado dos estudos por ele capitaneados no World Inequality Lab, que inclui pesquisadores de vários países. Segundo, o novo livro é menos técnico e mais acessível. Trata-se de uma obra plural, que combina dados econômicos com narrativa histórica e análise política. Ao final do texto, o autor propõe reformas bastante agressivas para reverter a recente escalada global da desigualdade. Ainda que instigante, motivado por um dos temas mais importantes da atualidade, o livro é demasiadamente amplo e ambicioso, o que o torna superficial, sobretudo nos trechos que descrevem narrativas históricas. Leia Mais
Em seu novo livro, Capital e ideologia, Piketty estende seu influente e igualmente monumental Capital no século XXI – ambas as obras têm por volta de mil páginas. A extensão se dá em duas frentes. Primeiro, o livro aborda diversos países como Índia, Japão, China, Rússia e, dentre outros, Brasil. O economista francês reage aos críticos que taxaram seu livro anterior de “western-centered”. Este é o resultado dos estudos por ele capitaneados no World Inequality Lab, que inclui pesquisadores de vários países. Segundo, o novo livro é menos técnico e mais acessível. Trata-se de uma obra plural, que combina dados econômicos com narrativa histórica e análise política. Ao final do texto, o autor propõe reformas bastante agressivas para reverter a recente escalada global da desigualdade. Ainda que instigante, motivado por um dos temas mais importantes da atualidade, o livro é demasiadamente amplo e ambicioso, o que o torna superficial, sobretudo nos trechos que descrevem narrativas históricas. Leia Mais
Pactos políticos en Iberoamérica| Almanack| 2021
“Bonaparte louco de raiva ou mais navios, colónias e comércio” | Água-forte gravada por I. Cruikshand, 1808, Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga
La invasión de Napoleón a la península ibérica y los sucesos que siguieron fueron coyunturas propicias para instalar en el escenario peninsular e iberoamericano un novedoso repertorio de soluciones políticas. La crisis abierta en 1808 impulsó cambios inusitados. Como es conocido y ha sido profusamente estudiado la necesidad de reformular los pactos entre los monarcas, sus reinos y sus súbditos, estuvo asociada a las posibilidades y alcance de la gobernabilidad de sus territorios. En el caso lusitano, la corona decidió cambiar la localización de su centro político desplazándolo al continente americano, concretamente a la ciudad de Rio de Janeiro en el Brasil. El caso español fue diferente. El ingreso de las tropas francesas a España dio lugar a la vatio regis, un hecho insólito que obligó a replantear las bases de sustentación de la monarquía. Leia Mais
Boletim do Tempo Presente. Recife, v.10, n.8, 2021.
Artigos
- À sombra da Guerra Fria: a Aliança para o Progresso e as reminiscências do deperecimento no Nordeste do Brasil
- Pedro Carvalho Oliveira | PDF
- Disputa eleitoral entre Miguel Arraes e João Cleofas: polarização política e corrupção na CPI do Ipês e do Ibad (1963)
- Luana Carolina dos Santos | PDF
- “Com a imprensa e com tudo”: de João Goulart (1961-1964) a Dilma Rousseff (2015-2016), o papel da mídia na descredibilização da política
- Regina Célia Daefiol | PDF
- A Diplomacia do Jazz no Brasil: a crise de Little Rock e viagem de Louis Armstrong como ferramenta de política externa
- José Victor de Lara | PDF
Resenhas
- O conflito das gerações na era do digital (Resenha do filme o Guia da família perfeita)
- Samanta de Oliveira Carvalho Bezerra | PDF
- Notas de Pesquisa
- Notas sobre a Inteligência e a Espionagem anglo-americana na II Guerra Mundial: roteiro de uma pesquisa
- Raquel Anne Lima de Assis | PDF
- Análise dos inquéritos policiais de estupro de vulnerável registrados no município de Canindé de São Francisco
- Elielma Santos Macedo, Marina Menezes de Andrade Oliveira | PDF
Publicado: 2021-08-31
História da Historiografia. Ouro Preto, v.14, n.36, 2021.
Edição completa
Expediente
- Expediente
- História da Historiografia | PDF
Editorial
- Do produtivismo ao bibliometrismo?O futuro da História da Historiografia no meio do redemoinho
- DOI: https://doi.org/10.15848/hh.v14i36.1860
- Mateus Henrique Faria Pereira | PDF
Dossiê: História como (In)disciplina
- Rebeldia disciplinada?Introdução à ‘História como (in)disciplina’
- Lidiane Soares Rodrigues, María Inés Mudrovcic, Alexandre de Sá Avelar | PDF
- Descobrir, desapossarensaio sobre Michel de Certeau e o lugar da ética na teoria e na historiografia
- Douglas Attila Marcelino | PDF
- Causalidade e intencionalidadeuma contribuição ao debate sobre dimensão explicativa da historiografia
- Cristiano Alencar Arrais | PDF
- E quando o Escritor é historiador?Crítica ao “herói” moçambicano em João Paulo Borges Coelho e Ungulani Ba Ka Khosa
- Fernanda Gallo | PDF
- Onde está o ensino nas disciplinas de Teoria da História ensinadas no Brasil?Reflexões sobre a formação docente dos professores de História
- Erinaldo Vicente Cavalcanti | PDF
- Complexity theory and the historical study of religionnavigating the transdisciplinary space between the Humanities and the Natural Sciences
- Thales Silva | PDF (English)
- História, ciência, e sociedade em Fausto Cardoso
- Piero Detoni | PDF
- Unruly Memory and Historical OrderThe Historiography of the French Revolution between Historicism and Presentism (1881-1914)
- Lancereau Guillaume | PDF (English)
- Machado de Assis e a experiência da historicidadesobre historiadores assombrados e a presença fantasmagórica do passado em Casa Velha
- DOI: https://doi.org/10.15848/hh.v14i36.1700
- André da Silva Ramos | PDF
- Um perfil da história disciplinarcarreira acadêmica e poder masculino no arquivo pessoal da historiadora Adeline Daumard
- Daiane Machado | PDF
- Inovação “historiográfica” antes da história-disciplinaAlcântara Machado e a escrita sobre São Paulo no período colonial
- Franco Della Valle | PDF
- Entre o imperativo do arquivo e a retórica bandeirantea constituição de um saber científico para a invenção do paulista
- Karina Anhezini | PDF
- Disciplina e experiênciaconstruindo uma comunidade de escuta na teoria e no ensino de história
- Géssica Guimarães | PDF
- O látego e o risoa historiografia republicana de Joaquim Felício dos Santos
- Amanda da Silva Martins | PDF
- “Do ponto de vista dos nossos Annales”a Revista dos Annales e a produção da história econômica e social (1929-1944)
- Mariana Ladeira Osés | PDF
- Por uma história malcomportadaa historiografia antidisciplinar de Michel Foucault
- Rafael Araldi Vaz, Rodrigo Diaz de Vivar y Soler | PDF
- Escritas insubmissasindisciplinando a História com Hortense Spillers e Saidiya Hartman
- Allan Kardec Pereira | PDF
- O Pensamento Social no Brasil e os historiadoresnotas sobre uma interdisciplinaridade desigual
- João Marcelo Maia | PDF
Diretrizes para autores
- Diretrizes para autores
- História da Historiografia | PDF
Publicado: 2021-08-31
Rebeldia disciplinada? Introdução à ‘História como (in)disciplina’ | História da Historiografia | 2021
“Clio – Musa da História” | Pintura de Johannes Moreelse (antes de 1634)
À guisa de advertência
O dossiê que aqui apresentamos instaura, de imediato, uma situação curiosa, e não menos paradoxal: pretendemos trazer aos nossos leitores um panorama razoavelmente expressivo dos debates em torno da (in)disciplinarização da história, justamente em uma revista acadêmica, a qual integra sistemas de produção, avaliação e publicação altamente especializados e construídos dentro de uma lógica disciplinar que metrifica carreiras, desempenhos e programas de pós-graduação. Pode haver estranheza maior do que falar de indisciplina em um espaço tão profundamente disciplinado?
Talvez a resposta nos obrigue a considerar o peso que a cultura disciplinar ainda impõe sobre o trabalho intelectual especializado. História, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Literatura, Antropologia, Economia, Geografia e outras designam “disciplinas” científicas. Platitude afirmá-lo, porém necessário. Há, pelo menos, dois modos elementares de compreender a gênese das disciplinas, sua sedimentação em domínios distintos circunscritos por fronteiras e as modalidades de intercâmbio entre elas – usualmente designadas de inter e/ou transdisciplinaridade. Leia Mais
História e literatura: aproximações e diferenças | Escritas do Tempo | 2021
“By such examples taugth, I paint the cot,
As truth will paint it, and as bards will not”
No trecho em epígrafe do poema intitulado The village (1783), de autoria do inglês George Crabbe (1754-1832), descortina-se um contraste, segundo os especialistas e seus intérpretes, entre as formas de representação de uma narrativa bucólica da Antiguidade, do Neoclassismo e de sua própria escrita, pois “Tal como manda a verdade”, diz a passagem – conforme a nossa tradução livre – “eu retrato os campos e não como cantam os bardos em seus cantos”. Ou seja, para o poeta, de certa forma seu texto figura como alegoria de um determinado tempo e espaço, de acordo com os estudos de Raymond Williams (1921-1988) sobre as literaturas do campo e da cidade, quase antecipando, portanto, algumas das premissas básicas que, posteriormente àquele século, seriam firmadas e, hoje, acham-se ainda perenes junto ao ofício de historiador(a). Assim, o presente Dossiê, na trilha do poema setecentista, propõe-se a refletir sobre as possibilidades do estabelecimento de laços entre a História e a Literatura, atento às suas aproximações e diferenças que emergem, paulatinamente, seja à boca pequena ou com mais estardalhaço, feito porta-vozes de cada época, dando a ler ao mundo as suas conexões.
Por isso, buscamos reunir trabalhos que pudessem discutir as relações da emergência da figura-autor com os escritos que são materializados, para debater aspectos tais como os trânsitos – nacionais ou internacionais – da cultura escrita, as apropriações ou economias de leituras, além das práticas letradas, de circulação e recepção de impressos literários. E, por outro lado, visamos igualmente coligir textos que versem e problematizem a historicidade de contos, poesias, crônicas, romances, peças de teatro, coleções, projetos editoriais etc., considerando textos ficcionais provenientes dos mais variados estilos e condições sociais de produção. Leia Mais
Educação em Foco. Belo Horizonte, v.24, n.43, 2021
EDITORIAL
ARTIGOS
- A mídia e a experimentação com animais no ensino básico de ciências no Estado de São Paulo: uma análise da cobertura feita por jornais impressos nas décadas de 1960 e 1970
- Danilo Magalhães, Luisa Massarani, Jessica Norberto Rocha | PDF
- Ditadura e educação na terra das araucárias
- Silvana Lazzarotto Schmitt | PDF
- A Educação Jesuíta e o ensino do direito no Brasil até a República Velha: uma leitura crítica
- Mariane Silva Parodia, Aparecida Rodrigues Silva Duarte | PDF
- Relações entre os conceitos de jogos e aprendizagem significativa
- Raphael de Alcântara do Carmo, José Maximiano Arruda Ximenes de Lima | PDF
- Docências contemporâneas na educação infantil: um ensaio sobre a posição do ensino
- Samantha Dias de Lima, Elí T. Henn Fabris, Sabrine Borges de Mello Hetti Bahia | PDF
- “Nosso lema é fazer rima, ouve a batida, escuta nossa voz que vem romper o silêncio causado pelo racismo atroz”: a Lei 10.639/03 e as reflexões de estudantes por meio da música
- Gabriela Teixeira Gomes | PDF
- Base de conhecimento e processo de raciocínio pedagógico para a mentoria: levantamento bibliográfico
- Jéssica Francine Ferreira da Silva, Ana Paula Gestoso de Souza | PDF
- A pesquisa em educação matemática na Licenciatura em Pedagogia e a mudança de atitudes de futuras professoras
- Klinger Teodoro Ciríaco, Gabrielly Bonfim da Silva | PDF
- A construção de saberes atitudinais na formação de professores: a busca da coerência entre o que se fala e o que se faz
- Ilma Maria Fernandes Soares | PDF
- Educação do Campo na Microrregião de Pará de Minas: desafios teórico-metodológicos
- Lóren Graziela Carneiro Lima, Vânia Aparecida Costa | PDF
- As atribuições do coordenador pedagógico estudadas nas teses e dissertações de 2017 – 2018
- Gabriela Chem de Souza do Rosário, Jaqueline de Morais Costa | PDF
- As contribuições do Auxílio Formação no processo formativo dos estudantes dos cursos de licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, campus Canindé
- Francisca Rejane Bezerra Andrade, Ludimila Façanha Lopes | PDF
- Intervenções na escola: Promove-Crianças e Promove-Professores
- Alessandra Turini Bolsoni-Silva, Alessandra Pereira Falcão, Natália Pascon Cognetti | PDF
- Expectativas dos jovens do ensino médio em meio às mudanças instituídas pela Lei n° 13.415/2017
- Ana Lara Casagrande | PDF
- Considerações sobre o fenômeno da medicalização à luz da psicanálise
- Júlia Reis da Silva Mendonça, Emanuelle Pessanha Gonçalves | PDF
- Clareza na comunicação de materiais educativos em saúde bucal do Brasil e do Canadá
- Lucas Emanoel Oliveira Costa, Angélica Maria Cupertino Lopes Marinho, Mauro Henrique Nogueira Guimarães Abreu | PDF
- A construção do Plano Decenal Estadual de Educação de Minas Gerais (2018-2028): lampejo de participação e mobilização da sociedade civil.
- Marcos Antonio Lima Pereira, Lúcia de Fátima Valente | PDF
PUBLICADO: 30/08/2021
Escritas do Tempo. [Marabá], v. 3, n.8, 2021.
Dossiê – História e Literatura: aproximações e diferenças
Editorial
- Editorial
- Karla Leandro Rascke, Erinaldo Vicente Cavalcanti, Geovanni Gomes Cabral; Marcus Vinicius Reis
Apresentação de Dossiê Temático
- Apresentação do Dossiê Temático “História e Literatura: aproximações e diferenças”
- André Furtado, Anna Coelho
- Escritas do Tempo. Florianópolis, v. 3, n.8, 2021) – Dossiê: História e Literatura: aproximações e diferenças
- Cartas de Erasmo ao Imperador sobre a emancipação: José de Alencar e o cultivo da dependência entre senhores e escravizados
- Cristina Ferreira
- Anna Howarth e as guerras das fronteiras: literatura, lei de terras e colonialismo em Sword and Assegai (África do Sul, década de 1890)
- Evander Ruthieri da Silva
- “Os Livros Sujos Brotam Como Cogumelos”: Cultura Impressa e Obscenidade no Brasil (1880-1900)
- Erika Cardoso
- Trajetórias de um clássico: autorias, edições e leituras do Pavão Misterioso
- Antonio Helonis Borges Brandão
- “A palavra é o meu domínio sobre o mundo”: circulação e recepção da obra de Clarice Lispector em Portugal
- Natália Guerellus
- Guimarães Rosa, leitor de Simões Lopes Neto: práticas de leitura e afinidades histórico-literárias
- Jocelito Zalla
- Vozes da Amazônia na trilha de Spix e Martius
- Willi Bolle, Eckhard E. Kupfer
- Diálogos entre a História da Educação e Literatura: a escola normal no romance “A Normalista”, de Adolfo Caminha (1893)
- Caio Corrêa Derossi, Joana D’Arc Germano Hollerbach
- História e Literatura: Jorge Amado e seus escritos literários nos anos 30
- Rafaela Mendes da Silva, Francisco Wilton Moreira dos Santos
- Nos rastros da memória: uma revisitação da Guerra de Canudos pelo olhar de Vargas Llosa
- Solange Regina da Silva, Isis de Paula Oliveira de Albuquerque, Brenda Carlos de Andrade
- Narrativas de mulheres sobre o passado da América: da exclusão histórica ao protagonismo ficcional
- Amanda Maria Elsner Matheus, Gilmei Francisco Fleck, Tatiane Cristina Becher
Artigos
- Estratégias de ensino e aprendizagem para surdos no Ensino Superior
- Joelaini Martins dos Reis Brasil, Taise Gomes dos Santos Cá, Silvia Maria de Oliveira Pavão
- Entrevistas
- “O passado existe como ontologia […] A História pulsa na Literatura”: entrevista com Sidney Chalhoub
- André Carlos Furtado, Anna Coelho
Expediente
Publicado: 2021-08-30
História, Histórias. Brasília, v.9, n.17, 2021.
História, Histórias
DOI: https://doi.org/10.26512/rhh.v8i17
- · Editorial
- Artigos
- · Moldura institucional e projetos de institucionalização do regime militar brasileiro (1964-1978)
- Carlos Fico
- · Revisionismo e negacionismocontrovérsias
- Denise Rollemberg , Janaina Martins Cordeiro
- · Um modelo de história marginal?Um estudo sobre as prescrições historiográficas de José Oiticica (1910)
- Piero Detoni
- · O museu como objeto de pesquisa para o ensino de história: um balanço (1980-2017)
- Marcelo Henrique Leite
- · As relações de gênero na BNCC de História:da ausência à resistência
- Anderson Ferrari
- · “Eu não sou culpada, de gostar de beber e viver na madrugada”Dora Lopes, o amor e a boemia em sambas canção (1950-1962)
- Uelba Alexandre do Nascimento
- · Pela América Latina, em nome da Virgem Maria:o teatro de revista na peça Dura lex sed lex, no cabelo só Gumex, de Vianninha (1967)
- Letícia Gomes do Nascimento
Resenhas
- · A máquina de guerra de Florence DupontNotas críticas sobre o projeto de um “teatro verdadeiramente pós-aristotélico”
- Henrique Buarque De Gusmão
- · A história da filosofia como arqueologia
- Ernani Pinheiro Chaves
- · Roberto Machado ou a modesta sabedoria
- Durval Muniz de Albuquerque Júnior
Publicado: 2021-08-30
As ações de liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no período entre 1871 e 1888 | Carlos Henrique Antunes da Silva
Primeira sede da Relação do Rio de Janeiro, prédio que abrigava a cadeia e o Senado | Imagem: Migalhas.com
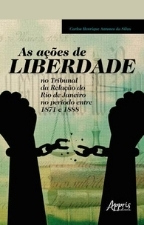 Muito se discute atualmente sobre o papel do Poder Judiciário no Brasil. Em fins do século XIX, permearam as instâncias e as decisões judiciais ações cíveis cujo objeto era a liberdade de escravos. Sem os meios de comunicação de que hoje dispomos, ainda assim parte da sociedade estava atenta ao assunto. Para além da opinião pública e dos movimentos sociais de então, o trabalho que temos em mãos tem como ponto de partida um elemento bastante presente nas fontes utilizadas para o estudo da escravidão, mas nem sempre em evidência nas investigações relacionadas ao tema: o Estado. De que modo os agentes atuantes na estrutura judiciária do Império lidaram com os processos impetrados pela liberdade de homens e mulheres na condição de escravos? Que instrumental advogados e desembargadores operaram em suas argumentações e decisões?
Muito se discute atualmente sobre o papel do Poder Judiciário no Brasil. Em fins do século XIX, permearam as instâncias e as decisões judiciais ações cíveis cujo objeto era a liberdade de escravos. Sem os meios de comunicação de que hoje dispomos, ainda assim parte da sociedade estava atenta ao assunto. Para além da opinião pública e dos movimentos sociais de então, o trabalho que temos em mãos tem como ponto de partida um elemento bastante presente nas fontes utilizadas para o estudo da escravidão, mas nem sempre em evidência nas investigações relacionadas ao tema: o Estado. De que modo os agentes atuantes na estrutura judiciária do Império lidaram com os processos impetrados pela liberdade de homens e mulheres na condição de escravos? Que instrumental advogados e desembargadores operaram em suas argumentações e decisões?
O livro que nos coloca essas e outras questões é resultado de uma pesquisa de mestrado em História defendida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 2015. Seu autor, Carlos Henrique Antunes da Silva, é formado em Direito, História e Filosofia, adentrando também a Sociologia do Direito neste estudo. O referencial teórico adotado por ele está na obra do sociólogo Pierre Bourdieu, em sua reflexão sobre as representações e relações simbólicas de poder. A noção “campo jurídico”, particularmente, busca dar a ver o movimento de definição do Poder Judiciário durante o Brasil Império, sem deixar de lado as especificidades da época, como a vigência da escravidão de africanos e descendentes. Leia Mais
The War on Sugar: forced labor, commodity production and the origins of the Haitian peasantry, 1791-1843 | Johnhanry Gonzalez
Battle of San Domingo, also known as the Battle for Palm Tree Hill | Pintura de January Suchodolski
Pesquisas sobre a Revolução Haitiana se desenvolveram em ritmo surpreendente na academia nas últimas décadas, diversificando a discussão com variadas perspectivas de análise que muito contribuíram para o amadurecimento deste campo de estudo. Interpretações políticas, econômicas e sociais da antiga colônia de Saint-Domingue se somaram à avaliação dos impactos da revolução escrava em diversos espaços do mundo atlântico. É dentro deste movimento de renovação que se insere a obra de Johnhenry Gonzalez, Maroon Nation: A History of Revolutionary Haiti, adaptação de sua tese de doutorado3.
Publicado em 2019 pela editora da Universidade de Yale, o livro se propõe, antes de tudo, como uma introdução à história inicial do Haiti no século XIX. Preocupado em compreender as persistentes crises de subdesenvolvimento e dependência que atingem este país há décadas, Gonzalez volta à era revolucionária para analisar a emergência do campesinato haitiano, cerne da organização econômica e social do Haiti contemporâneo. Recorrendo a relatos de viajantes, relatórios de países estrangeiros, documentos militares, judiciais e políticos encontrados no Haiti, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, o autor concebe dois caminhos de análise relacionados e centrais para a originalidade da obra: a interpretação alargada da Revolução Haitiana e a tese da nação maroon. Leia Mais
La prensa de Montevideo, 1814-1825 | Wilson González Demuro
Wilson González Demuro | Foto: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad de la República
 Neste livro, Wilson González Demuro analisa o papel da imprensa na criação de um espaço moderno de opinião pública em Montevidéu, integrado ao processo de desconstrução do Antigo Regime na América por suas independências e construção de Estados nacionais, assentados em governos representativos, baseados princípios liberais.
Neste livro, Wilson González Demuro analisa o papel da imprensa na criação de um espaço moderno de opinião pública em Montevidéu, integrado ao processo de desconstrução do Antigo Regime na América por suas independências e construção de Estados nacionais, assentados em governos representativos, baseados princípios liberais.
Um dos alvos de Demuro são as abordagens que consideram os meios de comunicação apenas como fontes ou testemunhos, e não objetos de análise. Colocando-se ao lado de outros historiadores como Noemí Goldman, Fabio Ares, Renán Silva e Fabio Wasserman, Demuro junta-se ao esforço por valorizar “la prensa como fuente histórica” e encará-la como “campo disciplinario”[3].
Para essa renovação da área, Demuro debruça-se sobre uma rica documentação formada sobretudo por periódicos, mas também por memórias, correspondência e documentos oficiais com o propósito de contestar análises anacrônicas e atemporais de “tipos ideais” sobre o tema [4]. Ao tratar a imprensa como objeto de análise, e não um meio ou instrumento, o autor amplia a visão sobre esses veículos, incluindo a análise de sociabilidades associadas à imprensa, presente em sociedades literárias e tipografias, e leva em conta as formas de comunicação escritas e orais que incrementavam o impacto político e social das publicações periódicas. Nesta empreitada, dialoga com a Escola de Cambridge, a História Conceitual de Reinhart Koselleck, as análises de papéis públicos de Roger Chartier e o esquema de perguntas de Harold Lasswell para a definição de uma técnica filológica qualitativa que também tem função quantitativa [5]. Para o contexto ibero-americano, particularmente, os estudos de Fernández Sebastián lhe fornecem bases fundamentais para suas análises, não se esquiva de contribuir com a construção do conhecimento sobre os conceitos políticos publicado nos tomos do Diccionario político y social del mundo ibero-americano [6]. Leia Mais
Horizontes Históricos. São Cristóvão, v. 3, n.1, 2021.
Apresentação
- Horizontes Históricos: Terceira Edição
- Rafael Costa Prata | PDF
Artigos
- A ciência da história, as escolas históricas e o ensino de história nos anos iniciaisAlguns excertos na formação de professores generalistas
- Antonio Carlos Figueiredo Costa | PDF
- A Última MariaAs memórias orais do curta-metragem Castanhalense
- Matheus Oliveira | PDF
- “Formar não só donas de casa, mas também domésticas”Educação para as mulheres na escola doméstica Dona Júlia em Cuiabá – MT (1946-1947)
- Gabriella Moura da Silva, Nilce Vieira Campos Ferreira | PDF
- O “Homem de Ferro” e as representações estereotipadas dos comunistas na Guerra Fria
- Rogério Luís Gabilan Sanches | PDF
Resenhas
- Luz, Câmera E HistóriaPráticas de ensino com o cinema
- Antonio Carlos Figueiredo Costa | PDF
Publicado: 2021-08-17
Estruturas retóricas modelares
ORIENTAÇÕES DE LEITURA E FICHAMENTO PARA REVISÕES DA LITERATURA
Colegas,
Vocês já produziram um perfil da literatura que tangencia ou foca no seu problema central de pesquisa. O passo seguinte é aprofundar revisão, fazendo leituras integrais do material selecionado.
Devemos lembrar que os artigos, dissertações e tesses são longos textos que guardam a mesma estrutura nuclear: questão, argumento e referências.
Assim, todo o trabalho de leitura que vocês vão fazer se resume a encontrar o objetivo central do texto e encontrar a resposta central do texto.
O objetivo central pode estar no título do trabalho, no prefácio, no sumário na apresentação ou na introdução. A resposta central deve estar nas conclusões ou considerações finais.
O objetivo central é estruturado em verbos. Se ele não estiver presente de modo explícito, localize a pergunta central do trabalho e a transforme em objetivo.
A resposta central é estruturada em verbos. É uma declaração afirmativa ou negativa, ou que deixa a questão em aberto. Ela deve ser um argumento, ou seja, uma declaração composta por uma frase conclusiva (afirmação ou negação sobre algo) e por uma frase evidencial (as razões pelas quais o leitor deve acreditar na frase conclusiva).
Uma forma racional e eficaz de encontrar objetivos e respostas centrais é seguindo estes passos:
- Leia os elementos pré-textuais e a introdução.
- Grife objetivo central.
- Leia a conclusão ou considerações finais.
- Grife a resposta central (argumento)
- Compare o objetivo e a resposta.
- Se o autor cumpriu o objetivo, leia os capítulos para listar as vidências.
- Se o autor não cumpriu o objetivo, leia os capítulos para listara falta de evidências.
- Se o autor cumpriu parcialmente o objetivo, leia os capítulos para listar os argumentos acompanhados de evidência e os argumentos que carecem de evidências.
Estas orientações valem para o conhecimento geral do trabalho. mas a sua leitura pode ganhar outra orientação se a sua preocupação for bastante localizada.
Você pode encontrar anotar a pergunta a resposta e se fixar sobre as formas ou o uso das formas de justificar o trabalho, os conceitos, as fontes, as técnicas ou técnicas de investigação, ou o plano de composição da narrativa.
Escolhido o ponto a aprofundar, mãos à obra.
ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO FICHADA
De posse das sentenças colhidas junto aos trabalhos, disponham o material em listas, antecedidas por perguntas ou temas que as classifiquem. Essa tipificação somente você pode fazer.
Pode começar das mais gerais às mais específicas em relação ao seu problema de pesquisa, das mais antigas às mais recentes, das mais distantes espacialmente às mais próximas ao seu objeto. No modelo de redação abaixo vocês encontrarão outros modos de classificar o material.
Repetindo: organize os argumentos coletados em listas, como neste exemplo:
Quais relações os pesquisadores estabelecem entre crenças epistemológicas e ensino de História?
As implicações giram em torno de: 1) possibilidades gerais de obter conhecimento do passado, 2) o papel do historiador na aquisição de conhecimento e 3) a natureza e o uso de evidências e justificativas classificam os três primeiros. (McCrum, 2013, p.x).
Crenças epistemológicas em estreita conexão com os três tipos ideais de posições histórico-teóricas: 1) o positivista e 2) a teoria histórica cética e 3) a posição do construtivismo narrativo como mediador. (Nitsche, 2016, p.x).
Há conexões entre as crenças epistemológicas dos alunos e seu desempenho acadêmico. (Cano, 2005, p.x).
Os alunos com crenças epistemológicas elaboradas foram mais abertos a múltiplas perspectivas e conexões entre diferentes ideias. (Bondy et al., 2007, p.x).
Há indícios de correlações entre dimensões individuais e úteis de conhecimento em alunos (sobretudo na certeza e simplicidade do conhecimento) e sua capacidade de pensar criticamente, selecionar e aplicar metas de competência e entender textos com conteúdo conflitante. (Bråten e Strømsø, 2006, p.x).
Há uma conexão entre as crenças epistemológicas dos professores e seus hábitos de ensino (Muis, 2004, p.x; Yang, Chang e Hsu, 2008, p.x).
Os alunos com crenças mais úteis eram mais propensos a se envolver em atividades de aprendizagem mais criativas e orientadas para a pesquisa. (Tsai e Liang, 2009, px.).
Professores com crenças epistemológicas sofisticadas eram mais propensos a adotar abordagens de ensino. (Brownlee, 2011, px.).
Depois de listar os argumentos, vocês inserem comparam, agrupam, suprimem repetições (incorporando referências ao mesmo argumento) e inserem os operadores argumentativos, de modo a dar sentido ao texto. E ele vai ficar assim:
Crenças epistemológicas e ensino de História
Não há uma única solução certa nem um caminho fixo para uma solução, mas várias possibilidades aceitáveis dependendo da perspectiva, ponto de vista e tarefa. Em uma revisão de 2013 da literatura sobre a natureza da história por McCrum, as discussões giraram em torno das 1) possibilidades gerais de obter conhecimento do passado, 2) o papel do historiador na aquisição de conhecimento e 3) a natureza e o uso de evidências e justificativas classificam os três primeiros.
Como todos esses pontos se sobrepõem constantemente às considerações apresentadas no primeiro capítulo, Nitsche (2016) coloca as crenças epistemológicas em estreita conexão com os três tipos ideais de posições histórico-teóricas: 1) o positivista e 2) a teoria histórica cética e 3) a posição do construtivismo narrativo como mediador.
Estudos já sugeriram que crenças mais úteis estão relacionadas ao uso significativo de estratégias de aprendizagem e aos resultados de aprendizagem de um indivíduo. Cano (2005), por exemplo, foi capaz de identificar conexões entre as crenças epistemológicas dos alunos e seu desempenho acadêmico. Em Bondy et al. (2007), alunos com crenças epistemológicas elaboradas foram mais abertos a múltiplas perspectivas e conexões entre diferentes ideias. Bråten e Strømsø (2006) também encontraram indícios de correlações entre dimensões individuais e úteis de conhecimento em alunos (sobretudo na certeza e simplicidade do conhecimento) e sua capacidade de pensar criticamente, selecionar e aplicar metas de competência e entender textos com conteúdo conflitante.
Além disso, vários estudos foram capazes de mostrar uma conexão entre as crenças epistemológicas dos professores e seus hábitos de ensino (por exemplo, Muis, 2004 ou Yang, Chang e Hsu, 2008). Tsai e Liang (2009) observaram que os alunos com crenças mais úteis eram mais propensos a se envolver em atividades de aprendizagem mais criativas e orientadas para a pesquisa. Brownlee (2011) descobriu que professores com crenças epistemológicas sofisticadas eram mais propensos a adotar abordagens de ensino construtivistas centradas no aluno, enquanto professores com crenças menos elaboradas eram mais propensos a usar práticas centradas no professor e menos ativadoras do aluno. No entanto, as avaliações dos professores e as aulas efetivamente realizadas podem divergir entre si.
Fonte: Excertos colhidos em Pleyer (2022. p.199 – 222).
Encerrado o trabalho de listagem, agrupamento, reagrupamento e construção de blocos, vocês já estão prontos para formalizarem o texto da revisão da literatura, segundo o modelo que se segue.
ORIENTAÇÕES PARA A ESCRITA DO TEXTO REVISÃO DA LITERATURA
[Título: Subtítulo (tempo/espaço)]
[Nome da autoria]
[Filiação institucional]
[Endereço eletrônico da autoria]
Introdução
Neste texto, revisamos a literatura especializada sobre o/a [anuncia o tema], buscando subsídios para responder à seguinte questão: [anuncia a questão do seu projeto de pesquisa]. O trabalho principal do qual este artigo faz parte, é a dissertação de mestrado intitulada [anuncia o título provisório da sua dissertação], desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação [anuncia o nome do programa], sediado na Universidade [anuncia o nome da universidade por extenso e sigla], no biênio [anuncia o ano inicial e o ano final do mestrado].
O levantamento foi efetuado entre [mês e ano iniciais do trabalho] e [mês e ano finais do trabalho]. Fizemos consultas na base de dados [anuncia as plataformas, sites bancos de dados etc.], selecionando textos sob os seguintes critérios: teses e dissertações, publicadas entre [ano inicial de publicação] e [ano final de publicação], produzidos nas áreas de [área científica, domínio acadêmico etc.] e selecionados a partir da presença dos de [lista as palavras-chave que orientaram a busca] como descritores fundamentais.
Resultados
Encontramos [quantidade absoluta] trabalhos que tratam de questões relacionadas ao [tema]. Cerca de [quantidade absoluta/relativa] foram publicados na forma de [gênero]. O restante, [quantidade absoluta/relativa] ganha a forma de [gênero].
No que diz respeito ao [problema principal que orientou esta revisão da literatura], dividimos estes textos entre os que [anuncia um tipo ou classe] e os que [anuncia outro tipo ou classe] OU / dividimos estes textos entre os que foram publicados em [anuncia distribuição espacial], enquanto dos demais [anuncia distribuição espacial] OU / dividimos estes textos entre os publicados até [anuncia distribuição temporal] e os que foram publicados em [anuncia distribuição temporal] OU / dividimos estes textos entre os que abordam objetos to tipo [uma natureza ou circunstância de objeto] e os que focam em [outra natureza ou circunstância de objeto] OU / dividimos estes textos entre os que focam parcialmente o problema [anuncia distribuição por proximidade com o problema] e os que focam de maneira direta.
Os textos que [tipo/espaço/tempo/nível de proximidade] entendem que o problema é causado por [anuncia a causa].
Baseados em pressupostos [anuncia conceitos, princípios ou teorias que fundamentam a solução ao problema], afirmam que a melhor alternativa está em [anuncia os procedimentos a serem tomados e/ou as habilidades, conhecimentos, valores e atitudes a serem desenvolvidos e/ou estimulados].
Sobre os textos que [tipo/espaço/tempo/nível de proximidade], constatamos que eles entendem que o problema é causado por [anuncia a causa].
O resultados de pesquisas deste tipo estão fundamentados no princípio de que [anuncia conceitos, princípios ou teorias que fundamentam a solução ao problema]. Eles afirmam que a saída para [anuncia o problema] é [anuncia os procedimentos a serem tomados e/ou as habilidades, conhecimentos, valores e atitudes a serem desenvolvidos e/ou estimulados].
Discussão
Pelo que descrevemos acima, podemos constatar que as teses e dissertações são dominantemente [possuem ou não possuem relevância social?], abordando questões como [destaca e exemplifica]. O texto de [nome autora], por exemplo, enfrenta o problema de modo original [descreve a originalidade ou outra virtude].
No que diz respeito aos objetos, notamos a [anuncia as presenças dominantes], exemplificáveis em trabalhos de [anuncia autor e trabalho]. Por outro lado, percebemos que o tema da [anuncia o tema/problema] foi pouco explorado pelos trabalhos.
Em termos teóricos, os trabalhos apresentam [variações ou homogeneidades?] que [enriquecem ou empobrecem o campo?}. Um exemplo da [riqueza ou probreza] dos textos está em [nome do autor e do trabalho]. Ele [descreve a originalidade ou outra virtude].
Em termos procedimentais, os trabalhos apresentam [variações ou homogeneidades?] que [enriquecem ou empobrecem o campo?}. Neste sentido, destacamos o [nome do autor e do trabalho] que explora com [descreve a originalidade ou outra virtude].
No que diz respeito às contribuições destes resultados para a construção da nossa pesquisa, constatamos que os textos de [nome/s do/s autor e do trabalho/s] são bastante úteis porque podem [anuncia o que vai incorporar do trabalho lido].
Já o/s texto/s de [anuncia o nome do autor e título do trabalho] podem ser relevantes sob o ponto de vista [anuncia o aspecto do trabalho que vai ajudar você a responder à sua questão de pesquisa].
Conclusões
Com base no que acabamos de relatar, estamos convictos que a literatura especializada oferece subsídios para que enfrentemos o problema da [anuncia o problema] com o emprego de [anuncia os procedimentos, conhecimentos etc.] OU/ Com base no que acabamos de relatar, estamos convictos de que a literatura especializada ainda não oferece subsídios claros para que enfrentemos o problema da [anuncia o problema]. Esse fato nos induz a experimentar a [anuncia procedimentos, conhecimentos etc.], baseados em nossa experiência prática e em analogias com as situações parciais de aprendizagem que foram apresentadas na literatura especializada.
Fontes
Referências
...
1. ESTRUTURA RETÓRICA DO RESUMO SIMPLIFICADO*
NOME, Prenome. Título do artigo. Revista, cidade, volume, número, número das páginas, meses, ano.
O artigo investiga se [apresente a questão ou o objetivo do autor]. Com base em [apresente conceitos, princípios ou teorias que fundamentam o trabalho ao autor], e trabalhando sobre [apresente as fontes de pesquisa empregadas na investigação], o autor conclui que [anuncie a resposta do autor à questão e/ou objetivo anunciada no início do resumo]
(*) Tente não ultrapassar as 150 palavras, inclusas as referências bibliográficas do artigo.
Revista de Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade. Campinas, v.26, n.36, 2021.
Iniciais
Apresentação
- Apresentação
- Hector Benoit
Tradução
- Questão disputada sobre o mal – Q. 6
- Carlos Arthur R. do Nascimento
Artigos
- A prudência e sua natureza tricípite em Aristóteles
- Marco Zingano
- Definindo a verdade 1. Aristóteles e Tarski
- Claudio William Veloso
- Sobre o método na ética a Nicômaco de Aristótelesa necessidade das endoxa
- Reinaldo Sampaio Pereira
- Ciência e opinião nos comentários do século XIII aos Segundos Analíticos
- Anselmo Tadeu Ferreira
Publicado: 2021-08-26
Revista de Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade | Aristóteles | 2021
Diante da irracionalidade que domina o mundo, é importante voltar a Aristóteles. Nesse sentido, fizemos deste número 36 uma publicação temática, centrada em Aristóteles e em diálogo com diversos momentos da sua posteridade. Agradecemos a todos que contribuíram com artigos.
Destacamos entretanto a honrosa contribuição de Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento. Sobretudo pois, além da qualidade de sua contribuição, lembramos que no primeiro número do Boletim do CPA, publicado nos idos de 1996, já constava um artigo de Carlos Arthur. Leia Mais
Programa do curso
Colegas, bom dia!
Sejam bem-vindos ao curso de “Avaliação Educacional”. Espero que todos estejam com saúde e assim permaneçam durante o curso.
Para evitar quebra de expectativas com o nosso curso, leiam a proposta de programa, informando o que a Universidade (o professor) vai oferecer a vocês e o que a Universidade (o professor) está esperando de vocês.
O professor
Meu nome é Itamar Freitas, estou na UFS, como professor, desde 1999. Minha formação está detalhada no Currículo Lattes e as coisas que escrevo estão publicadas na AcademiaEdu.
A natureza metodológica do curso
O curso é estruturado em 30 horas de encontros síncronos (de duas horas, cada encontro) e 30 horas de atividades assíncronas. Trata-se de um empreendimento estruturado em métodos ativos de ensino-aprendizagem. Todo o trabalho de aluno é feito em equipe e os materiais necessários ao desenvolvimento do curso estarão disponíveis no primeiro dia semestre letivo.
Os encontros frente a frente são situações para a discussão e a experimentação, abertos a erros e acertos e à comunicação do não saber, por parte dos alunos, inclusive. O curso, portanto, é mediado por estratégias comuns à “Sala de aula invertida” à “Aprendizagem por projetos” e à “aprendizagem por pares e/ou trios”.
Pré-requisitos para a permanência no curso
Da parte de vocês, espero que estejam predispostos a trabalhar em equipe, já no primeiro encontro, fazer pesquisa bibliográfica, leituras e produção de textos fora do ambiente virtual de aprendizagem, discutir tais produções de modo síncrono, com o professor e com a turma e, por fim, ser avaliados (inclusive com nota válida para a obtenção dos créditos) pelos colegas.
Comprometimentos do professor do curso
Da minha parte, garanto a oferta de literatura especializada e atualizada sobre a matéria do curso (contida no programa e nos anexos), base de dados especializada para as buscas (blog Resenha Crítica organizado pelo professor), espaço virtual de interação (meet, conta pessoal do professor), modelos de gêneros textuais (modelo de resenha, modelo de resumo, modelo de pré-projeto, modelo de revisão da literatura produzidos pelo professor), modelo de itens de prova e modelos de prova produzidos pelo professor), formulários de avaliação da atividade das equipes (produzidos pelo professor) e equacionamento de dúvidas sobre o cumprimento das tarefas (sob a mediação do professor).
Produtos desenvolvidos pelos alunos durante o curso
O curso prescreve a construção de três produtos em equipe: uma resenha sobre manual de avaliação da aprendizagem, produzida e disponibilizada aos colegas em até quatro semanas; uma revisão de literatura sobre determinada demanda por avaliação da aprendizagem nos anos iniciais, construída e disponibilizada aos colegas quatro quatro semanas; e uma proposta de avaliação da aprendizagem (uma prova diagnóstica ou somativa) originada de um problema real, detectado pela equipe, relacionado às competências profissionais dos licenciados em Pedagogia (aprendizagem de leitura e escrita e letramento histórico), construída e disponibilizada aos colegas em quatro semanas. O tempo restante de atividades síncronas será empregado em eventuais apresentações do(s) produto(s) e processos de avaliação da aprendizagem.
Avaliação e notas
Os três produtos serão submetidos à avaliação do professor e da turma. A avaliação do professor é formativa e continuada e a avaliação dos alunos será somativa. As notas totais atribuídas a cada produto variam de 0 a 10 e seguem para o sistema acadêmico.
A avaliação da “resenha”, da “revisão da literatura” e da “prova” é do tipo colaborativo (coavaliação), ou seja, cada equipe vai avaliar o trabalho de todas as outras equipes, mediante formulário fornecido pelo professor, preenchido em datas previamente acordadas e a nota parcial (relativa ao produto) do trio resultará da média simples de todas as notas emitidas pela turma.
A média final do trio (média simples, calculada sobre as três notas referidas) poderá ser contestada ao final, de modo individual. Nesse caso, o aluno fará autoavaliação do seu rendimento durante o curso, empregando os mesmos objetivos e mecanismos das avaliações experimentadas durante o curso.
Bibliografia e auxílios
Todo o material necessário (excetuando-se as escolhas de livro para as resenhas) estão disponibilizados aqui no AVA no Resenha Crítica e distribuídos por unidade.
Itamar Freitas.
São Cristóvão, 25 de agosto de 2021.
Os Governos do Império: Vice-reis, governadores e capitães-mores no mundo português (séculos XVI-XIX) – Trajetórias | Revista Ágora | 2021
Referências desta apresentação
[Os Governos do Império: Vice-reis, governadores e capitães-mores no mundo português (séculos XVI-XIX) – Trajetórias]. Revista Ágora. Vitória, v. 32, n. 2, 2021. Acessar dossiê [DR]
Compondo resenhas para educadores
Jacquin se surpreende com comida japonesa feita no Pará: “Amei” | Imagem: Programa Minha Receita
Já vimos que as resenhas são construídas a partir de um padrão retórico estabelecido no cotidiano de cada domínio acadêmico. Qual seria, então, o padrão retórico da área da Educação?
Genericamente falando, não haveria um padrão para a área da Educação porque a própria expressão já sugere o encontro de diferentes domínios acadêmicos, tais como: Psicologia, Sociologia, História, Medicina e várias das Neurociências. Podemos, entretanto, adquirir alguma noção de como os profissionais com formação inicial e pós-graduada em Educação operam quando querem atribuir valor a uma obra.
Vejamos o exemplo o caso da Revista Brasileira de Educação. Em resenhas publicadas nesse periódico, as unidades de informação mais frequentes são coincidentes com outros modelos retóricos: nome do autor, título da obra, objeto do conhecimento, questões centrais, objetivo do autor, trajetória acadêmica do autor, contexto de produção, plano da obra, resumo de parte, resumo do todo, teses, virtudes, vícios e eventuais benificiários da leitura da obra resenhada.
Observe que essa sequência de unidades de informação já é um modelo triádico:
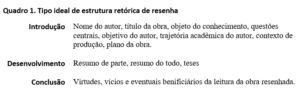
É necessário advertir, contudo, que os modos de distribuir tais unidades variam de autor para autor. Em 100 resenhas publicadas, é possível identificar aproximadamente 80 modos de disposição dessas mesmas unidades de informação.
Em muitos casos, a criatividade e a intrusão do resenhista motivam a criação de uma nova forma de composição. Por ora, reiteramos apenas que uma boa forma de garantir essa qualidade é cumprir três movimentos, respondendo: o que disse o autor, o que ele quis dizer com aquelas ideias e qual o valor dessas ideias.
Para além dos modos de organizar essas unidades de informação, somos impelidos a observar as regras da língua portuguesa: a ordem das palavras na construção da frase (sujeito, verbo e complemento), o emprego de palavras e expressões que relacionam ideias (indicadores de coordenação e de subordinação), a necessidade de iniciar o parágrafo com uma declaração principal (o tópico frasal), de construir significados coesos e coerentes (indicadores de ordenação por tempo e espaço, indicadores de causa e consequência, diferença e semelhança, início e fim) (Garcia, 2011). Por isso, não tenham pudor em reabrir os livros do ensino médio.
Revisadas estas regras da norma culta e de posse das unidades de informação e de uma estrutura retórica ideal para gênero, vocês podem começar refletindo sobre os dois primeiros parágrafos. O que devem conter?
Os parágrafos 1 e 2 de uma resenha são fundamentais para o engajamento do leitor. Resenhista que não informa imediatamente do que trata a obra está fadado a não ser lido ou ser lido com má vontade e às pressas.
Por isso, fujam das intrusões que declarem obviedades e/ou que não contribuam diretamente para a compreensão do texto e do valor da obra resenhada. Evitem iniciar a resenha com citação direta à obra resenhada, com epígrafes do seu filósofo favorito, com generalizações do senso comum (“Em um mundo globalizado, todo cidadão deve...”) e, principalmente, as intrusões autobiográficas: “O que me levou a ler esta obra foi...”; “Evidentemente, não é possível comentar toda a obra nesta resenha...”; “Após a leitura desta obra, me senti completamente...”; “Quando entrei em sala de aula, pela primeira vez...”. Para efeito de exercício, neste curso, habituem-se a distribuir de quatro a oito unidades informações (referidas acima) entre o primeiro e o segundo parágrafo.
Observem essas três maneiras de combiná-las. Se quiserem, criem uma quarta combinação e escrevam os seus primeiros parágrafos.
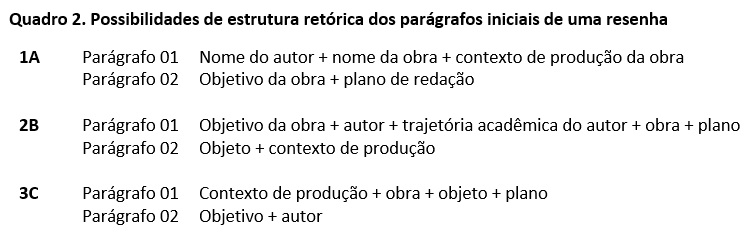
Se o livro já está lido (evidentemente), vocês já têm uma noção da sua qualidade, ou seja, podem estimar a sua utilidade para a formação de determinado aluno, a empregabilidade para determinado profissional, o seu grau de inovação para determinado domínio acadêmico.
Mesmo que desconheçam em grande parte as teses do assunto lido, é muito provável que consigam julgar se o autor cumpriu os objetivos anunciados (se foi eficiente), se os cumpriu com os melhores meios, isto é, se facilitou a vida do leitor em termos retóricos, oferecendo exemplos, glossário, notas (se foi eficaz) e se procedeu com ética (indicando as fontes e a bibliografia e citando princípios e autores representativos no assunto ou domínio).
Se esse valor geral que povoa a mente de vocês já lhes possibilitam sugerir a apropriação das ideias do livro por um leitor potencial, por que não esboçar, agora, o final da resenha?
Sugerimos, então, que construam, provisoriamente, os dois parágrafos finais, lembrando-se de evitar as intrusões. Mas elas podem confundir mais que ajudar. O que deve ficar em suas mentes (segundo a meta inicial perseguida pelo resenhista), repetimos, são as informações sobre o que disse o autor, o que quis dizer com aquelas proposições e qual o valor das coisas que disse para certo leitor potencial.
Observem essas três maneiras de combinar as unidades de informação mais frequentes nas resenhas da RBE. Como já anunciamos, vocês também podem criar uma quarta ou quinta combinação com os mesmos elementos.
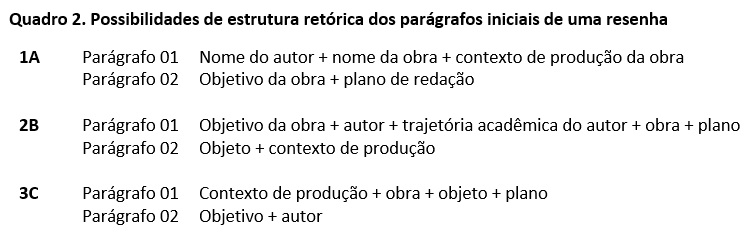
Com início e fim esboçados, seus fragmentos de resenha já podem ganhar a forma de uma narrativa. Leiam os quatro parágrafos sem interrupção e façam, autoavaliações: “Os parágrafos fazem sentido? Eles são coerentes e coesos?”
Se a resposta pessoal for sim, provavelmente, o seu texto inicial conterá o seguinte enunciado: “Fulano escreveu tal livro, que trata de tal assunto, de tal maneira e possui tais e tais vícios e virtudes, podendo ser lido, principalmente, por tal ou tal interessado neste objeto.”
Reconhecemos que escrever o fim, antes do chamado desenvolvimento, não é um procedimento usual. Se vocês não se adaptarem à proposta, poderão escolher entre outras orientações disponíveis na bibliografia sobre resenhas acadêmicas. Mais importante que cumprir a tarefa é fazê-lo, descobrindo a forma como melhor cumpre o objetivo do curso.
Em qualquer estratégia, contudo, o texto intermediário (entre os parágrafos iniciais e finais), como descrito na estrutura retórica acima, poderá progredir de maneira vária e ganhar extensão também variável. Na experiência que colhemos da RBE, as combinações mais frequentes estão dispostas no quadro 3.
Atentem para a idealidade das estruturas. Entendam que o número de quatro parágrafos não é regra. A extensão das resenhas é determinada pelos projetos editoriais de cada periódico. Para no nosso curso, aceitamos resenhas que possuam entre 800 e 1200 palavras (inclusos o título da resenha, informações sobre o resenhista e referências da obra resenhada). Isso significa que o número de parágrafos intermediários pode chegar a dez.
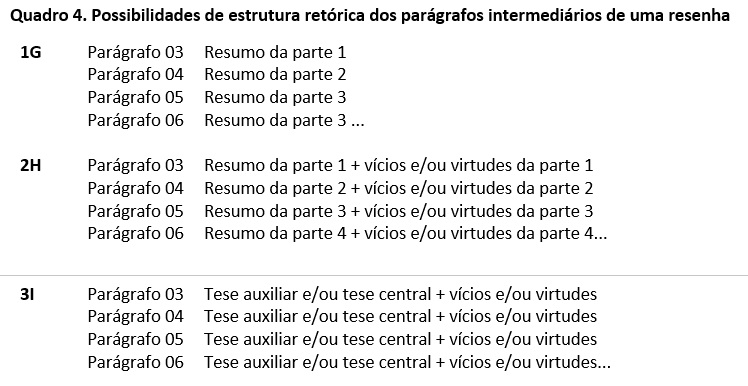
Agora que vocês conhecem minimamente as unidades de informação e a estrutura retórica de resenha extraídas de um periódico educacional, sugiro que apliquem tais conhecimentos na elaboração da resenha do livro escolhido sobre Avaliação da Aprendizagem.
Com a replicação de três ou quatro exercícios deste tipo, a combinação aplicada ficará tediosa. Para evitar o enfado e o desprazer, experimentem novas estruturas retóricas. Em anexo, apresentamos três possibilidades de cruzamentos, mas elas podem chegar a nove, apenas com o emprego das unidades de informação apresentadas neste texto.
Bom trabalho!
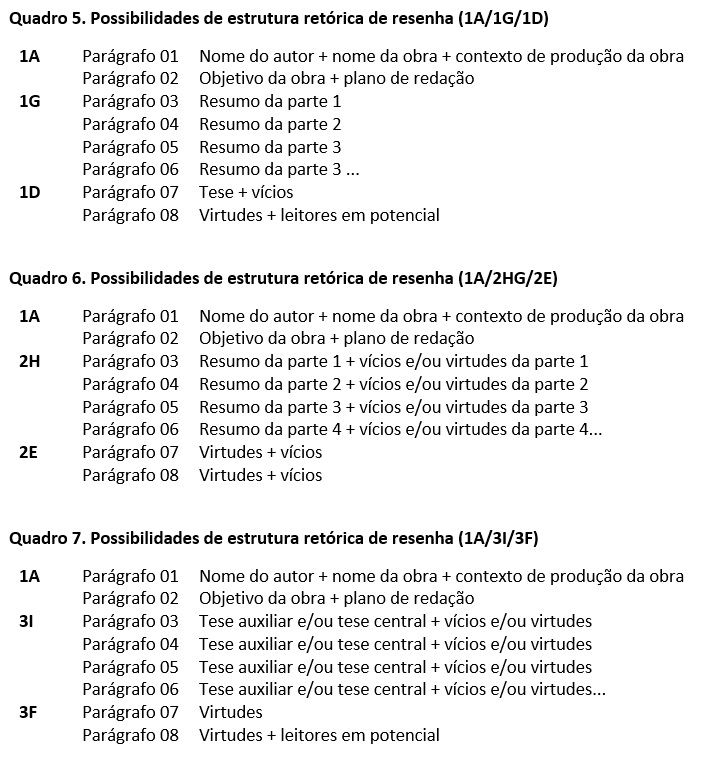
Referências
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprendendo a escrever. 27ed. Rio de Janeiro: FGV, 2020.
Para citar este texto:
FREITAS, Itamar. Compondo resenhas para educadores. Resenha Crítica. São Cristóvão, 23 ago. 2021. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/todas-as-categorias/compondo-resenhas-para-educadores/>
Medindo as palavras
Leonardo | Imagem: Facebook
Vocês esboçaram a primeira versão resenha. Suponho que tenham sentido alguma dificuldade na escolha das palavras ou que tenham se arrependido de empregar algumas delas. Há termos repetidos em excesso? Há termos imprecisos, inadequados e até palavras que podem gerar algum constrangimento por parte do leitor?
Se vocês não encontraram problemas do gênero, ofereçam o seu texto ou “segmento de texto” para o colega do grupo. Considerem a sua apreciação. É provável que ele encontre uma mudança abrupta de assunto ou a ausência de uma progressão lógica de um parágrafo ao outro.
Essas imperfeições podem ser minoradas com a criação e o manuseio de um glossário de verbos, substantivos, adjetivos e expressões empregáveis para nos referirmos ao autor, à obra, às coisas que o autor faz ou diz e ao valor da obra resenhada.
Para anunciar o autor, vocês podem usar, quando conveniente e adequado, as seguintes expressões: “o autor”, “o organizador”, “o coordenador”, “o editor”, “o compendiador”, “o diretor”, “ele”, “o pesquisador”, “o acadêmico”, “o professor”, “o especialista”.
Evitem o excesso de intimidade como chamá-lo pelo prenome (“Itamar”), ao invés do nome autoral (“Freitas”). Evitem a monotonia causada pela referência o nome completo todo o tempo (“Segundo Itamar Freitas…”, “Itamar Freitas afirma…” etc. ). Evitem, ainda, o estranhamento ou o distanciamento em excesso ao chamá-lo, apenas pelo nome autoral, desde o primeiro parágrafo da resenha (“Freitas é autor de…”).
Quando mencionarem a obra pela primeira vez, usem o título completo. Na sequência, podem referi-la por meio de expressões do tipo: “o livro”, “o texto”, “o trabalho”, “o resultado da pesquisa”, “o título” e, quando adequado, “a coletânea”, “a coleção”, “o e-book”, “a brochura”, “a parte”, “a seção”, “o capítulo”, “o tópico” e “grupo de parágrafos”.
Quando se referirem à obra para anunciar o plano geral ou resumir partes, fiquem livres para empregar a voz ativa, a voz passiva ou explorar a impessoalidade: “O livro reúne nove textos…”; “Neste livro, foram reunidos nove textos…”; “Neste livro, o autor reuniu nove textos”; “Trata-se da reunião de nove textos…”.
Nas referências às coisas que o autor faz ou diz, as palavras, em geral, estão relacionadas aos principais atos do autor ao produzir um livro. Vocês podem iniciar a frase, empregando a metonímia, substituindo, por exemplo, o “Freitas afirma” por “A obra afirma…”.
Um procedimento que auxilia bastante a descrição sobre os ditos e feitos do autor na obra é a empatia. Imaginem-se autores em produção. Vocês provavelmente, iriam declarar objetivos, problematizar, delimitar o tempo e o espaço da pesquisa, inventariar, analisar e interpretar fontes e bibliografia, selecionar e operar categorias e métodos, elaborar hipóteses, contestar, apoiar, demonstrar ou confirmar teses anunciadas na bibliografia da área, sintetizar, deduzir em forma de proposições, princípios ou novas hipóteses e selecionar os melhores exemplos e argumentos retóricos para convencer e persuadir o leitor.
Esses procedimentos clássicos da pesquisa e escrita acadêmica já oferecem o glossário básico que vocês empregarão na resenha. Os verbos possíveis de emprego na resenha, reiteramos, já estão previamente delimitados pelo domínio acadêmico no qual se situa a obra a ser resenhada. O máximo que vocês podem fazer, em termos de criação, é variar nos sinônimos de cada ação intelectual, como exemplificamos no quadro 1.
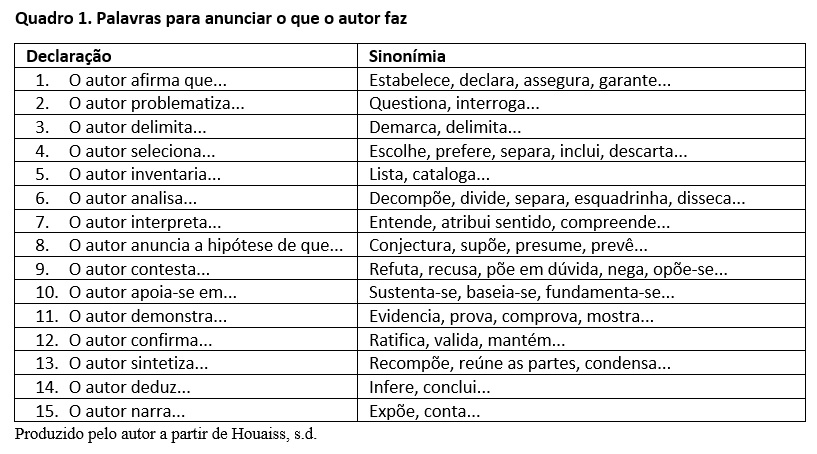
Se vocês têm dúvidas sobre a limitação desse glossário, tentem expor os objetivos, o plano ou as principais proposições da obra que acabaram de ler. Para declarar os objetivos da obra, servem, por exemplo, as orações 9 e 11: “O objetivo do autor é refutar a tese de que…” (9); “A meta da obra é demonstrar que…” (11)
Idêntica operação ocorre durante o anúncio do plano geral da obra, das suas proposições centrais ou do conteúdo de cada uma das suas partes: “A obra está dividida em…” (6); “No capítulo primeiro, o autor narra a…”; “No capítulo segundo, o autor analisa…”; “Nas conclusões, o autor reitera que…” (12)
Para anunciar o valor da obra, as palavras mais empregadas, obviamente, são os adjetivos. No entanto, neste exercício, preocupam-nos muito mais as regras de convivência que a objetividade da qualificação da natureza e dos usos que o autor faz dos seus problemas, hipóteses, teses, fontes, categorias, métodos e teses. Como afirmam D. Motta-Roth e e G. Rabuske Hendges (2020, p.116), “Deve-se tentar ser ‘polido’, evitando agredir o autor da obra resenhada”.
Para evitar esse constrangimento, as autoras sugerem duas saídas: o emprego de expressões parcimoniosas, o uso do verbo no futuro do preterido:
Parece-me que falta ao texto de Fontes um tratamento mais detalhado da estrutura sindical oficial…;
O enfrentamento dessas indagações permitiria… (Motta-Roth; Hendges, 2020, p.116).
Na primeira situação exemplificada, o resenhista detectou uma lacuna grave, mas atenuou com um “parece-me” (o que ele efetivamente sabia que estava ausente na obra). Na segunda, o resenhista efetivamente reprova a conduta do autor, mas prefere dizer que ele “poderia” proceder da maneira que o seu crítico considera como correta.
Aos procedimentos sugeridos por Motta-Roth e Hendges, acrescentemos três outros caminhos que podem atenuar os efeitos do anúncio de pontos negativos da obra. Observe este exemplo:
Evidentemente, é louvável o propósito de melhorar a qualidade dos cursos de doutorado, e mais ainda, de que isso possa ser alcançado por diferentes países. Também o é a promoção do intercâmbio, seja de pesquisadores, de programas de doutorado, e o fortalecimento das relações entre vida social, política, econômica e cultural e a produção do conhecimento por parte das universidades. Todavia, o modelo esbarra em problemas […]. Isso não invalida a perspectiva de que pesquisadores no campo das ciências humanas trabalhem com grupos de doutorandos em torno de um ou mais projetos de pesquisa que permitam trabalho articulado de natureza interdisciplinar e/ou interinstitucional. Mas tal proposição não pode constituir uma camisa de força, como a concepção do modelo indica.” (Ferretti, 2011).
Nesta terceira situação, o resenhista apresenta um ponto positivo para demonstrar o equilíbrio da sua apreciação. O que realiza, efetivamente, porém, é uma crítica contundente às posições dos autores. Agindo assim, ele não pode ser acusado de parcialidade por causa das duas ponderações iniciais, mas não deixa de demonstrar sua visão (contrária à professada pela obra) e, ainda, de exibir erudição, apontando fragilidades na obra.
Os dois exemplos que se seguem apresentam uma quarta situação. Nela, os resenhistas moderam o tom da crítica com a apresentação de um ponto positivo imediatamente antes ou após o anúncio do ponto negativo. Eles sugerem que as “faltas e silêncios” e os comprometimentos à “uma conclusão mais objetiva” são vícios inerentes ao gênero “introdução” e vícios circunstanciais, decorrentes da ausência de fontes e não dos autores que escreveram um exemplar do gênero “introdução”.
O livro percorre praticamente dois séculos da história do Brasil focado nas transformações ocorridas no campo educacional […] sem contudo estabelecer correções diretas entre esses eventos e os demais processos em curso no Brasil […] Em suma, quem não souber um pouco de história do Brasil terá séries dificuldades para articular o narrado do texto com as diversas conjunturas experimentadas pela sociedade brasileira. E quem souber terá de deduzir os modos como se articulam […]. Trata-se basicamente de um livro de introdução, conciso, e como tal incorre em faltas e silêncios. Pode ser indicado como parte de uma bibliografia sobre a história da profissão docente, mas não necessariamente.” (Silva, 2011).
Por fim, se há uma crítica, ela deve-se à inexistência de dados sobre o destino profissional dos ex-alunos, o que não compromete uma conclusão mais objetiva sobre a redução das desigualdades sociais que poderiam ser atribuídas à passagem pelo ensino superior. (Perosa, 2016).
O último exemplo representa um quinto modo de suavizar crítica. Observe que o resenhista encerra o seu texto com uma série de questões para as quais o autor não oferece soluções. A crítica, contudo, é atenuada com uma adversativa, seguida de um elogio protocolar (já que quase toda obra “alimenta o debate”).
A respeito da pauta educacional, resta-nos ainda inquirir se esta possui de fato capacidade aglutinadora diante da diversificação dos inúmeros movimentos sociais. E seria ela sustentável temporal e politicamente? Processaria uma reconfiguração do papel do Estado e da gestão da educação nesse novo contexto? Além disso, no quadro geral, como podemos analisar a participação no interior da gestão educacional? A obra não responde a essas questões, mas alimenta o de até e convida a novas contribuições. (Assis, 2020).
Já tratamos das palavras adequadas e mais frequentes para anunciar a obra, o autor, as metas, plano e proposições da obra resenhada. Vamos encerrar este texto com as palavras empregadas na “crítica” à obra.
Para este procedimento, os termos são muito mais numerosos que os verbos indicadores da ação do autor. Em geral, são empregados para atribuir valor à natureza do objeto criticado e/ou das funções que esse objeto pode preencher no domínio acadêmico: eles declaram um juízo: a coisa “é” e/ou a coisa “serve para”. O “serve para” é a identificação dos fatos que a leitura da obra pode desencadear na vida do leitor que a consome, seja ele um iniciante, seja ele um profissional.
Há várias formas de manifestar um juízo. Vejamos três. Quando dizemos que “Fazer resenhas é uma tarefa simples” ou “Fazer resenhas não é um procedimento prazeroso”, estamos expressando juízos qualitativos. Estamos anunciando, em síntese, a existência (a chatice) ou a inexistência (o prazer) de alguma coisa (a tarefa de escrever resenhas).
Quando anunciamos que “todos os professores de resenhas são incompetentes” ou que “somente a mínima parte dos professores de resenhas oferecem modelos” para escrever resenhas, estamos expressando juízos quantitativos.
Quando, por fim, anunciamos que “essa disciplina vai nos auxiliar a escrever resenhas”, que “essa disciplina, provavelmente, vai nos auxiliar a fazer resenhas” ou que “essa disciplina, necessariamente, vai nos auxiliar a fazer resenhas”, estamos expressando juízos modais (Cf. Mora, sd).
Resumindo, em quaisquer das situações comunicativas onde somos convidados a manifestar nossa posição, mesmo quando pensamos não fazer crítica, como no oferecimento da obra à leitura e na indicação dos seus leitores potenciais, estamos anunciando juízos: “o livro é um guia em termos de…”; “o livro é referência para…”; “O livro contribui com…”; “O livro será útil para…”; “O livro é um grande aporte para…”; “O livro é provocativo…”; “Professores podem se beneficiar com a leitura…”. Dizendo de outro modo, em qualquer declaração, empregamos afirmações e negações, acompanhadas de grandezas (extenso/curto, raso/profundo, largo/estreito, cheio/vazio, alto/baixo etc.) e de graus de certeza (possível, provável, necessário etc.).
Essas três categorias de juízo são muito empregadas pelos resenhistas da Revista Brasileira de História (RBE). São juízos deste tipo que solicitamos o emprego nas resenhas, mesmo que eles ganhem outra estrutura sintática na redação final, como neste exemplo onde a resenhista traduz a declaração mental “a análise é aprofundada” de modo mais alongado: “Rui Trindade […] brinda-nos com uma aprofundada análise dos principais desafios pedagógicos postos hoje às instituições de ensino superior” (Pachane, 2011).
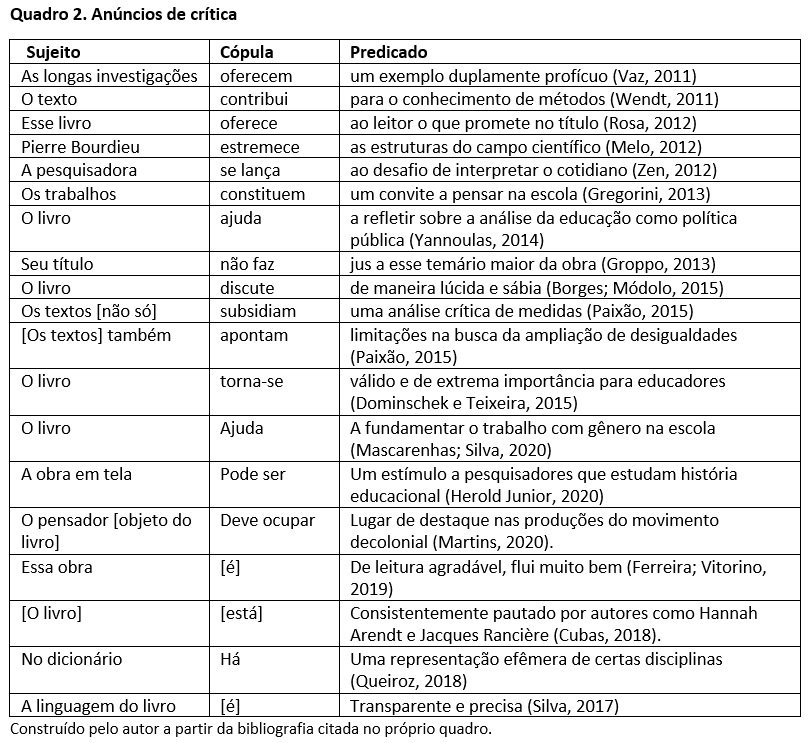
Os anúncios do quadro 1 são somente exemplos. Vocês podem criar à vontade. Podem, inclusive, combinar orações e estabelecer paralelismos entre coisas “boas” e coisas “ruins” que caracterizam o livro.
Acima, vimos que um procedimento para atenuar o anúncio de “pontos negativos” da obra é informar simultaneamente, um vício acompanhado de uma virtude. Aqui, podemos empregar idêntica estratégia para reforçar a positividade da obra. O conjunto curinga de palavras é: “não somente, mas também…”
Observe o seguinte exemplo:
Ao longo de todo o livro, a biografia dos intelectuais envolvidos na gestão da universidade é empregada não para reforçar o imaginário das figuras míticas de uma história, mas para restituir a lógica dos investimentos individuais na instituição. (Perosa, 2016).
Em apenas um trecho de parágrafo, percebemos a aplicação de dois procedimentos que devemos replicar. O resenhista informa ao leitor sobre parâmetros e razões da crítica e, consequentemente, amplia o efeito que o comentário positivo pode provocar na sua mente.
Para encerrar, sugerimos que retenham este princípio: toda vez que afirmarem ou negarem algo, deverão apresentar as bases desse julgamento. Ao dizer, por exemplo, que um livro é “excelente”, vocês terão que declarar as razões e os parâmetros que os levaram a anunciar esse juízo (excelente – superior aos do gênero), ou seja, deverão mencionar a regra e/ou o autor da regra que considerou a presença de atributo em uma obra como traço de excelência.
Agora que encerraram a leitura, sugiro que revisem a primeira versão da resenha, façam as devidas substituições e publiquem a resenha no formulário respectivo.
Bom trabalho.
Referências
ALARCÃO, Isabel; CANHA, Bernardo. Supervisão e colaboração: uma relação para o desenvolvimento. Porto: Porto Editora, 2013. 127p. Resenha de: SILVA, Luciana Mesquita da. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.22, n.68, jan./mar. 2017.
ARROYO, M. G.. Passageiros da noite: do trabalho para a EJA. Itinerários pelo direito a uma vida justa. Petrópolis: Vozes, 2017. 294p. Resenha de: FERREIRA, Edna Maria de Oliveira; VITORINO, César Costa. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.24, 2019.
BALL, Stephen J. Education plc: Understanding private sector participation in public sector education. London: Routlege, 2007. 216p. Resenha de: ROSA, Sanny Silva da. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.17, n.49, jan./abr. 2012.
BOURDIEU, Pierre. Homo academicus. Tradução: Ione Ribeiro Valle. Nilton Valle; revisão técnica: Maria Tereza de Queiróz Piacentini. Florianópolis: Editora da UFSC, 2011, 314p. Resenha de: MELO, Marilândes Mól Ribeiro de Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.17, n.50, maio/ago. 2012.
BOWERSOX, J.. Raising Germans in the age of empire: youth and colonial culture, 1871-1914. Oxford: Oxford University Press, 2013. Resenha de: HEROLD JUNIOR, Carlos. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.25, 2020.
CALDERÓN, Adolfo Ignacio; SILVA, Elza Maria Tavares; BATISTA, Maria Angélica; GRITTI, Neusa Haruka Sezaki. Gestão educacional: amigos da escola em ação. Campinas: Alínea, 2013. 172p. Resenha de: GROPPO, Luís Antonio. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.19, n.59, out./dez. 2014.
ERAD, Maresi; HEGGELUND, Mimi (eds.) Toward a Global PhD? Forces & Forms in Doctoral Education Worldwide. Seattle, USA: University of Washington Press, 2008, 344. Resenha de: FERRETTI, João Celso. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.16 n.47, maio/ago. 2011.
FINOCCHIO, Silvia; ROMERO, Nancy (Comp.). Saberes y prácticas escolares. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2011. 200 p. (Pensar la educación. FLACSO. Área educación). Resenha de: GREGORINI, Vanesa M. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.18, n.53 abr./jun. 2013.
GOHN, M. G. Participação e democracia no Brasil: da década de 1960 aos impactos pós-junho de 2013. Petrópolis: Vozes, 2019. 294p. Resenha de: ASSIS, Tauâ Carvalho de. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.25, 2020.
HOUAISS, Antonio. Grande Dicionário. São Paulo, sd. Disponível em <https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v5-4/html/index.php#5>
KRAWCZYK, Nora Rut; VIEIRA, Vera Lúcia. Uma perspectiva histórico-sociológica da reforma educacional na América Latina: Argentina, Brasil, Chile e México nos anos 1990. Brasília: Liberlivro, 2012, 164p. Resenha de: YANNOULAS, Silvia Cristina. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.19, n.57, abr./jun. 2014.
LEITE, Carlinda (Org.). Sentidos da pedagogia no ensino superior. Porto: CIEE; Livpsic, 2010. Resenha de: PACHANE, Graziela Tiusti. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.16, n.48, set./dez. 2011.
LINS, B. A.; MACHADO, B. F.; ESCOURA, M.. Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola. São Paulo: Reviravolta, 2016. 142p. Resenha de: MASCARENHAS, Suely Aparecida do Nascimento; SILVA, Adan Renê Pereira da. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.25, 2020.
MASSCHELEIN, J.; SIMONS, M.. A pedagogia, a democracia, a escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. CUBAS, Caroline de Jesus. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.23, 2018.
MORAIS, Regis de. Um abominável mundo novo? O ensino superior atual. São Paulo: Paulus, 2011. 159pp. Coleção Educação Superior. Resenha de: BORGES, Maria Célia; MÓDOLO, Claudenir. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.20, n. 60, jan./mar. 2015.
MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. Lisboa: Dom Quixote, 1978.
MOTA, S.. Manoel Bomfim: autêntico pensador latino-americano. Florianópolis: Insular, 2015. Resenha de: MARTINS, Adriano Euripedes Medeiros. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.24, 2019.
MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na Universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2020.
NERAD, Maresi; HEGGELUND, Mimi (eds.). Toward a Global PhD/ Forces & Forms in Doctoral Education Wordwide. Seattle: University of Washington Press, 2008. 244p. Resenha de: FERRETTI, Celso João. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.16, n.47, maio/ago. 2011.
Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). The nature of learning: using research to inspire practice. Paris: OECD, 2010, 342 p. (A natureza da aprendizagem: utilizando a pesquisa para inspirar a prática). Resenha de: WENDT, Guilherme Welter. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.16, n.48, set./dez. 2011.
REUTER, Yves. Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques. 3. ed, Bruxelles: De Boeck, 2013. 280p. Resenha de: QUEIROZ, Kauê Fabiano da Silva. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.23, 2018.
ROMANELLI, Geraldo; NOGUEIRA, Maria Alice; ZAGO, Nadir (Orgs.). Família & escola: novas perspectivas de análise. Petrópolis: Vozes, 2013. (Ciências da educação). Resenha de: PAIXÃO, Lea Pinheiro. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.20, n.62, jul./set. 2015.
SAVIANI, Dermeval; DUARTE, Newton (Orgs.). Pedagogia histórico-crítica e luta de classes na educação escolar. Campinas: Autores Associados, 2012. 184p. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo). Resenha de: DOMINSCHEK, Desiré Luciane; TEIXEIRA, Ana Laura da Silva. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.20, n.63, out./dez. 2015.
SCHNEIDER, Michel. Ladrões de palavras: ensaio sobre o plágio, a psicanálise e o pensamento. Tradução de Luiz Fernando P. N. Franco. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990, 503 p. (Coleção Repertórios). Resenha de: VAZ, Alexandre Fernandes. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.16, n.48, set./dez. 2011.
SOULIÉ, Charles. Un mythe à détruire? Origenes et destin du Centre Universitaire Experimental de Vincennes. Parisj: Preses Universitaires de Vincennes, 2012. 488p. Resenha de: PEROSA, Graziela Serroni. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.21, n.64, jan./mar. 2016.
SOULIÉ, Charles. Un mythe à détruire? Origines et destin du Centre Universitaire Expérimental de Vincennes. Paris: Presses Universitaires de Vincennes, 2012. 488p. Resenha de: PEROSA, Graziela Serroni. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.21, n.64, jan./mar. 2016.
STECANELA, Nilda. Jovens e cotidiano: trânsitos pelas culturas juvenis e pela escola da vida. Caxias do Sul: EDUCS, 2010, 368p. Resenha de: ZEN, Alessandra Chaves. Revista Brasileira de Educação vol.17 no.51 Rio de Janeiro set./dez. 2012.
VICENTINI, Paula Perin; LUGLI, Rosário Genta. História da profissão docente no Brasil: representações em disputa. São Paulo: Cortez, 2009. 234p. Resenha de: SILVA, Maria de Lourdes da. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.16, n.47, maio/ago. 2011.
VICENTINI, Paula Perin; LUGLI, Rosário Genta. História da profissão docente no Brasil: representações em disputa. São Paulo: Cortez, 2009, 234p. Resenha de: SILVA, Maria de Lourdes da. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.16, n.47, maio/ago. 2011.
Para citar este texto:
FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Maria Margarida Dias de. Medindo as palavras. Resenha Crítica. São Cristóvão, 23 ago. 2021. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/todas-as-categorias/medindo-as-palavras/>